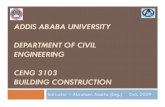2 ato omenelick
-
Upload
valeria-grzywacz -
Category
Documents
-
view
241 -
download
8
description
Transcript of 2 ato omenelick

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS 1

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS2

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS 3
GUMA flickr.com/gumafotografias

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS4
exped
iente
No último mês de maio de 2012 a revista O MENELICK 2º ATO
completou dois anos de trabalhos dedicados à valoriza
ção
e reflexão acerca da produção artística da diáspora
africana, bem como das manifestações culturais popular
e urbana do ocidente negro, com especial destaque
para o Brasil. Isso não quer dizer m
uita coisa é verdade.
Mas para nós, sim! E nossa felicidade é tamanha
que tivemos que dobrar o tamanho da revista para
que pudéssemos compartilhar com vocês pelo
menos parte dos nossos efusivos sentimentos.
Agradecemos o olhar sempre atento e carinhoso
dos amigos e leitores, o comprometimento
dos colaboradores, a força inspiradora dos
protagonistas culturais das bordas das
grandes cidades e a todos que, assim
como nós, acreditam no poder
transformador da cultura. Sem
vocês, O MENELICK 2º ATO não
seria possível e tão pouco teria
sentido. Boa Leitura!
A revista O MENELICK 2° A
TO é uma publica
ção
trimestra
l da MANDELACREW
COMUNICAÇÃO E FOTOGRAFIA
Rua Roma, 80 – sala 144
CEP. 09571-220 - S
ão Caetano do Sul/ SP
TEL. (11) 9651 81 99
revista@omenelick2
ato.com
DIRETOR
NABOR JR I MTB 47.678
naborjr@omenelick2
ato.com
COMERCIAL
MARIA CECÍLIA BRAGA
comercial@omenelick2
ato.com
PROJETO GRÁFICO
NABOR JR.
DIAGRAMAÇÃO
EDSON IKÊ
CONSELHO EDITORIAL
NABOR JR. I RENATA FEL
INTO I ALEX
ANDRE BISPO
CHRISTIANE GOMES
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM centro
s cultura
is, galerias
de arte, casas no
turnas, sh
ows, feiras, lo
jas, festiva
is,
becos, favelas, vi
elas e zonas de conflito.
CEIÇA FERREIRA | CHRISTIANE G
OMES | CUTI | ELIZANDRA SOUZA
HILDA SOUTO | JUN ALCANTARA | LUCIANE RAMOS SILVA
MÁRCIO MACEDO (KIBE) | RENATA FELINTO
ARTISTAS CONVIDADOS: EDSON IKÊ | MIRO
CAPAFesta de São João, 1961Heitor dos Prazeres (1898 - 1966) Óleo sobre papel38 x 79 cm
“Uma andorinha só não
faz verão, m
as pode
acordar um bando todo”.
Binho (Robson Padial),
do Sarau do Binho

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS 5
No último mês de maio de 2012 a revista O MENELICK 2º ATO
completou dois anos de trabalhos dedicados à valoriza
ção
e reflexão acerca da produção artística da diáspora
africana, bem como das manifestações culturais popular
e urbana do ocidente negro, com especial destaque
para o Brasil. Isso não quer dizer m
uita coisa é verdade.
Mas para nós, sim! E nossa felicidade é tamanha
que tivemos que dobrar o tamanho da revista para
que pudéssemos compartilhar com vocês pelo
menos parte dos nossos efusivos sentimentos.
Agradecemos o olhar sempre atento e carinhoso
dos amigos e leitores, o comprometimento
dos colaboradores, a força inspiradora dos
protagonistas culturais das bordas das
grandes cidades e a todos que, assim
como nós, acreditam no poder
transformador da cultura. Sem
vocês, O MENELICK 2º ATO não
seria possível e tão pouco teria
sentido. Boa Leitura!
CEIÇA FERREIRA | CHRISTIANE G
OMES | CUTI | ELIZANDRA SOUZA
HILDA SOUTO | JUN ALCANTARA | LUCIANE RAMOS SILVA
MÁRCIO MACEDO (KIBE) | RENATA FELINTO
ARTISTAS CONVIDADOS: EDSON IKÊ | MIRO
Á PROCURA DE UMA IMAGEM 6 | MEMÓRIA AFRODESCENDENTE NO CORPO E NA ALMA 10 | PALAVRAS CERTEIRAS 15 | TRAJETOS 18
MAIS UMA DOSE 19 | ARTE TÊXTIL 20 | QUINTETO ABANÃ 23 | CONACRY EM MOVIMENTO 26 | A NOVA ETIQUETA DAS RUAS 30

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS6
TEXTO CEiça FErrEira
à procuraDE uma imagEm
Se atualmente temos diversos estudos e pesquisas que discutem as representações da população negra nos meios de comunicação, no cinema e nas artes, isso é certamente uma conquista da luta de várias lideranças, estudiosos e autores negros, que se atentaram para a produção simbólica como um espaço privilegiado de reconhecimento das identidades, e também um continuum das relações de poder.
Dentre tantas figuras importantes, vale lembrar a trajetória intelectual e a história de vida da historiadora, ativista e poeta Maria Beatriz Nascimento, com sua pesquisa sobre os quilombos, suas reflexões acerca do racismo e da situação da mulher negra no Brasil, e principalmente sua colaboração no documentário Ôrí, lançado em 1989.
Beatriz Nascimento nasceu em Sergipe, em 1942, e aos sete anos migrou com a família para o Rio de Janeiro, onde se formou em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Participou de um grupo de ativistas negras/os que posteriormente formariam o Grupo de Trabalho André Rebouças, na Universidade Federal Fluminense (UFF), onde continuou sua carreira acadêmica com o curso de pós-graduação no qual desenvolveu o projeto “Sistemas alternativos organizados pelos negros dos quilombos às favelas”. Também é autora de vários artigos sobre racismo, quilombos e cultura negra; além de ter promovido e participado de cursos, conferências, palestras e simpósios no Brasil e no exterior.
Em janeiro de 1995, período em que era mestranda em Comunicação Social na UFRJ, sob orientação do professor Muniz Sodré, Beatriz Nascimento foi assassinada ao defender uma amiga de seu companheiro violento, deixando uma filha (Bethânia Gomes).
Seu trabalho mais conhecido e de maior circulação é a autoria e a narração dos textos do documentário Ôrí (palavra de origem iorubá, que significa cabeça). Iniciada na década de 1970, essa produção é o encontro da pesquisa cinematográfica da socióloga e cineasta de origem judaica, Raquel Gerber, sobre a identidade negra no Brasil, com a investigação histórica de Beatriz, a cerca dos quilombos como organizações políticas e de resistência cultural negra de matriz africana (bantu), recriadas no Brasil.
O filme, relançado em formato digital no ano de 2009, registra ainda o processo de formação dos movimentos negros das décadas de 70 e 80, e articula o quilombo, a religiosidade de matriz africana e outras espacialidades, como por exemplo, a escola de samba, enquanto elementos capazes de restituir a humanidade negada na escravidão, e reconstruir as identidades negras.
Durante toda a narrativa desse documentário, dirigido por uma mulher, e ancorado no texto poético e na narração de Beatriz Nascimento, acompanhamos a constante reflexão sobre a condição de subalternidade a que é submetida a população negra na produção simbólica. Na Conferência Historiografia do Quilombo, promovida em 1977, durante a Quinzena do Negro na USP (Universidade de São Paulo), Beatriz revela sua reação com o interesse da Universidade pelo negro apenas como escravo, como se a contribuição desse grupo social fosse somente como mão-de-obra.
Mesmo após vinte anos, esse pensamento ainda permanece. As representações da negritude, suas expressões religiosas, culturais e artísticas continuam associadas a estereótipos, e podem ser facilmente observadas na pele de empregados dóceis, malandros, prostitutas, favelados, macumbeiros, jagunços, “mulatas”,

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS 7
entre outros. Essa estratégia discursiva consolida os meios de comunicação e o cinema como principais matrizes culturais das sociedades contemporâneas, e também campos estratégicos de manutenção do poder vigente.
Em sua pesquisa sobre a representação e a participação da população negra na telenovela brasileira, no período de 1963 a 1997, o cineasta e pesquisador Joel Zito Araújo1 reafirma a cumplicidade desse veículo com o ideal de branqueamento dos brasileiros, que se expressa na tentativa de confirmar o mito da democracia racial e a invisibilidade de homens e mulheres negras.
Também nos textos jornalísticos, na publicidade e no cinema brasileiro, as representações da negritude são marcadas por distorções e simplificações, com destaque para a folclorização e a desqualificação da cultura e religiosidade afro-brasileira, o que ratifica a oportuna afirmação do jornalista e escritor Muniz Sodré, de que a situação do negro na mídia brasileira é como a de um vampiro, que se olha no espelho, mas não se reconhece, não se vê.
Ainda sobre essa questão, o documentário Ôrí discute a dor a e angústia causadas pela perda da imagem, quando, por exemplo, Beatriz Nascimento assume o lugar de personagem e revela sua experiência pessoal com a falta da imagem, perdida na diáspora. Ela afirma não se reconhecer na foto de sua carteira de identidade, ao mesmo tempo em que narra sua relação com a foto da irmã (Carmem), ícone de trajetória intelectual; e com a imagem do mito, a estrela de cinema, Marilyn Monroe, ideal eurocêntrico de beleza; e relata ainda sua busca por Deus, mesmo em uma foto de sua primeira comunhão, anunciando seu distanciamento do pensamento cristão, e compartilhando com o espectador seus conflitos e dúvidas. Os movimentos de câmera, que se aproximam das fotografias, podem ser considerados uma tentativa de enfatizar essa procura de Beatriz por sua identidade.
Com o conceito de quilombo como fio condutor de sua narrativa, Ôrí vai à procura dessas origens no continente africano e de sua reconstrução no Brasil, com Palmares no século XVII, mas mostra também como essa organização se atualiza nos anos de 1970 e 1980. Essa pesquisa histórica se junta à busca de Beatriz (narradora e personagem), que revela suas subjetividades, lutas e migrações, com as quais se misturam esse conceito de nação africana e a figura de Zumbi dos Palmares, seu herói civilizador.
A narração de Beatriz indica a necessidade da terra, tanto no quilombo como na religiosidade de matriz africana. Ela salienta ainda a ressignificação do conceito de quilombo: “A terra é o meu quilombo, o meu espaço é o meu quilombo. Onde eu estou,
1JOEL ZITO ARAÚJO A negação do Brasil: o negro na telenovela
brasileira. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2000.
mir
o |
mir
oAr
TEBr
ASiL
.BLo
GSP
oT.
Com

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS8
eu estou, quando estou eu sou”. Assim, o quilombo passa a designar diferentes espacialidades negras, como as congadas, a favela, a cultura hip-hop e o terreiro. Mas permanece como nova concepção de nação brasileira, capaz de atuar de forma diferente, contra-hegemônica.
Ao relacionar imagem e corpo à construção da identidade, Beatriz reflete sobre sua busca por visibilidade. “É preciso imagem para recuperar a identidade, tem que tornar-se visível, porque o rosto de um é o reflexo do outro, o corpo de um é o reflexo do outro e em cada um o reflexo de todos os corpos. A invisibilidade está na raiz da perda da identidade, então eu conto a minha experiência em não ver Zumbi, que pra mim era o herói”.
Essa invisibilidade remete novamente ao lugar social da população negra, pois mesmo depois de 124 anos de abolição da escravatura no Brasil, homens e mulheres negras, suas culturas, tradições e religiosidades, foram e ainda permanecem invisibilizadas.
Ao analisar a representação da negritude, o teórico jamaicano Stuart Hall enfatiza que o poder na representação é o poder de marcar, atribuir e classificar, o que inclui o exercício do poder simbólico. Por isso, o autor elucida que “estereotipar é um elemento-chave neste exercício da violência simbólica”, subentendida nos discursos e narrativas midiáticas e cinematográficas, e que difunde a estética do racismo, ao reproduzir as desigualdades sociais e econômicas como a ordem
natural do mundo; ao ocultar ou distorcer a história, as formas de resistência e as contribuições das sociedades africanas; ao desqualificar o corpo negro e, principalmente, ao impor o embranquecimento cultural e um padrão estético eurocêntrico, que cotidianamente incute em homens e mulheres negras a necessidade de negar a si mesmos.
Por meio da imagem fílmica, Ôrí parece colocar o espectador no lugar daquele que foge, compartilhando a situação dos africanos que, segundo a narração, empreenderam no século XVII a migração para o Sul do país, adentrando na floresta tropical em busca do quilombo.
Os movimentos da câmera que entra no mato, corre, revive a fuga e o desejo por um novo destino, revelam a procura por um lugar social que não seja o do trabalhador/a escravizado/a. A narrativa destaca ainda a importância do corpo na construção da identidade, porque o corpo é ao mesmo tempo individual, traz marcas e lembranças da subalternização histórica que classifica o corpo negro como feio, exótico, inferior; mas é também coletivo, é registro de sua história e de suas migrações. E é também memória, que se revive em ritmo e movimento, seja nos bailes black, no carnaval ou na linguagem do transe. Por isso, Beatriz afirma: “a memória são conteúdos de um continente, da sua vida, da sua história, do seu passado. Como se o corpo fosse o documento. Não é à toa que a dança para o negro é um fundamento de libertação. O negro não pode ser liberto, enquanto ele não esquecer o cativeiro, não esquecer no gesto, que ele não é mais um cativo”.
O destaque que o filme, e principalmente a narração, reserva ao simbolismo do ôrí, remete a importância da cabeça nas religiões de matriz africana. Por meio dela é que se dá a ligação entre o ser humano e o sagrado; e assim como os orixás (divindades), ela também recebe oferendas, em um rito chamado borí (retratado no documentário), e que busca a renovação de forças do indivíduo. Há até um provérbio que diz “Ori buruku, kossi orixá”, ou seja, “cabeça ruim não dá orixá”.
Também é por meio do ôrí, que Beatriz apresenta a religiosidade afro-brasileira como uma filosofia de vida, outra visão de mundo e de poder, uma possibilidade de reencontro com os elementos

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS 9
ÔríDireção: raquel Gerber
1989, vídeo.
relançado em 2009, em formato digital.
www.oriori.com.br
Fotos de Beatriz Nascimento e do filme Ôri omenelick2ato.com
CEIÇA FERREIRA é jornalista e doutoranda
em Comunicação na Universidade de Brasília.
atua nas áreas de cinema, culturas negras e
comunicação em movimentos sociais.
materiais e simbólicos que restituem, por meio de um contínuo renascimento, a humanidade negada na escravidão. Segundo ela, o “ôrí significa a inserção a um novo estágio da vida, a uma nova vida, um novo encontro. Ele se estabelece enquanto rito e só por aqueles que sabem fazer com que uma cabeça se articule consigo mesma e se complete com o seu passado, com o seu presente, com o seu futuro, com a sua origem e com o seu momento ali”.
Na narrativa, o ôrí se refere à religiosidade, ao retratar o iaô (filhos-de-santo que ainda não completaram os 7 anos da iniciação no Candomblé) em transe; ou é ressignificada, em espaços onde homens e mulheres negras são capazes de reconstruir sua identidade, encontrar seu núcleo. Vale salientar ainda outro significado dado à ôrí, relacionado à formação do movimento negro. “O processo de ôrí é uma recriação de identidade nacional através do Movimento Negro da década de 1970. Nós, na década de 70, éramos mudos. E os outros eram surdos a nós. A partir de 70, começamos a falar sociologicamente”, ressalta Beatriz Nascimento.
Neste documentário, ao narrar sua própria história, Beatriz se junta às migrações, aos conflitos, às tensões e às angústias de homens e mulheres negras, o que significa mudanças na própria linguagem cinematográfica. Logo, Ôrí apresenta subjetividades, compartilha com o espectador a dúvida, a dor e a poesia dessa mulher negra; opta por enquadramentos, nos quais rostos e corpos negros estão de forma predominante no centro ou em destaque, talvez com o intuito de oferecer-lhes a visibilidade negada historicamente.
Essa capacidade de apresentar dimensões que estão relacionadas à memória e às emoções do indivíduo reafirma o caráter performático de Ôrí, que constitui um novo olhar sobre a população negra e sua religiosidade, pois aquele/a que normalmente seria o objeto torna-se o sujeito e narra sua própria história. Beatriz Nascimento é narradora, pesquisadora e também uma personagem, relata suas experiências, dirige-se aos espectadores de maneira emocional, divide com eles suas angústias e alegrias, convida-os a experimentar seu “lugar de fala”, compartilha com outras mulheres, como a própria diretora, Raquel Gerber, o “ser” mulher, negra, nordestina e diaspórica.
PARA vER
PARA lER
Eu sou atlântica: sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimentoalex ratts
Imprensa Oficial de São Paulo: Instituto Kuanza.
São Paulo, 2007
Disponível em: imprensaoficial.com.br
O terreiro e a cidade: a forma social negro-brasileiraMuniz Sodré
Editora Vozes
Petrópolis, 1988.
Negritude, cinema e educação: caminhos para a implementação da Lei 10.639/2003Edileuza Penha de Souza (Org.).
Editora Mazza
Belo Horizonte, 2007

TEXTo rEnaTa fElinTo
Faz algum tempo que, talvez devido a lei 10639/03 que obriga o ensino de historia e cultura africana e afro-brasileira nas instituições de ensino, é possível observar a emergência de manifestações culturais de matriz africana, sejam as mais tradicionais como é o caso dos maracatus até as mais contemporâneas como os elementos que compõem a cultura hip hop.
Manifestações culturais ou folguedos que se originaram a partir das ações e vontades de mulheres e homens escravizados, estão presentes não só na região Nordeste do país, como comumente costuma-se pensar quando se trata de cultura afro-brasileira. Pensamento este que não é em vão, tendo em vista que durante o Brasil Colônia e Império, os lugares que mais receberam africanos estão localizados nesta região do país.
AFRODESCENDENTEno corpo E na alma
Posteriormente, a partir do século 17, é que a região Sudeste passa a receber africanos escravizados no período aurífero mineiro, e, tempos depois, no século 18 nas fazendas produtoras de café dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Alias, são estes escravizados, que chegam à região Sudeste, muitos vindos da Bahia, que dão origem aos primeiros sambas compostos nas casas das famosas tias baianas que viviam nas zonas mais urbanizadas do Rio de Janeiro, como a casa da Tia Ciata, que era quituteira e em cuja residência os batuques viam a aurora surgindo. Casa onde se deu a luz ao samba carioca, filho do samba baiano. Porém, este é tema para outro texto.
São, então, estas migrações que garantem aos paulistanos de hoje a possibilidade de conhecer, vivenciar e dançar um maracatu recifense, uma congada mineira ou um bumba meu boi maranhense. Pois é... Desde os amargos tempos dos grilhões que os corpos levados de um lugar para outros, por vontade própria ou de outrem, até podem mudar geograficamente, todavia, internamente ou espiritualmente, este processo de mudança é quase impossível. O que se constitui dentro de um corpo como memória familiar, afetiva, social, coletiva não se pode ludibriar. E se houver esta tentativa, o corpo, em algum momento, poderá pedir , todos sabem...
Raquel Trindade, Benedito Pereira de Castro e Tião Carvalho, bem sabem disso...
mEmÓria
o menelick SegunDo 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS10

o sorriso de dona raquel Trindade
rAFA
EL m
EDEi
roSRAquEl TRINDADE mARACATEANDO
Em EmBu DAS ARTES
Damas primeiro, vamos à historia de Raquel Trindade Souza. Em 1950, seu pai o poeta Solano Trindade (1908 - 1974), juntamente com a primeira de suas três esposas, Maria Margarida da Trindade, e com o sociólogo Edison Carneiro (1912 - 1972), fundou, no Rio de Janeiro, o Teatro Popular Brasileiro com o intuito de propagar a cultura popular.
Em 1961, a Família Trindade é convidada pelo escultor Assis do Embu, a mudar-se do Rio para Embu das Artes, em São Paulo, com o objetivo de movimentar a cena cultural da região. Para quem não sabe, a internacionalmente conhecida feira de artes e artesanato de Embu das Artes foi fundada por Mestre Assis juntamente com outros artistas. O TPB contava com 30 artistas em seu elenco. Todos viviam sob o teto de Mestre Assis, organizando apresentações de danças populares de todo o Brasil e realizando festanças que duravam dias. É neste contexto que foi criada Raquel Trindade, nascida em 1936, em Recife, Pernambuco. Muitos se recordam mais do papel de seu pai quando se trata de sua biografia, entretanto, sua mãe, Margarida, pouco lembrada nesse processo, é de crucial importância para sua formação, legou à ela o seu conhecimento em danças populares. Ainda que ela fosse presbiteriana, o sincretismo cultural falou mais alto.
Raquel é formada em Terapia Ocupacional, mas também atua como pintora, pesquisadora de cultura afro-brasileira, educadora, figurinista e coreógrafa. Em sua atividade como artista plástica, já expôs em vários lugares ao redor do mundo e recebeu prêmios e homenagens. Como promotora da cultura afro-brasileira, mesmo não tendo formação universitária, em 1988, foi convidada para lecionar cultura popular (ate então chamada de folclore), sincretismo religioso e cultura negra na renomada UNICAMP.
Na cidade de Embu das Artes se encontra localizado o Teatro Popular Solano Trindade, criado em 1975, apos o falecimento de Solano Trindade. Construído pela Prefeitura da Cidade e dirigido pelos herdeiros do saudoso poeta, neste espaço organizam, sob a direção dessa incansável senhora, festas e eventos que enfatizam a cultura popular brasileira de matriz africana: coco, samba, maracatu, dentre outros ritmos e danças que podem ser conhecidos, aprendidos e dançados neste espaço. Como já disse Raquel: “É a coisa de preservar e passar o que a gente sabe às pessoas. Não é um trabalho só de carnaval, é da vida inteira”. Assim, aos sábados o TPST promove cursos de capoeira em parceria com o grupo do Mestre Marrom (Irmãos Guerreiros), de Taboão da Serra, cidade vizinha à Embu das Artes, e, no último sábado de cada mês ocorrem as rodas de samba, o “Solano Samba”, produzidas por Elis Sibere Montes. Aos domingos acontecem os ensaios do Grupo de Maracatu Nação Cambinda, coreografado e organizado
o menelick SegunDo 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS11

mestre Dito: “Festa de nego, sim senhor!”
por Raquel. O Nação Cambinda conta, atualmente, com 35 integrantes dentre dançarinos e músicos. Este grupo enfatiza o maracatu de baque virado, originado na zona urbana de Recife e organizado em forma de cortejo, ou seja, com rei e rainha, dama do paço, dama das flores, baianas, porta-estandarte, porta-paio, dentre outros personagens que compõem esta “dança-andança”. Em oposição ao maracatu de baque virado, existe o maracatu rural, aquele cujo genial Chico Science (1966 - 1997) destacou o personagem guerreiro de lança, com sua brilhante cabeleira colorida e óculos escuros.
mESTRE DITO, O CONgADEIRO DE COTIA
Próximo de Embu das Artes, em Cotia, encontra-se uma família muito importante para a cultura popular paulista, a Pereira de Castro. Senhor Benedito ou Mestre Dito, como é conhecido entre os que fazem e participam de congadas, os congadeiros, também nasceu em 1936, na cidade de São Luis do Paraitinga. Seu pai, João Antonio Pereira de Castro era cantador e mestre de roda de samba. Ele diz que suas raízes são originalmente africanas, que sua avó era do Congo. Ainda muito criança teve que deixar os estudos para trabalhar na região do Vale do Paraíba, onde plantava arroz .
No carnaval de 1947, um irmão mais velho foi buscá-lo para viver com ele. O irmão já tinha um grupo pequeno de “Moçambique”, mas queria montar um grupo familiar. Os moçambiques são grupos de música e dança surgidos a partir das congadas nos quais os dançarinos usam bastões de madeira para marcar o ritmo nos combates encenados. “Se formou um grupo com mais ou menos 12 pessoas, tocando uma caixinha, enquanto alguns batiam os pauzinhos”, diz ele.
Tranferiu-se para Cotia em 1951, e até hoje preserva a tradição de seus antepassados e impôs-se uma missão em sua vida: “continuar a Congada, realizar o 13 de maio em Cotia e ir para São Luiz do Paraitinga nas Festas do Divino”.
Pai de cinco moças muito simpáticas e, felizmente, envolvidas com as festas organizadas pela família, Mestre Dito conta que o grupo sofreu e ainda sofre muitas situações de preconceito por parte dos habitantes locais que não compreendem a importância da existência de uma congada em Cotia. “Dizem ser festa de negro! E nós enfatizamos que é sim uma “festa de nego”. Aí reside uma problemática muito interessante, quando conveniente, estas festas são tratadas como expressões da cultura popular brasileira, quando não, especialmente por pessoas que não realizam o mínimo esforço para se informar acerca da historia de seu próprio país, são tratadas como “festa de nego”. Só para não perder a raiz... Por sua vez, universitários e pesquisadores de muitos locais recorrem ao Mestre Dito para saber mais sobre
rE
Na
Ta
FE
LiN
TO
o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS12

essa expressão nascida da devoção à Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Ifigênia. Devem correr, pois Mestre Dito possui lembranças sobre sua infância que parece ter vivido ontem. Lembra de levar os alimento à boca com as mãos pela falta de talheres e de andar descalços na falta de sapatos, assim como ocorria durante o período da escravidão.
A Festa da Congada está em Cotia desde meados do século 20 e faz parte do calendário da região, comemorado no dia 13 de Maio. Grupos de congadeiros de vários lugares do Brasil participam da Congada do Mestre Dito, como os que vem de Lorena, Taubaté, Pindamonhangaba e Mogi das Cruzes, e seguem em cortejo até a Vila São Joaquim, onde vive a família de Mestre Dito, ao som de fogos de artifício, tambores, sanfonas, violões e cantorias.
Ainda que para os que conhecem um poucos mais de história do Brasil a figura da Princesa Izabel tenha um papel controverso no que se refere à abolição da escravidão, para os congadeiros, ela é sim uma personagem a ser reverenciada. Nesta mesma data, da Câmara de Cotia, saem os congadeiros com o busto da Princesa Isabel, louvada como a figura libertadora dos escravos. E ainda há um lado solidário da festança, bem aos moldes do bom cristão: “Como na maioria das festas populares, Mestre Dito mantém a tradição de solidariedade que remonta historicamente as festas pagãs na Idade Média, durante o 13 de maio em Cotia. Todos são convidados a fazerem doações aos mais necessitados, pois, como num verdadeiro grupo de cultura popular, tudo que se passa na vida desta comunidade é pensado no coletivo. Mestre Dito possui hoje um grupo com dezenas de seguidores que cantam, rezam e dançam com uma felicidade indescritível, com certeza uma das maiores lições deste Mestre”, segundo contam os pesquisadores João Rafael Cursino e Galvão Frade.
TiãO CarvaLhO: dEixa O BOi daNçar NO
mORRO DO quEROSENE!
Do Maranhão para o Morro do Querosene em São Paulo. Há mais de 20 anos que José Antonio Pires de Carvalho ou Tião Carvalho, nascido em 1955, organiza a Festas do Boi nesta parte do bairro do Butantã, juntamente, com o Grupo Cupuaçu, criado pelo próprio.
Assim como nas congadas do Mestre Dito, grupos de cultura popular de muitos outros lugares se reúnem neste espaço durante o nascimento, batizado e morte do boi. Estes três momentos nos quais a festa é realizada estão divididos ao longo do ano, acompanhando o calendário das festas católicas, como ocorre com o Maracatu no Carnaval. O nascimento do boi ocorre no sábado de Aleluia, ou seja, um dia antes da comemoração da Páscoa. O batizado é feito no mês de junho acompanhando as festas juninas e o dia de São João Batista. Por fim, o boi morre no fim do ano, próximo ao dia 2 de novembro, Dia dos Finados.
Talvez pelo fato da distância, a festa do Boi de Tião Carvalho é muito mais freqüentada por universitários e pesquisadores do que os demais folguedos citados. Por vezes, também são
eles que ultrapassam o limite entre objeto e investigador, e passam a incorporar-se aos grupos. Em outros casos, talvez, algumas escolhas profissionais, estejam justamente atreladas ao encanto provocado pela convivência com o ambiente da festa. A antropóloga Carolzinha Teixeira, 29 anos de idade e graduada pela USP, diz: “Eu sou do bairro, e participo da festa desde que nasci (antes de assumir a responsa de ser integrante). O Cupuaçu é um grupo extremamente heterogêneo. Acho que já surge assim, da união de um povo vindo do Maranhão com integrantes do Teatro Ventoforte. Mas convivem muitas pessoas de formações diversas, acho que a maioria não chega a ser de universitários... não sei se estou certa. São diversos caminhos que levam as pessoas ao grupo. Hoje, já temos uma terceira geração nascendo, e sempre alguém leva outro alguém. Tem alguns maranhenses que migraram para São Paulo e ficam sabendo, e outros chegam pela Festa no Morro, se informam e aparecem nos ensaios (esses, em sua maioria, são os universitários - taí!)”.
Assim como ocorreu com Carolzinha, o organizador da Festa do Boi, Tião Carvalho, também se encantou pela cultura popular ainda criança, por influência de seu pai. Ainda pequeno, presenciou apresentações da rica cultura maranhense como o Bumba-Meu-Boi e o Tambor de Crioula. Este legado esta incorporado às atividades que desenvolve como cantor, compositor, dançarino, ator e pesquisador . Nascido em 1955, na cidade de Cururupu, no Maranhão, chegou em São Paulo em 1985. Entretanto, a sua carreira já havia se iniciado por volta dos anos de 1970, lá mesmo no Maranhão onde participou de peças teatrais e de espetáculos musicais, como do grupo musical “Rabo de Vaca”, que tinha ainda as participações de Zezé Alves, Josias Sobrinho, Beto Pereira e Mauro Travincas. Viveu e desenvolveu trabalhos no Rio de Janeiro, realizou sua primeira turnê no exterior até aportar por estas terras, passando a viver no Morro do Querosene, que com o passar dos anos se transformou em um reduto de artistas que utilizam-se de diversas linguagens artísticas.
O talentoso Tião Carvalho já ministrou cursos na ECA/ USP (Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo), já realizou composições que foram gravadas por grandes nomes de nossa música como pela saudosa Cássia Eller, já chegou
o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS 13

RENATA FElINTO é mestre em artes visuais pela
UNESP, pesquisadora, artista plástica e educadora.
a finais de importantes festivais e seleções musicais como o Rumos Itaú Cultural... Ufa! O currículo é extenso! Impossível saber se dentre tantas realizações o coroamento destes grandes esforços seja a oportunidade de se apresentar com sua banda no ano do Brasil na França, em 2005, apresentando um amplo leque de ritmos brasileiros ou se é mesmo fato da Festa do Boi estar cada vez mais (re)conhecida e cheia de gente querendo aprender estas danças, um pouquinho da cultura popular maranhense e conhecer gente nova.
Quem quiser tomar contato com este legado fora do período das festas pode participar de oficinas e encontros que ocorrem aos sábados e domingos, todos realizados pelo Grupo Cupuaçu.
NãO PERCAmOS A RAIz
Como muitas das festas que ocorrem em nosso país e que foram iniciadas nas senzalas ou frutificaram num contexto de humilhações e privações, todos os folguedos citados referenciados se popularizaram e são conhecidos como “festas populares”. Porem, é imprescindível que não se percam a origens das mesmas, que elas não se diluam na tentativa de apagamento das origens africanas ou afrodescendentes de diversas expressões culturais e artísticas de nosso país. A estratégia de nomeá-las como “populares” somente deve ser observada criticamente, pois também é uma forma de apoderamento das mesmas pelas elites brasileiras e, ao mesmo tempo em que são aceitas, podem sim serem “embranquecidas”. Não se deve permitir que a ingenuidade confira a estas festas em suas configurações contemporâneas o rótulo ultrapassado da “democracia racial”, do país mestiço e sem preconceitos que ainda se quer vender como imagem predominante na sociedade brasileira. Não se deve esquecer que o samba, outrora “festa de nego”, como bem lembrou Mestre Dito, era criminalizado assim como a capoeira e marginalizado como a feijoada. Lembremos, sempre, de onde vêm este símbolos de nacionalidade.
O antropólogo inglês Peter Fry, que chegou ao Brasil na década de 1970 e se naturalizou brasileiro, logo percebeu como funciona este mecanismo da nossa sociedade. Fervoroso estudioso de sexualidade e da cultura tupiniquim especialmente a de matriz africana, em seu célebre texto “Feijoada e Soul Food” (1976), no qual analisa a incorporação, pelas elites brasileiras, de criações culturais do segmento “dominado” da população como símbolos de nacionalidade, principalmente, em oposição à “exclusão” que, de modo geral, às criações culturais dos negros norte-americanos sofrem por parte dos brancos abastados de lá. Sobre essa assimilação, que alguns acreditam ser manifestação da nossa “democracia racial”, Peter Fry, diz o seguinte: “Quando se convertem símbolos de ‘fronteiras’ étnicas em símbolos que afirmam os limites da nacionalidade, converte-se o que era originalmente perigoso em algo “limpo’, ‘seguro’ e ‘domesticado’”. Este trecho é somente para pensar, para aguçar o sujeito critico que existe em cada um de nós.
Entretanto, para além destas observações menos co-memorativas em relação à popularização de expressões afrodescendentes e, para alem do período de festas juninas e julinas, as festas ocorrem o ano todo, porque o corpo pede. Podem até partir de alguma religião, mas o que importa é que precisamos sim desta reconexão ou catarse coletiva, comum, mesmo com todas as idiossincrasias.
Embu: aldeia de M’Boy
raquel Trindade
Editora Noohva América
Teatro Popular Solano Trindade A charmosa cidade colonial de Embu das Artes tam-
bém abriga, entre outros, uma tradicional feira de
artes e o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas. O TPST
dica na Avenida São Paulo, 100. Tel. (11) 4241-4331.
Congada do mestre DitoNo dia 13 de maio de cada ano, os congadeiros
comemoram tanto a libertação dos nossos ances-
trais escravizados quanto a devoção aos santos
que acalentavam os momentos de desesperança e
sofrimento durante o período da escravidão.
Festa do Boi do morro do querosenePara se informar sobre o calendário das festas do Boi
e saber das oficinas e encontros: grupocupuacu.org.br.
aproveite a visita para almoçar na casa do norte
que existe na Praça Elis Regina.
PARA IR
PARA lER
14 o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS14

palavrascErTEiras
Edson da Luz, conhecido como Azagaia, 28 anos, é hoje o principal nome da cena rap da República de Moçambique, e também uma pedra no sapato dos governantes e das minorias abastadas que comandam o destino do país africano.
Nascido no distrito de Namaacha, província da capital Maputo, Azagaia iniciou a carreira musical entre o fim da década de 90 e o começo dos anos 2000, formando ao lado do rapper Escudo o duo Dinastia Bantu.
Um ano após o lançamento do álbum Siavuma (2005), único disco do grupo, a dupla se separou. “Escudo se afastou da música, na verdade ele continua até hoje, mas já não dá as caras. E eu, como tinha vontade, continuei”, conta.
Com a Cotonete Records (produtora moçambicana de Hip Hop) Azagaia lançou Babalaze (2007), seu primeiro trabalho solo. Ainda durante o pré-lançamento do single do álbum As Mentiras da Verdade, muitas polêmicas. A música – que levanta suspeitas sobre o envolvimento do governo sul-africano na morte de Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique após a independência do país - foi censurada pelos meios de comunicação do país e, como tudo que é proibido... No dia do lançamento do disco foram vendidas mais cópias do que o esperado.
Um ano depois das desagradáveis ocorrências envolvendo As Mentiras da Verdade, mais confusão. Em 5 de fevereiro de
2008, boa parte de Moçambique foi tomada por greves e violentas manifestações populares contra o aumento na tarifa de transportes. Inspirado no conturbado episódio que deixou ao menos três mortos (as acusações sobre os óbitos recaem sobre a polícia moçambicana), o rapper escreveu a música Povo no Poder.
Não demorou e o artista, suspeito de “atentar contra a segurança do Estado”, foi convocado pela Procuradoria Geral da República a dar “explicações”.
Os atritos entre o músico e ativista social com as autoridades do país africano, porém, não param por aí. Em 30 de julho de 2011, Azagaia foi preso em Maputo quando estava a caminho do lançamento do vídeo clipe A Minha Geração que, assim como a grande maioria das músicas que compõe, tece duras criticas ao governo e a sociedade moçambicana. Após uma revista policial foi encontrado no bolso do produtor do artista um pequeno cigarro de maconha (em quantidade permitida pela lei moçambicana). Azagaia ficou detido por 48 horas. Na ocasião, houveram várias manifestações em solidariedade ao músico.
Atualmente o rapper prepara o seu segundo álbum solo. Algumas faixas e vídeo clipes deste novo trabalho já estão disponíveis na internet. Para o desespero do governo moçambicano, a lança de Azagaia continua afiada, certeira e longe de se aposentar.
FO
TO
CA
SS
IMA
NO
TEXTo EliZanDra souZa (colaboração nabor jr.)
o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS 15

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS16
Quem é AzAgAiA e QuAl o significAdo deste nome?Azagaia sou eu, um rapper de intervenção social. Azagaia significa uma lança de cabo curto. Um instrumento de guerra africano. Eu escolhi esse nome porque sempre achei que a música rap tem muito haver com intervenção social, e pegar numa arma sendo um MC faz todo sentido. Escolhi esse nome também para relacionar minha identidade africana à minha música. Pois o Hip Hop é uma cultura ocidental, hoje em dia é uma cultura global. Acho que cada lugar tem que buscar uma maneira de nacionalizar o estilo, através do nome, através de alguma percussão, um ritmo. Foi também pensando nessa lógica que escolhi Azagaia.
fAle um pouco sobre suA trAjetóriA no Hip HopTudo começou com o Dinastia Bantu, criado por volta de 1999, 2000. Nós, Escudo e eu, éramos muito fãs de Wu-Tang Clan (grupo norte-americano de rap) e o nome do nosso conjunto tinha muito haver com esse “fanatismo” que tínhamos por eles. Como você deve saber, o Wu-Tang Clan tem inspirações na cultura chinesa, o que envolve muito este lance de dinastias. E a gente se apegou a essa palavra que é uma expressão de força, de reinado, e que tem haver com o Hip Hop também. Então incorporamos o nome Banto que são os povos daqui. O que fizemos foi importar essa filosofia e relacioná-la com coisas mais nossas. Lançamos nosso único álbum em 2005, Siavuma. Essa é a historia do Dinastia Bantu. Em 2006, Escudo se afastou da música, ele começou a trabalhar e eu fiquei no ataque meio desprotegido. Só fazendo ataque sem a minha defesa. Mas como tinha vontade, continuei solo e fui firmando o nome Azagaia. Até que no ano de 2007 saiu o meu primeiro single As Mentiras da Verdade, que fez com que o país inteiro me conhecesse.
QuAis suAs influênciAs e inspirAções musicAis?Uma grande influência que eu tive foi o Gabriel O Pensador. Ouvi músicas como O Resto do Mundo que dizia “eu queria morar numa favela”, e isso me agradava muito, não entendia a profundidade das letras, mas me agradava muito a descrição daquela realidade. Gosto muito de Talib Kweli, Mos Def e da linha mais consciente do Hip Hop americano. Mais recentemente também passei a acompanhar o Valete (rapper português).
tem escutAdo rAp brAsileiro? Além do Gabriel (O Pensador), ouvi e tive contato com Marcelo D2. Também gosto bastante do MV Bill e as formas da sua música, que eu me identifico mais. Já o 509-E e o Emicida eu conheci recentemente e estou gostando de ouvir. Dos Racionais MC’s, que é um grupo lendário no Brasil, curto a maneira explicita que eles falam das periferias. Eu sei que vocês (brasileiros) têm milhares de grupos, mas estes são os que eu conheço.
EnTrEvisTao Que significA “dizer A verdAde” em moçAmbiQue?Dentre os vários significados que essa palavra pode ter em Moçambique, eu vou dizer dois. Por um lado é um ato de coragem, de justiça, de liberdade. É um pouco viver a democracia que acreditamos que existe, formal e oficial que existe aqui. É um exercício de transparência. Politicamente falando é uma ferramenta para exercermos a democracia, valorizar e deixar que seja ouvida a opinião da maioria, o que o povo diz e o que o povo sente. É essa verdade que queremos que seja cada vez mais dita e ouvida. Por outro lado, eu diria que é quebrar um pouco com a tradição, não sei se vou dizer africana, mas talvez falar da de Moçambique. Porque aqui, as vezes a verdade choca as figuras do poder. Para eles o mais importante seria obedecer as palavras dos mais velhos, dos mais poderosos, dos chefes. Dizer a verdade quebra um pouco com isso. Ainda mais nos dias de hoje, uma vez que as pessoas que estão no poder ocultam muito a verdade como uma forma de fazer a manutenção deste poder.
nAs suAs letrAs você tAmbém fAlA muito em criAr um “pArtido dA verdAde”. você criAriA um pArtido de oposição? é filiAdo Há Algum pArtido?No momento não. Mas eu já tive uma vida política partidária bem mais ativa. Houve uma ocasião que eu apoiei um candidato do partido independente (de oposição), que concorreu na Cidade da Beira para presidente da Província. Ele tinha sido afastado do seu próprio partido porque o partido queria que outra pessoa concorresse. Ele estava sendo impedido pelo próprio partido. Então ele concorreu como independente. Ele ganhou e continua fazendo um bom trabalho. Depois ele criou um partido chamado MDM (Movimento Democrático de Moçambique). Trata-se de um partido voltado para os jovens. Uma vez que em Moçambique boa parte das figuras que estão no poder fazem parte da história de libertação do país, que aconteceu nos anos 60 e 70. Hoje essas pessoas estão com 50 ou 60 anos. Mas o problema não é exatamente a idade, somando a forma de governação do partido, um partido de velhas glórias, podemos assim dizer, faz com que os jovens procurem outras alternativas de votos. Meio por emoção eu apoiei esse candidato, mas também apoiei o partido. Mas só como simpatizante. Eles queriam que eu me candidatasse a deputado, mas isso nunca chegou acontecer. Foi nesse período que eu me envolvi com a política partidária, mas

17o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS
não faço parte de nenhum partido. A população de Moçambique é refém de dois partidos (FRELIMO e RENAMO) e esse terceiro partido (MDM) veio para desequilibrar a balança. Apoiei, porque, quanto mais partido tivermos será melhor para exercermos a democracia.
o Que AcHA do intercâmbio culturAl entre brAsil e moçAmbiQue?Eu acho muito bom. Eu olho para Brasil como um país que sabe aproveitar e vender a sua cultura. Consegue ser conhecido mundialmente pelos seus hábitos culturais, pela sua cultura. Moçambique deveria aprender, tem tanta coisa boa aqui que não é valorizada. Acredito que nós moçambicanos, e talvez a África de uma forma geral, porque a África é muito intensa em termos culturais, tem muito a aprender com as técnicas e a experiência que o Brasil tem de pegar sua cultura e retransmiti-la para mundo. A África não é só fome e pobreza. Ao seguir o exemplo do Brasil, a África tem grandes potencialidades para ter uma indústria cultural bem forte, que até pode ajudar bastante na educação. Muitas vezes somos obrigados a seguir caminhos já traçados. Pegar o que já existe, as coisas que as pessoas sabem fazer e arranjar uma forma boa e bonita de mostrar ao mundo. É assim que vejo o Brasil. O Brasil veio da África, e esse intercâmbio em muito já esta atrasado. Esta muito mais do que na hora dos brasileiros saberem sua origem, e também levar africanos para lá, para mostrar como eles desenvolveram aquilo que esta no seu DNA.
ElIzANDRA SOuzA é poeta, jornalista, editora
da Agenda Cultural da Periferia e apresentadora
do programa Agenda Cultural da Periferia, na
Rádio Heliópolis.
Em 2008, o artista plástico Junior Lopes
Cunha, em homenagem a personalidades
das artes e da política que simbolizam a
comunidade e a cultura moçambicana,
produziu 15 retratos de retalhos (técnica de
recortes em tecidos) de 15 figuras de destaque
do país. Saiba mais sobre o artista e o trabalho
em questão: omenelick2ato.com
mia Couto malangatana
José João CraveirinhaSamora michel
gE
NT
E D
E F
IBR
A
(1) Mia Couto (1955) Biólogo e um dos grandes escritores moçambicanos da contemporaneidade.(2) Malangatana (1936 – 2011) Um dos mais importantes artistas plásticos do país.(3) Samora Machel (1933 – 1986) Primeiro presidente de Moçambique após a independência do país.(4) José João Craveirinha (1992 – 2003) É considerado o maior poeta moçambicano.

o menelick | SegunDo ATo18
aminhávamos por entre as risadas afiadas. Naquele túmulo, nossa respiração era o sinal da teimosia que irritava o coveiro e os donos do nosso enterro. Estes exercitavam exorcismos os mais variados. Cada passo rumo ao Não-Ser era fabricado fora de nossa cova.
João hesitava, Nino resmungava, chutando a esperança que se enrolava faceira, ameaçando botes no chão escorregadio, e eu pensava em todas as possibilidades de não fenecer.
Caminhávamos, entretanto, respirando de teimosos por entre a densidade neblinosa do caminho.
Num dado momento encontramos um velho que fumava o amor num cachimbinho de barro feito com prazer. Dava passadas, ginga leve, em direção contrária à nossa. Sorriu e iniciou uma fala mansa, porém segura:
Eles disseram tudo e vocês acreditaram. Só uma ponta que eles esconderam é que a respiração de vocês conseguiu segurar. Assim é a chamada civilização deles. Camisa-de-força no sentimento e cinto de castidade no gozo. Fizeram vocês remar a própria doença que se foi apropriar de vocês mesmos. Eu venho de lá do Não-Ser. Subi na vida, deixei de sambar, cantar, rir alto, dançar o interior, gozar no deslimite, meti a gravata na ganância... Se não fosse a teimosia do pulmão, tinha pegado uma doença ruim qualquer, daquelas que nem o dinheiro retido nos cofres da pobreza de se dar teriam dado jeito. Se quiserem continuar, continuem. Eu, de minha parte, estou voltando. Creio que ainda acho o caminho do cemitério. Chegando lá, vou escrever o seguinte epitáfio: Parar de morrer. Só assim a humanidade renasce. O caminho tá cheio de piso falso, areia movediça, laço na espreita. Aprendi no tato.
Dito isso, desapareceu, mergulhando na neblina em sentido contrário ao nosso. Começamos a tropeçar e a tossir. João soltou a voz e sua trajetória, de moleque engraxate à gerente de banco, contorceu-se brilhante em nossa frente, exibindo os seus tumores malignos. Filho de pai alcoólatra e mãe carola, extremamente frágil em sua expressão física, João foi desde cedo atraído pelo suicídio violento ou pelo seu contrário, o que alterava de tempos em tempos. O pai acabou sendo enterrado como indigente e a mãe morreu tuberculosa, sem antes contudo ter deixado de cumprir seu interno: meteu o filho e suas crises num colégio interno, com um tutor, a quem deu todo o dinheiro de um bilhete premiado. O desejo de viver desapareceu no garoto e a atração pelo suicídio tornou-se mórbida, lenta. Crescido, foi para o mundo. Seus desejos atrofiados logo transformaram-se em fonte de riqueza. Guardava dinheiro como se guardava para o amor. Estudava para galgar novos e mais compensadores postos. Gerente, casado, filhos-investimentos, propriedades, e eis que uma mosca-varejeira, verde, muito verde, alcançou seu peito e nele depositou os germes de uma paixão. Enfartou-se e foi ter comigo e Nino em um hospital.
A trajetória de João apagou-se, e ele se pôs a chorar. A minha
TrajETosacendeu-se rebolando. Tinha eu nascido num berço de lata dourada. Desde cedo, incentivado pela família, procurava o mundo branco. Nunca saí em escola de samba. Macumba? Gastei muito dinheiro em psicanalista, mas não dei obrigação de santo. Depois que comecei a namorar garotas brancas, passei a introjetar a paijoanitude que, logo após ter esposado uma daquelas, passou a ser uma profissão de fé. Eu era um negro bom. E foi com violência que ataquei meu filho mais novo naquela noite, quando ele trouxe a proposta de consciência racial para dentro de casa. Aquilo ameaçou-me por inteiro. Era uma ofensa à sua própria mãe. Ele seguiu seu caminho e eu continuei odiando meu destino de descendente de escravos, e tentando ajustar cada vez mais a forca do esquecimento. Até que a sístole se irritou com a diástole e fiquei entrevado. Minha trajetória se foi e fiquei frente a meus dois companheiros, com meu choro acumulado e antigo.
- Nino, sua trajetória não surgiu? Perguntei.
- Nem vai surgir. Vocês estão enganados. Eu sempre alisei o cabelo com ferro quente. Alisei tanto que o ferro marcou o íntimo de mim mesmo. Preciso caminhar.
- Você viu, ouviu as palavras do velho que retornava? Viu sim! E por que insiste?
João tinha temor molhado nas palavras.
- Se vocês quiserem voltar que voltem. Eu preciso morrer. Não consigo. Vocês se esqueceram de que eu fui um comunista? Nunca, nunca vocês vão me convencer a fazer racismo às avessas. É contra a revolução, será que não entendem?
- Você está enganado! Gritamos.
- Não. Tudo que sinto contra os brancos é puro racismo. Eu não posso ser contra os princípios... Não, não adianta querer justificar nossa inferioridade racial tentando redescobrir a África, seja dentro ou fora de nós. Ela não passa de uma ignorante e atrasada que adormeceu muito em sua preguiça. Deixe-me em paz!
Foi um berro navalha a cortar o laço que nos unia a ele. Foi-se, os passos apressados, ao Não-Ser. Eu e João iniciamos o difícil caminho de volta. No percurso ouvimos vozes adolescentes. Uns diziam “vamos”, outros respondiam “não vou”. Havia choro entre as brumas. Pensamos nas armadilhas e artimanhas das alvas trevas, sobre as quais o velho havia nos alertado. Seguimos. Quando chegamos, depois de muito andar, debaixo de nossa cova, juntamos os ossos, pedimos à terra e aos insetos que nos desenvolvessem o banquete para o qual tinham sido convidados e procuramos a saída. Não demoramos. O velho nos havia deixado uma fenda iluminada para passar. Entramos, tropeçando em nossos espantos e demos por fim sob um asfalto. Escutávamos agitação de muitos passos. Rompemos o cascalho e o piche e saímos. Era 20 de novembro. Explodia um protesto contra o massacre de treze crianças de rua. Gente, muita gente. Um jovem de cabelo Black-power, fora de moda, gritava palavras de ordem. Era meu filho.
TEXTO CUTi
CuTI (luIz SIlvA) é doutor em literatura brasileira, poeta, dramaturgo, escritor e co-fundador do Quilombhoje. Publicou,
dentre outros, os livros Contos crespos; Literatura negro-brasileira (ensaio); Negroesia (poemas) e Dois nós na noite (teatro).
c

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS 19
MAIS UMA DOSE | Ilustração em homenagem aos 50 anos do início da inspirada – e inspiradora –
parceria entre os músicos Vinícius de Moraes e Baden Powell, que quatro anos depois resultou no
fundamental álbum Os Afro-Sambas (1966).
Tam
an
ho
28
x4
0cm
-T
écn
ica x
ilog
ravu
ra -
20
12 -
Ed
son
Ikê

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS20
origens e africanidades
arTE TÊXTil
TExTO HILDA SOUTO
ma das referências sobre o provável surgimento da técnica da tecelagem data do ano 6000 a.C., época que engloba o período neolítico, caracterizado pelo surgimento da agricultura, da criação de animais e das aldeias. O homem pré-histórico, observando a natureza, aprendendo e recolhendo dela o material necessário, valeu-se “de peles de animais e posteriormente
de folhas de plantas para proteger-se”, passando “a utilizar-se, de forma sistemática, de fibras vegetais e tecidos animais”, salienta Maria Rita Webster, pesquisadora e tecelã.
Para chegar até a construção do tecido, passando por todo o processo de fabricação do fio desde plantar, cardar, fiar, tingir e, por fim, tecer, o homem despendeu muita energia para suprir suas necessidades têxteis básicas. Ao confeccionar qualquer peça tecida ou trançada, utiliza-se diversas fibras provenientes da natureza. O produto final exibi características próprias que surpreendem pela qualidade e originalidade tão diferentes da matéria que o constituiu. Encontramos, na Bíblia, na literatura e nas artes plásticas, documentos valiosíssimos que exemplificam a diversidade de técnicas e materiais dentro do universo têxtil.
Pintores e escritores nos legaram, com suas obras, provas irrefutáveis do uso dessas técnicas em diversas épocas e lugares. Por se tratar de matéria-prima perecível, os testemunhos fixados nas artes plásticas e na escrita acabam sendo, quase que exclusivamente, a única documentação que sobreviveu às intempéries e nos dá uma datação precisa do uso da tecelagem em épocas muito remotas.
u

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS 21
O extenso continente africano possui uma vasta tradição têxtil. A primeira matéria-prima utilizada para confecção de roupas foi, provavelmente, a pele de animais, extremamente numerosos no continente. Outro material que precedeu e muitas vezes até hoje chega a substituir as roupas tecidas, principalmente na África Central, são as cascas de árvores batidas, decoradas com pinturas à base de pigmentos vegetais, que servem também como cama e cobertura para as tendas.
Os tecidos sempre tiveram um grande valor na cultura africana, sendo muitas vezes utilizados como moeda corrente até para pagamentos de multas, como em Serra Leoa.
Armazenar grandes quantidades de tecidos foi, por muito tempo, indicação de elevado status e poder. Em ocasiões especiais como o nascimento ou o casamento, costuma-se presentear com tecidos, que também são o melhor presente em situações mais tensas, para amenizar as rivalidades.
Na Costa do Marfim ainda existe o hábito, principalmente entre os mais idosos, de preparar o próprio funeral. Além de providenciar antecipadamente a urna funerária, armazenam-se tecidos de boa qualidade que serão utilizados no dia do sepultamento. Um missionário católico na África relata que “antes do momento do enterro, muitas pessoas trazem uma peça de pano, às vezes de qualidade, para oferecer ao defunto, que será embrulhado nele. Serão estes panos, conforme a crença, que ele apresentará aos seus antepassados que estão em outra vida, dizendo-lhes: ‘Veja o que meus parentes e amigos me ofereceram; eles foram generosos comigo’. Desta forma, os antepassados continuarão a abençoar e proteger aquela aldeia e todos os seus habitantes”.
O contato com tribos nômades árabes propiciou a incrementação da técnica da tecelagem. Os árabes iniciaram sua dominação na África do Norte, no ano de 640, a partir do Egito. Na África Oriental, estabeleceram pequenos postos de comércio e troca de mercadorias entre o século 7 e o século 11. Esse intercâmbio não só favoreceu o comércio de marfim, ouro e metais, mas também o de tecidos e, sobretudo, o tráfico de escravos para a China, Índia e a difusão da fé mulçumana entre os habitantes da corte.
A partir do século 15 iniciou-se a penetração européia na África, primeiramente com a conquista dos portugueses, que estabeleceram o monopólio do tráfico de escravos, até a chegada dos espanhóis em 1580. Em seguida vieram os franceses, os holandeses e os ingleses.
Os tecidos africanos, que são geralmente confeccionados com lã de carneiro, pêlo da cabra, o pêlo de camelo, algodão, ráfia e seda, estão intimamente associados à cultura africana e são tão diversificados quanto os grupos étnicos existentes no continente. Ao contrário do que acontece em outras culturas, os homens que tecem têm grande prestígio.
Tanto para vestir como para decorar a casa, ou mesmo para enterrar seus mortos, existe uma ritualidade e um significado inerente aos têxteis confeccionados para cada ocasião. Nas
vestimentas, os padrões, as cores e os ornamentos estão imediatamente associados às posses, riquezas e status de quem os usa, e os que não possuem riquezas guardam suas melhores vestes para ocasiões especiais. “Cores particulares, tipos de decoração ou padrões de vestimenta podem ter significados políticos e rituais”, afirma o professor John Picton em seu livro African Textiles (Tecidos africanos), de 1989.
Para algumas tribos, por exemplo, o vermelho usado em algumas cerimônias pode estar relacionado ao perigo e às guerras, enquanto em outras pode estar associado ao sucesso e às grandes realizações. Segundo o africanólogo Alberto da Costa e Silva, em entrevista à TV Cultura na inauguração da mostra Arte da África, no Rio de Janeiro, essas diferenças contribuem para concluirmos que existem “várias Áfricas”. Em alguns casos, a distância entre os diversos grupos étnicos é pequena, mas o significado dado a certos objetos ou mesmo a relação deles com a cor utilizada, como no exemplo mencionado, é bastante diversificada.
Na questão da classificação dos teares usados na África, por exemplo, nos quais se fabrica uma enorme variedade de tecidos com diferentes tamanhos e padrões, alguns autores chegaram à divisão consensual em dois grupos: o tear com liço único (single-heddle loom) e o tear com duplo liço (double-heddle loom).
O liço é um conjunto de cordas ou fios verticais por onde passam os fios do urdume, de modo a que estes sejam separados em fios pares e ímpares, facilitando o trabalho na hora da passagem da trama. A separação dos fios do urdume se chama cala.
No tear com liço único, o urdume é preso em duas barras paralelas e os liços são movimentados manualmente. Após a passagem da trama, os fios são batidos com o auxílio de um pente. Esse tear, o mais difundido na África, pode ser montado verticalmente, horizontalmente ou formando um ângulo oblíquo com a parede, e é fixado ao solo, com o que se obtém a tensão do urdume necessária para a passagem da trama. Tanto os homens quanto as mulheres se utilizam do tear com liço único para confeccionar tecidos para as tendas, roupas e esteiras, empregando lã de cabra, algodão, ráfia e couro.
A origem do tear horizontal com liço único entre as tecelãs do Norte da África deve-se ao contato com as tribos nômades árabes, que possibilitou a utilização da lã na confecção de tecidos para a cobertura das tendas, no lugar do couro e da esteira. Antes disso, o tear mais utilizado era o tear vertical com liço único.
Outras regiões que também se utilizam do tear de liço único montado horizontalmente são a Nigéria e o Zaire.
Entre as várias etnias africanas há ainda uma outra forma de tecer. O tear empregado é o tear com liço único, mas, enquanto nas outras possibilidades já citadas tanto a trave de baixo quanto a trave de cima estão presas a uma estrutura, neste outro o corpo do próprio tecelão faz com que o urdume mantenha-se tenso e, assim, possibilite a passagem da trama. A trave de cima do tear fica presa a uma estrutura fixa e a trave de baixo é ancorada ao corpo

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS22
do tecelão, formando um ângulo de 45º. Para tecer, o tecelão senta-se embaixo desse ângulo e seu corpo é o responsável por manter os fios do urdume esticados. Esse tipo de tear é encontrado na parte noroeste do Zaire, usado para tecer roupas de ráfia. Toda a dificuldade que esse método apresenta, e que o faz ser chamado “método de tortura”, tornou limitada a sua difusão.
No tear com duplo liço, o movimento do urdume se dá com o auxílio dos dedos dos pés ou pedais que acionam os liços para cima e para baixo, preparando a cala para receber a trama. A trama é passada com uma lançadeira e batida com o pente fixo do próprio tear. Esse tipo de tear, utilizado exclusivamente por homens e que empregam fios de algodão, lãs e seda para tecer roupas, é encontrado nas regiões Oeste e Nordeste da África (Somália, Etiópia, Sudão e sul do Egito) e na parte leste de Madagascar. Atualmente, na parte Oeste, tece-se também com rayon e lurex. No Nordeste africano, a fibra mais empregada é o algodão.
A peça da figura acima, originária da Guiné Bissau, Oeste da África, mostra um exemplo de tecelagem confeccionada no tear com duplo liço. A urdidura escura é a base para os desenhos geometrizados e coloridos da trama. Alguns autores se referem a esse tipo de trabalho como “trama flutuante” (weft-float patterns), pois, ao sobrepor dois ou mais fios do urdume, a trama fica aparente, formando uma espécie de alça para, em seguida, prender-se novamente ao urdume.
Os desenhos e padrões africanos não sofreram grande influência européia. As influências estrangeiras se deram mais por intermédio dos fios importados, corantes e tecidos. Há, porém, algumas exceções, sobretudo no oeste africano, onde escravos assimilaram de tecelões portugueses os padrões geométricos.
Entre as numerosas técnicas têxteis exploradas pelos africanos, existem duas, além da tecelagem já citada. A primeira são as aplicações em tecidos e a segunda são os trabalhos realizados com miçangas.
As aplicações são pedaços de tecidos que se adicionam a outro tecido base já pronto. Na África, a origem dessa técnica está associada
aos aborígenes e foi difundida por todo o continente.
Entre os africanos, as aplicações são usadas em roupas de cerimônia, banners e flâmulas, e têm significados muito precisos. A roupa identifica e distingue o usuário e é um código de leitura para quem olha. Os banners recordam os feitos militares de oficiais e as flâmulas contam, em cenas narrativas, esses feitos.
Os trabalhos com miçangas aparecem tanto aplicados aos tecidos quanto em adornos. O sul da África tem grande tradição nesse tipo de trabalho. No século 16, o comércio de miçangas de vidro foi introduzido pelos portugueses, que trocavam essa mercadoria por escravos, ouro e marfim. As miçangas, que eram fabricadas na Europa, eram destinadas ao comércio no continente africano. Um dos principais centros produtores era a cidade de Veneza.
No século 18, devido à expansão do Império Zulu, houve uma maior penetração do comércio de miçangas, na região ao norte da atual cidade sul-africana de Natal. O rei Shaka Zulu decretava quais os tipos de pedras que deveriam entrar em seu território e escolhia quem teria a honra de usá-las. Os comerciantes se reportavam primeiramente a ele para poder comercializar suas mercadorias, principalmente as contas de vidro.
No Império Zulu, além de mercadoria de troca, as miçangas eram um adorno espetacular na vida social e possuíam um significado cultural e simbólico. Nas variedades de cores das miçangas identificava-se a posição social e as façanhas extraordinárias individuais. Estilos particulares caracterizavam roupas masculinas em oposição às vestes femininas e distinguiam jovens de velhos, casados de solteiros, plebeus de nobres e senhores de servos. Grande quantidade de miçangas eram usadas nas vestimentas de uso diário de feiticeiros e médicos, diferenciando-os do restante da população.
Estas tradições sofreram contemporaneamente algumas transformações na vida cotidiana dos Zulus, principalmente com relação ao seu significado. A razão principal disso está diretamente ligada à colonização e às religiões que passaram a se difundir após a chegada dos colonizadores. Mesmo assim, as miçangas ainda guardam alguns simbolismos que estão diretamente ligados ao mistério que envolve esse intrincado sistema de comunicação não-verbal que a linguagem das miçangas transmite a quem as observa.
O ato de tecer ou bordar nas culturas africanas implica em não confundir o uso dos tecidos com uma simples cobertura para o corpo mas, ao contrário, os africanos consideram o pano como uma segunda pele. Metaforicamente, entendem que o fio que tece o tecido é o mesmo fio que tece a vida, com sua sucessão de idas e voltas num determinado ciclo de existência.
HIlDA SOuTO é mestre em artes visuais pela Unesp,
artista plástica, educadora e pesquisadora com
ênfase em arte têxtil.
matéria-prima: urdume e trama de algodão. Técnica: tecelagem (tear com duplo liço). 176 x 20 cm.
FrAn
CiSC
o D
AnTA
S

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS 23
qUiNTETO
Na língua tupi-guarani Abanã significa gente de cabelo forte e duro. Numa adaptação mais livre desta jornalista que vos escreve, a expressão remete também à gente de fibra, corajosa, ousada e, por que não, criativa. A palavra indígena não poderia ser o melhor nome para o grupo que desenvolve um trabalho interessante e inovador em São Paulo ao unir a delicadeza da música clássica e erudita com as punjentes batidas da sonoridade africana e afrobrasileira: o Quinteto Abanã.
Di Ganzá está no violão; Renato Antunes, no violoncelo; João Nascimento, na percussão; na voz, a bela cantora lírica Negravat. Sentiu falta de mais alguém para ser um quinteto, não é? Pois bem, o quinto elemento é um artista convidado, que pode ser no instrumental, no canto, na dança...
Se deixarmos nos levar pelo senso comum, a primeira vista, música lírica e música afro podem parecer distantes, algo como água e óleo, que não podem se misturar. Mas isso é a o que a história e também a sociedade nos fizeram acreditar: cada um no seu quadrado, cada produto em sua prateleira. Porém, a pesquisa do Quinteto Abanã mostra que estamos muito, mas muito enganados. A singeleza do trabalho destes jovens artistas nos mostra, em termos práticos e sonoros, que o lirismo de um violão clássico e o afro de uma canção para orixás, estão muito mais próximos do que se pode supor nossa vã filosofia.
O Quinteto Abanã, em sua origem, era um Duo. Nasceu do encontro de Di Ganzá e Negravat, que se conheceram numa oficina de audiovisual quando descobriram que estavam na mesma sala da ULM (Universidade Livre de Música), em 2002. Na época, os dois se iniciavam na arte musical e, em comum, além da imediata e mútua simpatia, tinham a vontade de fazer música. “A gente se interessava por arranjos, transcrições de canções
TExTO CHRISTIANE GOMES
abanãpara o piano e violão. Passamos por diversos repertórios. Enquanto isso, fomos nos reconhecendo na questão negra. Como só reproduzíamos canções européias, começamos a pensar que deveríamos fazer algo relacionado à cultura afro. Por questão de identidade mesmo”, conta Negravat.
Foi aí que a ficha caiu. “Somos negros. Vivemos no Brasil. Vamos ficar reproduzindo a técnica européia? Não. A gente queria se identificar, buscar a música negra e indígena. Então começamos a pesquisar”, complementa. E nesse caminho, outras pessoas surgiram, atraídas pela proposta do grupo, claro, com uma pitada de ajuda do universo, conspirando a favor.
Numa ensolarada manhã do inverno paulistano, O Menelick 2º Ato encontrou os quatro elementos do Quinteto Abanã para conhecer mais sobre sua proposta, sua formação, seu processo de pesquisa. À seguir você fica sabendo um pouco mais das idéias trocadas neste alegre encontro:
NO INíCIO VOz E VIOLãO, DEPOIS....
Negravat: Eu e o Di Ganzá tínhamos o Duo Abana, com a proposta de levar o ritmo afro para o violão. Mas todo mundo dizia que faltava uma percussão, o próprio Di Ganzá concordava. Quando o Di Ganzá conheceu o João, me contou que ele, além de tocar muito bem, também tinha um lance legal com a pesquisa. Nessa idéia de ter um

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS24
percussionista, a pessoa que a gente pensou, de cara, foi o João.
di Ganzá: Fomos convidados, eu e a Negravat, a ir na comemoração do aniversário do João. A gente quis dar um presente para ele em forma de musica e lá foi o grande encontro.
João: Em 2009 eu e o Di Ganzá nos conhecemos em um trabalho teatral coordenado pelo João das Neves. Foi quando ele me chamou para ensaiar. Tudo aconteceu de uma forma muito orgânica.
Negravat: nessa mesma época o Di Ganzá estava compondo as canções para a Yorubópera Logun-Edé1. Inserido neste processo, ele pensou que o Abanã também poderia ter alguém que tocasse violoncelo. Uma pessoa que lesse partituras, dominasse o instrumento, mas que também tivesse abertura para nossa proposta.
di Ganzá: o Renato foi fazer um teste para entrar como músico no Logun-Edé. Ele passou, ficamos amigos, ele abraçou a idéia, se adaptou e pronto já estávamos tocando juntos.
renato: Quando cheguei, o grupo já tinha uma proposta dem definida e um repertório pronto. Pra mim foi mais fácil.
BATIDAS AFRO E MúSICA ERUDITA:
O qUE SAI DESSA MISTURA?
di Ganzá: Nossa proposta nasceu a partir da vontade de nos reconhecer. Ouvir algo que pudéssemos nos identificar. Eu gosto muito de Mozart, de Chopin, mas tinha o desejo de ouvir algo que fosse erudito e que ao mesmo tempo pudesse enxergar características da minha cultura. Foi até uma vontade um pouco ingênua de juntar duas coisas tão diferentes e fazê-las dialogar. Porque a musica clássica sempre foi vista como de excelência e a mãe de todas as musicas; já a musica étnica foi sempre encarada como batuque, ligada à religiosidade.
renato: Todos nós buscamos nossa identidade cultural. Todos temos essa necessidade. O Di Ganzá é formado em violão erudito. Por isso ele não vai se contentar em fazer uma música que remeta à seus ancestrais, fazendo um violão só com três acordes. Ele vai transpor, linkar essas experiências clássicas com as musicas tradicionais que tem a ver com sua raiz. É uma forma de aproximar a música clássica das pessoas.
A ideia do Abanã é de aproximar e essa proposta está diretamente ligada à minha escolha de fazer esse trabalho. No canto lírico, vemos muitos estereótipos. Em uma ópera de Mozart, por exemplo, nunca a cantora seria uma menina como eu: negra e com dreads no cabelo. Quando comecei a cantar, não tinha muita consciência disso. Á medida que fui estudando, me liguei na coisa do cabelo, da pele e me dei conta de que não me encaixava no que as montagens operísticas pregavam. Isso foi determinante para que eu escolhesse cantar as canções que fazemos no Abanã. Não sentia vontade de me adaptar em nenhum estereótipo europeu. Seria como se eu me renegasse. A arte para mim está ligada à vida. Mas até eu entender isso, vivi uma grande crise. A minha intenção não é mudar o meio clássico. Ele está aí, consolidado; o respeito, mas tenho minha liberdade.
No Abanã, além do ideológico, entrou também a necessidade de querer fazer algo diferente do que já existe. Fiz minha escolha de me dedicar à cultura afro, continuando com meu canto lírico, mas seguindo minhas idéias. Não adianta só ser bonito. Tem que ser bonito, criativo e verdadeiro. Me sinto verdadeira fazendo canto lírico dos orixás. Fui descobrindo coisas sobre mim que não saberia fazendo outro repertório. Eu posso até cantar outras canções, mas onde eu me encontro e sinto minha ancestralidade e meu caminho é nesse repertório.
João: O Abanã na verdade propõe uma quebra de paradigma. O que é música clássica? Aprendemos que é Mozart, Beethoven... Mas a África também tem sua música clássica. O Brasil também, todos os países, culturas e etnias tem. Quando propomos essa fusão de linguagem e de cultura também estamos propondo uma quebra de formatações que aprendemos desde cedo. Estou estudando história da musica ocidental que, oficialmente, começa com a escrita. Mas e antes disso? E as civilizações antigas?
Falar de música ocidental a partir de um registro de escrita nos faz pensar se as populações indígenas que viviam aqui não tinham sua música. Os colonizadores portugueses chegaram aqui e não encontraram nada? Todos estes paradigmas que são formatados a gente tenta quebrar e simplesmente fazer a música que tem sentido para nós.
Os concertos de câmara, que é uma coisa que a gente gosta de fazer, por ter uma formação mais acústica, era em sua origem e até hoje, feitos para uma elite, para os nobres e nunca para o povo, que não tinha acesso à eles. Daí você se liga e percebe que hoje é grande o número de pessoas que nunca entraram no Teatro Municipal, aqui em São Paulo. Por aí entendemos a estrutura de muita coisa.
Daí, surge o projeto de se fazer uma ópera que fale da cultura yoruba, a Yorubópera Logun Edé. A primeira reação é se pensar que isso não encaixa muito bem, que pode ficar meio estranho. De repente tem um grupo que faz musica clássica e lírica a partir da mitologia de orixás e de seus cantos sagrados. Isso quebra tudo. A gente está tentando cada vez mais buscar o que faz sentido pra gente. Essa nova composição, essa forma diferente do fazer. A minha música brasileira também é clássica e erudita. O jongo, o samba, a umbigada, que são feitos há tempos, também são clássicos. Assim como Noel Rosa, Pixinguinha.
O PROCESSO CRIATIvO
Di Ganzá: Inicialmente, a tarefa de fazer os arranjos do Abanã era minha, mas depois que chegaram o João e o Renato, esse trabalho se dividiu. Fazemos juntos. Claro que muitas vezes eu levo propostas, mas tudo é muito aberto e livre. O João faz músicas incríveis: já temos quatro dele em nosso repertório.
João: quando entrei no grupo já havia uma pesquisa e uma proposta bem trabalhada. Um repertório com base nas cantigas para os orixás e as composições próprias. Hoje esse repertório vai serenovando.

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS 25
O processo criativo é dessa forma: temos um norte, que são músicas de matriz africana e indígena e em cima disso pesquisamos e experimentamos aquilo que funciona ou não. Teve muita coisa que surgiu do processo da Yorubópera Logun Edé, como a música para Oxum que é composição do Bruno (Gravanic, autor do texto). Depois, esse mesmo núcleo (eu, Di Ganzá, Negravat e Renato) fomos trabalhar com o Treme Terra no espetáculo Terreiro Urbano2. Muita coisa do nosso repertório também surgiu ali. A química do grupo na criação é muito boa.
Negravat: Cada um no grupo tem seu jeito, sua forma de trabalhar, de compor, e isso é um grande aprendizado e uma troca constante entre nós.
renato: Nosso trabalho tem sido muito bem visto e a cada apresentação que fazemos temos um retorno muito bacana e imediato. Acho que isso tem a ver com o processo de criação. Transpor o ijexá, batidas de atabaque, células rítmicas percussivas, em outros instrumentos é demais. Posso tocar um ijexá no meu violoncelo, por exemplo. Assim como o Movimento Armorial fez com a música sertaneja no nordeste do Brasil, estamos nesse caminho de juntar células rítmicas afrobrasileiras em instrumentos clássicos.
afro, DJs que estão usando música africana, a cultura hip hop. Acho que as coisas estão caminhando. Claro que é um processo lento, mas estamos inseridos nele. Hoje em dia com a internet, as pessoas inquietas estão se encontrando, trocando, se conectando. E esse é um processo histórico do qual fazemos parte.
ENCONTRO COm CARlOS mOORE
João: Mandamos uma música para o Carlos Moore4 e, na sequência, fomos entrevistá-lo. Lá ele que nos perguntou: sua musica está a serviço do que e para que? Ele colocou uma pulga na nossa orelha mesmo. Moore é uma pessoa muito provocativa no melhor sentido que isso pode ter. Ele nos disse que podemos fazer musica do jeito que a gente quiser.
Negravat: eu sempre tive uma rigidez muito forte quando cantava. E as coisas que ele disse para a gente me fizeram acessar outros lugares. Até agora estou digerindo o que conversamos. Hoje eu não penso só em ter a técnica, busco mais. Não quero só cantar bonito. Quero despertar sentimentos na pessoa que me ouve: a lágrima que cai, o coração que
Di Ganzá, negravat, renato Antunes e João nascimento.
(1) Escrita por Bruno Gravanic e com direção musical de Di Ganzá, a Yorubópera Logun-Edé conta a história desse orixá, filho de Oxóssi e Oxum.(2) O Treme Terra, grupo que nasceu em 2006, no Morro Do Querosene, trabalha na valorização e difusão da cultura afro-brasileira por meio de oficinas de formação artística voltadas para jovens.(3) Orfeu Mestiço, uma Hip Hópera Brasileira, é a mais recente montagem do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, mistura a ópera com a linguagem popular e urbana do Brasil.(4) Cubano radicado em Salvador, Carlos Moore é pesquisador e escritor especialista em questões de raça, gênero e etnia.
CHRISTIANE gOmES é jornalista, mestra em Comunicação
e Cultura pela USP, dançarina e coreógrafa do Bloco Afro
lú Obá de Min.
mAn
DELA
CrEW
JuNTOS E mISTuRADOS Em um FORTE mOvImENTO
João: É legal entender o Abanã não apenas como um grupo musical. A gente está preocupado com questões que vão além da estética. Queremos juntar as pessoas. Trabalhar com a comunidade pra gente é fundamental e é um estimulador do nosso processo criativo. A gente fez um trabalho com o Treme Terra, eu e o Di Ganzá participamos da peça Orfeu Mestiço3, eu faço parte da Frente 3 de Fevereiro, a Negravat também canta com o grupo A 4 Quatro Vozes. Fazemos parte de um movimento muito intenso que está acontecendo em São Paulo com a cultura afro. A gente pode contribuir para tornar isso mais forte. Não como únicos, mas nos somando nesse processo. Queremos trazer questões culturais e políticas, em uma de nossas canções, falamos da usina de Belo Monte. Nos preocupamos com o que acontece no mundo hoje.
renato: Eu já morei em vários estados do Brasil. Agora, que estou em São Paulo, posso dizer que o movimento cultural afro está muito forte na cidade. O Ilú Obá de Min, por exemplo, a cada ano, leva mais gente em seu cortejo pelas ruas da cidade no carnaval; o Treme Terra, a dança
acelera. A música é uma forma de compartilhar e o individualismo cerca um pouco o artista quando ele está no palco. Mas eu estou para dividir, para trocar. E isso foi muito legal no processo com o Treme Terra. A gente tem que agregar. Eu ganho muito mais quando compartilho.
PróximOS PaSSOS dO CamiNhO
João: Estamos no processo de pensar no disco. Fazer menos shows para focar na produção desse nosso registro, como escolher repertório, porque tem musica que funciona em show e outras não. Estamos tentando também buscar editais, captar recursos para gravar. Discutimos também quem poderão ser os convidados.

CONaCrY EM
História social, horoya* e arte na África do Oeste
*horoya = liberdade, na língua sussu
Aeroporto Charles de Gaulle, Paris, janeiro de 2012. Entre centenas de passageiros ávidos por cruzar a alfândega e adentrar oficialmente em território francês, funcionários do governo realizam uma revista, selecionando alguns cidadãos “aleatórios” para a checagem das bagagens. Um homem de feições árabes, outro indiano e eu, uma mulher negra, foram os escolhidos. Eterna espera até que perguntaram, duvidaram, reviraram nossos pertences, imaginaram e mesmo fantasiaram sobre o que nós terceiro mundistas traríamos de ilegal em nossas malas. Enfim nada encontram além da expressão indignada de uma brasileira que bem sabe os estereótipos dos suspeitos. Revirando a estória passada e presente eles são os mesmos. E como não era ano da França no Brasil nem vice- versa, simpatias temporárias para estimular os mercados bilaterais, senti na pele do meu cabelo crespo experiências comuns àqueles que vindos das nações do sul rumam às ex-pátrias colonizadoras, atravessam Gibraltares e escalam cercas eletrificadas em busca de oportunidades. O que não era meu caso, afinal, meu destino era outro.
Quem me dera ter apenas o oceano como fronteira entre Brasil e África. Depois do saque colonizador, o terceiro mundo bate às portas dos países do norte. A exemplo disto, vemos milhares de malineses, senegaleses, burkinabês, marfinenses, guineanos que imigram para a França em fluxos iniciados em meados dos anos 1970 e que se estendem até os dias atuais. Essas correntes migratórias criaram, por exemplo, uma “França Negra”, visível, nos kentes, bogolans, wax e outros tecidos elegantes que colorem as indumentárias, perceptível nos tchourais que perfumam as mulheres, nos gestuais e línguas vivas em alto e bom tom, nos bissaps, nozes de cola, karités que temperam as ruas de bairros parisienses como Châteu Rouge, Strasbourg, St. Denis e Châteu d´Eau. São presenças historicamente indesejadas e cujo embate com o Estado francês revela faces xenofóbicas1 e posturas moralistas que culpam os imigrantes pelas chagas europeias.
E se o velho continente continua sendo mirada turística, profissional ou projeto de vida para muitos brasileiros, interessavam-me outras trilhas. Meu horizonte estava numa pequena nação na África do Oeste situada em uma região que foi solo fértil em acontecimentos históricos pouco citados na historiografia oficial narrada pelo Ocidente. Lá floresceu a capital do pujante Império do Mali (séculos 12/ 14). A Guiné, mais conhecida como Guiné Conacry, sobrenome
MOViMENTO
TExTO LUCIANE RAMOS SILVA
FoTo
S rE
nEE
ruS
hin
G
o menelick SegunDo 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS26

27
DAn
iELA
STE
FAn
o
que faz referência à sua capital, foi submetida ao colonialismo francês após a derrota do grande estrategista de origem malinkê2, Samori Touré, que confrontou a investida francesa tornando-se o principal oponente do imperialismo europeu na África do Oeste do século 19.
O jugo colonial francês estanca quando em 1958, o líder político Ahmed Sékou Touré (1922-1984) declara sua oposição à proposta do presidente Charles de Gaulle de se criar uma comunidade francesa na África francófona - praticamente a continuidade oficial do colonialismo. Como único voto negativo à proposta, optando pela independência irrestrita, Touré afirmou que preferia “a pobreza na liberdade, do que a riqueza na escravidão”. Apesar de colocar o país na vanguarda dos movimentos nacionalistas, o “não” de Touré resultou em represálias do Estado francês que reverberam até os dias atuais na vida sócio econômica do país. O líder antecedeu a maioria das então colônias francesas e tornou-se figura importante na primavera das independências africanas. Sua presença como chefe de Estado ora herói, ora tirano, revela traços comuns aos Estados africanos marcados pelo profundo patriarcalismo e patrimonialismo. Entre reveses e conquistas, baseado em um Estado altamente militarizado e firme no propósito de fazer da Guiné uma vitrine prestigiosa, o presidente implantou uma série de medidas que visavam a integração regional, a redução das diferenças étnicas e religiosas e a escalada a uma tal modernidade africana. Doces saudosismos e rancores amargos se misturam na memória do povo guineano. A revolução de Sekou Touré desmanchou-se em sonho para uns e pesadelo para outros que se exilaram em países vizinhos ou morreram nas masmorras do Camp Boiro3 acusados de conspiração.
lES BAllETS AFRICAINS –
TRADICIONAl E mODERNA
PERFORmANCE AFRICANA
Criado nos anos 50 pelo poeta, político e homem do teatro Keita Fodeba ( 1921-1969 ), Les ballets Africains, de fascínio e sucesso internacionais,
tornou-se companhia estatal como parte da política de Estado pan-africanista que almejava fazer da arte elemento de valorização e promoção das riquezas culturais do país. Levando para o palco danças, músicas e narrativas tradicionais com arranjos, coreografias, marcações rítmicas e convenções antes ausentes nos contextos das aldeias, Keita Fodeba remodela todo universo das danças e músicas criando um formato até então pouco conhecido no continente, adaptando-os para estruturas de apresentação ocidentais. Sobre tais inovações, o psiquiatra e escritor martiniquenho Frantz Fanon (NOTA 4), afirma: “Keita Fodeba reinterpreta todas as imagens rítmicas de seu país de um ponto de vista revolucionário”.
Além do Les Ballets Africains, compa-nhias como o Balé Militar e o Balé Djolibá, são outras referências presentes na história do país e na configuração de grupos privados nos bairros e distritos em décadas posteriores. Esses balés também marcaram a trajetória de artistas hoje radicados no exterior e que se tornaram figuras célebres na genealogia da dança e música mandinga mundo afora. O dançarino Youssouf Koumbassa, os percussionistas Famoudou Konaté e Mamady Keita são personagens centrais desse universo.
Vale lembrar que diversas companhias estatais floresceram em outras nações africanas durante os primeiros anos das independências adotando um modelo de política cultural em prol de anseios nacionalistas. O Balé Nacional do Senegal é outro importante exemplo. Seu criador, o ator e diretor de teatro Maurice Sonar Senghor, que em finais dos anos 40 performava nos night clubs parisienses recitando poesias que criticavam o colonialismo em sua terra natal, valorizava o citação de autores africanos em suas produções, trazendo perspectivas e problemáticas orientadas para a construção de um teatro negro.
Permeadas por uma política cultural influenciada pelo socialismo, um socialismo baseado em sistemas comunitários africanos, as seleções
para composição dos Balés eram processos árduos e que requeriam devoção, inclusive política, dos artistas membros. Mamady Keita, no documentário Djembefolá afirma: “Nós nos considerávamos revolucionários”. As companhias eram apresentadas como embaixadoras da arte, cultura e história do país.
Mas esses projetos estatais não estavam livres de contradições, na medida em que para construir uma imagem de coesão nacional, houve a imposição de universalismos que desintegravam especificidades étnicas e religiosas, visando apagar todos os “barbarismos” considerados entraves ao desenvolvimento da nação. O privilégio dado a algumas etnias em detrimento de outras também fez parte desses processos homogeneizadores. Os rituais de máscaras da etnia Baga, por exemplo, foram marginalizados por serem considerados retrógrados.
A nacionalização de grupos musicais e orquestras também fez parte das motivações políticas levadas a cabo por Sekou Touré, que assim como outros chefes de Estado das nascentes nações africanas, estava ciente do efeito popular da música e da dança na sociedade. Como exemplo temos a Horoya National Band e Les Amazones de Guinee, esta última originada de orquestras da brigada nacional e composta exclusivamente por mulheres.
O Les Ballets Africains foi fundante não apenas nos cruzamentos entre arte e lutas de libertação, mas também nas releituras da tradição nas artes e nos reflexos em arenas internacionais, como o caso da influência na trajetória de ativistas pelos direitos civis nos Estados Unidos. O cantor Harry Belafonte, o ativista Stokely Carmichael, do Black Panthers e a cantora Miriam Makeba, banida pelo apartheid sul africano e exilada nos Estados Unidos , foram simpatizantes e aliados de Sekou Touré cujo nacionalismo representava a possibilidade de uma nova auto-percepção para as populações negras nos Estados Unidos. Não por acaso o balé nacional também inspirou o trompetista Miles Davis em um de seus álbuns mais aclamados” Kind of Blues (1959).

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS28
Eu tinha chegado na coisa modal assistindo o Ballet Africaine (sic) da Guiné... Nós fomos para a performance do Ballet Africaine (sic) e aquilo me revirou quando ví o que estavam fazendo, os passos, todos os saltos, movimentos aéreos . E quando ouví pela primeira vez tocarem o dedo no piano naquela noite e cantarem aquela canção com o outro cara dançando... man, aquilo foi algo poderoso. Foi belo. E o ritmo deles! O ritmo dos dançarinos era algo de outro mundo. Eu contava as batidas enquanto os observava. Eles eram tão acrobáticos. Eles tinham aquele percussionista que os observava dançar fazendo seus giros e shit, e quando eles pulavam ele tocava Da Da Da Da Pow! Naquele ritmo insano.
Miles Davis, vendo o grupo Les Ballets Africains em Nova
York. 1959 ou 1960. (Davis & Troupe, 1989, pp. 225-226).
É bem verdade que além do apelo sensorial dos ritmos há um refinamento das estruturas musicais, padrões rítmicos complexos e elaborações profundamente ligadas às tradições. A passagem para o universo dos palcos, desterritorializa a tradição, provocando mudanças que levam à adaptação dessas realidades visando um modelo que atenda também ao universo do entretenimento.
Interpretar essas práticas culturais com olhar renovado implica construir discursos distintos àqueles que encaram a tradição como vida petrificada e parada no tempo. As modernidades africanas, suas repercussões e deslocamentos nos impõem o desafio de repensar noções românticas e essenciais sobre o continente negro - o que não nos impede, também, de reivindicar e valorizar os elementos fundantes e geradores dessas manifestações culturais.
FESTAS DO POvO.
RODAS DA vIDA
Caminhar pelas ruas de Conacry e perceber as vidas que delas brotam é uma experiência singular. A pulsação cotidiana de gentes que andam, vendem baguetes frescas, recargas para celulares, homens que fazem unhas e modelam roupas, mulheres trançando cabelos infinitos, gritos extravasados nos dias de jogos da copa africana das nações. Dixxin, Kaporo, Madina, Nongo, Simbaya – bairros da cidade - passavam pelos olhos como cena de cinema.
Durante o inverno africano o país recebe boas dezenas de estrangeiros interessados em conhecer a cultura musical e danças locais. Para tanto, workshops de média duração são organizados por artistas guineanos consolidados em países como Estados Unidos, Bélgica, Alemanha e que sazonalmente retornam ao país para ministrar tais cursos. Em períodos intensivos, os estudantes, entre músicos, dançarinos, jornalistas, cineastas e outros interessados, entram em contato com o aprendizado técnico das danças e musicalidades. Dinamarca, Holanda, Estados Unidos, Chile, Japão, França, Austrália e Brasil, vejam só ... Mundos diversos pisam a terra vermelha guineana para participar de vivências como a que motivou minha viagem ao pais: “Dance and Drum with Youssouf Koumbassa”.
Com frequência os visitantes estrangeiros formam platéias nos dunumbás, nome dado a um tipo de dança e família de ritmos originários da região da Alta Guiné “Kankan, Siguiri e Koroussa” e que dão nome também à festas coletivas organizadas em grandes círculos . Assim como o dunumbá, dança dos homens fortes, outros ritmos são performados num espetáculo de movimentos, acrobacias
e virtuoses que estabelecem comunicações necessárias entre dançarinos e músicos que, ocupando o centro do círculo, dialogam entre frases do djembe que marcam o pé da dança em padrões rítmicos sincronizados e improvisam baseados em repertórios reconhecidos pelo djembefola, aquele que faz o djembe “falar”.
Apesar da presença estrangeira, geralmente disposta como expectadora, as rodas são espaços para troca e para que tod@s dancem, cantem, batam palmas. Só assim o círculo faz diferença. A distinção de papéis e distância entre músicos, dançarinos e plateia é bastante artificial para aqueles contextos, já que o mote não é a performance, mas sim a participação, a reciprocidade e comunhão onde músicos, dançarinos, cantores e “expectadores” são parte de um conjunto dinâmico. Ali a festa é para ser vivida e não apenas observada. Assim faz sentido.
CHINA, vAlE DO RIO DOCE ...
A guINÉ vAI BEm OBRIgADO?
São conflituosos os tempos que atravessamos em relação ao conhecimento e difusão das realidades africanas. A negação, já cansativa, de um passado pré- colonial rico em saberes e a experiência escravista cristalizaram um imaginário que pendula entre o exótico da fauna, flora e povos, o miserê à espera de ajuda humanitária e os Estados corruptos e sanguinários com seus diamantes de sangue, coltans de sangue – entre outros recursos minerais que alimentam a engrenagem capitalista dos países do norte - e tudo o mais que puder reverter em filme de horror. Por outro lado, notícias de ascensões econômicas e empoderamento das classes médias africanas, apontam para um “desenvolvimento” promissor. Desenvolvimento este que certamente não se relaciona com a melhoria dos potenciais internos.
Tal como outras nações terceiro mundistas, a Guiné não vai bem. Custo de vida, desemprego, precariedade da saúde pública, gestão de energia e água são problemas caros ao povo guineano. A riqueza gritante em recursos naturais não garante nem de longe o equilíbrio econômico necessário ao país - dotado de grandes reservas de alumínio, bauxita, minério de ferro, diamante, urânio, entre outros recursos que despertam interesses múltiplos - a mal cotada Vale do Rio Doce, célebre por seu comportamento social e ecológico reprováveis, adquiriu concessões para exploração de minério de ferro em Simandou , sudeste do país, avaliado como um dos melhores

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS 29
depósitos de minério não explorado do mundo. A série de governos autoritários somada à cobiça de corporações internacionais fazem do país espaço propício para a manutenção do já conhecido ciclo de exploração. Em decorrência das provisões e crescentes olhos de companhias externas, o governo da Guiné realizou uma revisão em seu código de mineração controlando a ação de empresas estrangeiras. A recente e ainda imatura experiência democrática, liderada pelo presidente Alpha Condé, abre oportunidades para investidores e traz alguns sopros de esperança para a boa governança.
Outro parceiro já bastante familiar aos contextos africanos é a China, cuja retórica de anti-hegemonia, cooperação e não ingerência tem garantido lugar de destaque na exploração de recursos energéticos abastecedores de suas industrias. Disseminando um discurso que valoriza relações mais horizontais, o Império Vermelho cresce os olhos para o potencial mineral do país declarando sua boa vontade e amizade. Prova disso, são as gentilezas e favores do governo chinês que doou 50 milhões de dólares para a construção de um estádio de futebol, além de outros presentes mais antigos como a construção do Palácio do Povo , da estação de televisão e do parlamento. A amizade entre os dois países já avança os 50 anos, quando a Guiné foi a primeira nação africana a reconhecer a China comunista. Amizades à parte, não há doação sem reciprocidade.
Percebo que a lógica da modernidade e a inserção internacional colocam-se como grandes desafios para a Guiné e demais nações africanas. Mas afinal, de que modernidade falamos? Daquela sustentada economicamente pelas mesmas instituições defensoras do escravismo? Que de mercantis tornaram-se liberais? A que assimila, pasteuriza e globaliza? Ou a modernidade que agrega a fruição dos tempos e une as realidades externas aos potenciais peculiares a cada contexto político social traduzindo-se em rio de muitos afluentes?
Essas múltiplas modernidades aparecem nas respostas criativas, manifestações da sociedade civil e estratégias que possibilitam a africanas e africanos construírem outros discursos acerca do continente e se reinventarem, por lá e na diáspora - culturas e sociedades em movimento.
*Dedico este texto à Fanta Kaba, ex-bailarina do Les Ballets Africains, que abriu as portas de sua morada, cedeu o quintal para dançarmos em algumas manhãs de sol ardente em Simbaya; Conversamos e aprendemos em preciosos momentos. Seu corpo vivido já não podia mais me ensinar os pés da dança, mas seus conselhos e olhar de mestra fizeram-me, mais uma vez, acreditar na potência da dança.
(1) XENOFOBIA. Originalmente a palavra vem do grego “xénos”, que significa “estranho” e “phóbos” que significa “medo”. Pode ser definida como comportamentos e atitudes que rejeitam, excluem e frequentemente difamam pessoas com base na percepção de que elas são “de fora” ou estrangeiros à uma dada comunidade, sociedade ou identidade nacional.(2) MALINKÊ. As identidades das populações africanas são marcadas de maneira profunda pela pertença étnica. Em muitos contextos, elas, inclusive, se sobrepõem à identidade nacional. (3) CAMP BOIRO. Campo de concentração situado no centro de Conacry e mantido de 1960 a 1984 como espaço de encarceramento, tortura ou morte de dissidentes do regime.(4) FRANTZ FANON. Frantz Fanon, martiniquenho de nascimento, pensador da descolonização, viveu parte de sua vida na Argélia quando desistiu de seu posto como médico psiquiatra para se juntar à luta armada, ocupando posição na FLN “Frente de Libertação Nacional.”
Sundjata ou a Epopéia Mandinga
Coleção Autores Africanos, nº 15
autor: Djibril Tamsir Niane
Editora Ática, São Paulo
1982
PARA vER
PARA OuvIR
PARA lER
Djembefola
Documentário de Laurent Chevallier
1991
Mogobalu
Mamady Keita
2009
Wassolon – Percussions Malinke
Mamady Keita & Sewa Kan
2009
luCIANE RAmOS SIlvA é antropóloga, professora, dançarina e doutoranda em
Artes da Cena na UNICAMP.

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS30
oi numa noite de terça que quatro rapazes se encontraram num clube dos Jardins em São Paulo. O motivo do encontro era um interesse mútuo por moda e estilo banhados por negritude. Joshua Kissi e Travis Gumbs são os responsáveis pelo site norte-americano Street Etiquette, e visitavam o Brasil a convite da marca Puma. Márcio Macedo, estudante de pós-graduação
que reside em Nova Iorque, estava em São Paulo para participar de um colóquio internacional sobre hip hop. O responsável pelo encontro fora o músico Jun Alcantara, que até aquele momento só conhecia os outros três por contatos via Internet. No encontro rápido discutiu-se moda, relações raciais, diferenças entre Brasil e Estados Unidos, dentre outras temáticas que surgiam do fato de sermos os únicos negros (para além de alguns funcionários
moda negra, masculina e contemporânea
f
TExTO JUN ALCANTARA E MÁRCIO MACEDO
como seguranças e faxineiros) no espaço daquele clube da região nobre da capital paulista. Jun, no dia seguinte, ainda teve a chance de levar os brothers americanos para um passeio mais off pela cidade com direito a visitas ao Parque do Ibirapuera, Museu Afro Brasil e um rolezinho básico e enclausurante de metrô.
Josh e Travis são duas figuras sofisticadas, mas bastante simples e simpáticas. Jovens negros de ascendência africana e caribenha, respectivamente, eles são moradores do Bronx, bairro ao norte da ilha de Manhattan, Nova Iorque, e vêm se tornando celebridades e referência no quesito moda negra urbana e contemporânea. A fama do site Street Etiquette já era grande na rede há um bom tempo, porém o frenesi em relação ao mesmo se tornou ainda maior após uma reportagem feita pelo diário nova-iorquino The New York Times intitulado Pushing the Boundaries of Black Style (Alargando as Fronteiras do Estilo Negro) e publicada no jornal em agosto de 2011. A grande novidade trazida por essas duas figuras é uma ampliação do que se entende por moda negra masculina e urbana. Ou seja, se você acha que ter estilo é caprichar naquele visual básico composto por tênis pra basquete descoladão, tipo Air Jordan, calça jeans baggy, camiseta larga e boné, é melhor se atualizar. O que o artigo do jornal americano ressalta é justamente a capacidade de Josh e Travis em combinar diferentes estilos e criar algo novo, mas sempre com um toque negro. Neste pequeno artigo, tentamos mostrar que o que nossos amigos do Street Etiquette vêm realizando faz parte de algo mais amplo no cenário da moda negra. Vejamos porque.
a nova ETiquETaDas ruas

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS 31
A ERA DE OuRO DO HIP HOP
E A DITADuRA DO gANgSTA RAP
O período que cobre a metade dos anos 1980 até meados dos 1990 é até hoje entendido como a época de ouro do hip hop norte-americano. Foi o momento que essa cultura juvenil articulada em expressões corporais (dança de rua), musicais (MC e DJ, rap) e plásticas (graffiti) ganhou o estrelado da mídia de massa via mercado fonográfico após uma gestação de uma década e meia em bairros negros e hispânicos de Nova Iorque como South Bronx, Harlem, Queens e, em menor intensidade, Brooklyn. Como qualquer cultura juvenil, o hip hop possuía uma vestimenta específica que bebia em várias influências distintas e, muitas vezes, díspares: o estilo dos cantores de funk dos anos 1970, dos ídolos de filmes blaxploitation dos anos 1960, como o detetive durão Shaft, dos grupos jamaicanos de reggae, da indumentária afrocêntrica dos ativistas negros dos anos 1960 e 70, dos b-boys e b-girls que lançavam passos contorcidos em rodas de breakdance, fly girls que frequentavam clubes de hip hop como o Harlem World, além de várias outras figuras que mesclavam elementos vindos de outras indumentárias urbanas. O rapper Kool Moe Dee e os componentes do grupo Whodini, por exemplo, usavam blazers, calças sociais e sapatos ou botas. Já o Run DMC e também o rapper LL Cool J (em seus primeiros anos) celebrizaram o visual b-boy (não podemos esquecer da canção My Adidas, do primeiro grupo oriundo do Queens). Chuck D, Flavor Flav e Terminator X do Public Enemy misturavam roupas esportivas com jaquetas camufladas e quepes militares, enquanto Queen Latifah, De La Soul e A Tribe Called Quest combinavam batas africanas estilizadas, filás e calças jeans ou camisas de linho folgadas e sem estampas, com calças de tecidos com temas afro, além da exibição de colares afrocêntricos, um estilo que podia ser verificado também em grupos como Arrested Development, P.M. Dawn e X Clan. Já os manos do Das EFX celebrizaram o uso das botas Timberland com jaquetas e bermudas jeans. Por fim, Foxy Brown, Lil’ Kim, Junior Mafia e Notorious B.I.G. bradavam em suas letras o fato de se vestirem com Gucci e Prada.
O jornalista Nelson George resume bem o estado da arte da moda no hip hop dos anos 1990 ao afirmar em seu livro Hip Hop America que existiam duas tendências na maneira de se vestir dos artistas que, consequentemente, influenciavam o público. “De um lado, há um círculo de tipos descolados, vestidos para impressionar, cujo o realce de uma moda hip hop faz alguém lembrar a deificação de Gucci e outras marcas.” “Mais encorajante são as pessoas que se mantêm na filosofia do ‘faça você mesmo’ que criou o hip hop.” Nesse último grupo estariam o empreendedores negros donos de marcas como Karl Kani, FUBU, Pelle Pelle, Rocawear (de propriedade do rapper Jay-Z), Phat Farm (propriedade do magnata do hip hop Russel Simmons), Sean John (cujo dono é o rapper e empresário Sean Combs) dentre outras.
KEiT
h PE
ArSo
n

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS32
No início do anos 1990 ocorreu a ascensão do gangsta rap, cujo os primeiros expoentes eram grupos originários da costa oeste dos Estados Unidos, como Ice T, N.W.A. (Niggers With Attitude), C.M.W. (Comptons Most Wanted), dentre outros. O que deu fama e autenticidade ao gangsta rap foi sua verborragia mal educada, sexualizada e raivosa, resultado da epidemia de crack que varria os EUA à época. Assim como outros estilos, ele também trazia uma indumentária específica incorporada nas calças jeans baggy, que eram grandes o suficiente para ficar caindo, mostrando cuecas boxers ou samba-canção. Diz a lenda que as mesmas são originárias de uma “cultura de cadeia”, onde a maioria dos detentos usavam calças folgadas e caindo devido a proibição, por medidas de segurança, do uso de cintos. O visual se complementava com camisetas também largas, bonés de beisebol e tênis leves como Puma cano baixo ou Converse Chuck Taylor (mais conhecido como All Star).
A crítica cultural Tricia Rose, em seu livro de 2008, Hip Hop Wars, mostra como a indústria fonográfica americana foi responsável por um processo de padronização do hip hop comercial em apenas um estilo, deixando outros de fora. O Gangsta rap, com sua inicial postura crítica e desafiadora do status quo e letras versando sobre masculinidade extremada, violência, drogas, sexo e gangues foi escolhido como o estilo a ser divulgado e investido em massa pelas gravadoras. Esse processo se deu devido às mudanças no mercado fonográfico, onde novas leis permitiram a fusão e compra de vários pequenos selos, gravadoras, rádios e TVs, o que permitiu que poucas empresas tivessem o controle da indústria fonográfica e, consequentemente, delimitasse o tipo de estilos musicais a serem produzidos e tocados. Ou seja, a diversidade de gêneros foi reduzida e o hip hop como um todo passou a ser identificado somente através dos elementos valorizados no gangsta rap. Nascia a ditadura do estilo gangsta.
Autores como o teórico em cultura popular Gerald Early e a socióloga Patricia Collins afirmam que a cultura hip hop é tomada como uma representação fiel do que seria toda a população afro-americana, algo que ganhou a formulação de “black authenticity” (autenticidade negra) e que se nutre de imagens estereotipadas da classe trabalhadora e urbana negra. Nessa representação distorcida dos negros urbanos, a imagética de jovens tem sido associada por um tempo considerável ao modo de se vestir muito próximo do gangsta rap, em que determinados elementos foram estandardizados e passaram a ser sinônimo de moda negra urbana, como calças jeans largas (incluindo o famoso sagging: ato de usar as calças abaixo
da cintura mostrando a roupa de baixo), tênis de cano alto para basquete, camisetas e camisas largas, bonés de times de beisebol ou futebol americano, moletons com capuz (hoodies) e jaquetas. A moda negra e urbana “padrão” a partir dessa época passou a ser, para o bem e para o mal, a forma de se vestir da classe trabalhadora afro-americana, excluindo daí as vestimentas mais associadas aos negro/as das classes média e alta, além de outros estilos urbanos não necessariamente nascidos no universo do hip hop.
BlACK DANDIES, JAzz muSICIANS, ROCKERS,
RASTAFARIS...
Com certeza você já viu algum mano andando pelas ruas de São Paulo ou em alguma balada todo ornamentado a la blazer, camisa e gravata borboleta. O visual pode ser visto em videoclipes recentes de hip hop e R&B norte-americanos, sempre apresentado como elementos de bom gosto e elegância. Entretanto, o que ninguém discute é como esse tipo de vestimenta tem seu modelo retirado de dândis do século XIX. Em seu livro Sobre a Modernidade (1996) o poeta e crítico de arte francês Charles Baudelaire classifica o dândi como uma figura de transição, um aristocrata que busca estabelecer seu lugar de distinção social numa sociedade em vias de se tornar efetivamente democrática. Eis aí a razão do dândi ser um homem obcecado por estilo e aparência, elementos que confirmariam sua sofisticação e ascendência aristocrática numa sociedade em mudança.
A figura do black dandy (dândi negro) tem sido usada há mais de cem anos para trazer dignidade à população negra da Diáspora Africana. Um dos mais famosos black dandies foi o intelectual afro-americano W.E.B. Du Bois (1868-1963). Du Bois era sociólogo de formação tendo realizado parte dos seus estudos na Alemanha e obtendo um doutorado pela Harvard University. Em seu eruditismo ele era visto como um símbolo de sofisticação cultural e intelectual. Nesse sentido, a vestimenta era entendida como a corporificação do lugar social de Du Bois. Ao mesmo tempo, suas roupas serviam como uma espécie de proteção simbólica contra o racismo norte-americano da época, que não via homens e mulheres negras como seres humanos. Essas questões são trabalhadas de forma analítica e descritiva por Monica Miller em seu livro Slaves To Fashion: Black Dandyism and the Styling of Diasporic Identity (2009). A autora mostra como o termo “black dandy” era aplicado a Du Bois, na verdade, tentando caricaturá-lo, apresentando-o como um negro “macaqueando” o estilo de vestir
ESTELA miAZZi desenhos da série Modos de aprisionamento do homem moderno (2012)

dos brancos de classe alta. Contudo, o que autora defende em seu livro é que o significado incorporado na vestimenta de alta classe tinha um valor de elevação social e humana para a população negra. Um dos primeiros atos de negros escravizados após obterem sua alforria era justamente comprar novas roupas que marcassem seu novo status social. Miller evidencia como a figura do black dandy, desde o século XIX, passou a ser utilizada por diferentes indivíduos negros ao redor da diáspora trazendo novos significados a essa vestimenta e como ela tem sido reatualizada por cantores de R&B e hip hop atuais: um exemplo é o rapper e ator do grupo Outkast, Andre 3000.
A incorporação do black dandy a nova imagética popular negra tem sido possível pela mudança que vem ocorrendo na música e artes negras dos anos 2000 para cá. Novas sonoridades, novos artistas e, conseqüentemente, novas roupas inspiradas em figurinos antigos que tentam se esquivar da calça e camiseta larga vistas no gangsta rap. Assim sendo, as influências podem vir do estilo refinado e cool dos músicos de jazz na década de 1950, dos arruaceiros rude boys jamaicanos na década de 1960, com suas calças curtas e chapéus pork pie, assim como o estilo vanguardista e cabelos dos músicos rastafari na década de 1970. Artistas que se mantiveram ou que saíram do underground, como Jean-Michel Basquiat e fotos antigas de pessoas estilosas ao redor do mundo, ao longo de várias décadas, são outras fontes de inspiração. Até mesmo estéticas diferenciadas dentro da própria cultura hip hop, que também foram ofuscadas pelo gangsta rap, estão sendo redescobertas e incorporadas: o visual do já citado grupo Arrested Development e os cabelos dos membros do De La Soul no início da década de 1990 que o digam. De forma sofisticada, tudo isso e mais aquilo que puder servir de inspiração está sendo adaptado ao estilo de hoje.
As referências mais óbvias quando se fala na mudança do visual da cultura hip hop são Pharrell e Kanye West. Ambos possuem uma postura diferente da maioria dos artistas de rap, menos intimidadora e mais sofisticada. Ambos não só flertaram, mas fizeram parcerias com marcas importantes do mundo da moda. Pharrell desenvolveu jóias e óculos para a marca Louis Vuitton. Kanye West, também para a Louis Vuitton, desenvolveu uma série limitada – e caríssima – de tênis. West foi além e, na segunda metade da década de 2000, passou a usar calças, jaquetas e camisetas mais ajustadas ao corpo. Isso provocou o desgosto de muitos, como deu margem a comentários e provocações, vindas não só dos ouvintes, mas de outros artistas de rap. Em 2007, Prodigy, membro do duo Mobb Deep, disse em entrevista a uma rádio que não havia necessidade de a polícia ir atrás de caras como Kanye West porque suas roupas são tão apertadas que daria pra ver de longe se ele estava armado ou não. Para eles, Kanye West “queimava o filme”, manchava a imagem dos rappers, que comumente se apresentavam como homens durões e viam nas roupas justas uma ameaça a sua masculinidade. Na verdade, o que incomodava Prodigy e outros artistas não partidários do modo de se vestir de West era que seu estilo deixava menos evidente uma certa hiper masculinidade vigente em boa parte do hip hop:
não é a toa que os termos mais usados para desqualificar West à época foram poser ou fag (viado), devido a sua preocupação com a aparência. Mas o repúdio não foi maior que a aceitação, e o estilo sofisticado de West ganhou adeptos do público e artistas do cenário do rap e do R&B.
Em menor escala, uma nova geração de rappers de Chicago também quebrava a hegemonia das roupas largas e atitude intimidadora. Kid Cudi, que posteriormente se tornaria pupilo de Kanye West, e Hollywood Holt foram alguns deles. Mas o maior representante dessa onda de Chicago foi a dupla The Cool Kids, que de forma declarada trazia de volta o visual pré-gangsta do hip hop. Mikey Rocks e Chuck Inglish levavam junto ao corpo calças realmente apertadas, bonés snapback, jeans acid wash e os primeiros tênis Air Jordan. Ao invés de correntes de ouro cravadas com pedras preciosas valendo milhares de dólares e carros de luxo, falavam sobre correntes douradas baratas, bicicletas e mobiletes.
A nova onda do visual negro faz lembrar o boom do punk, que teve seu auge em 1977. Além da criação do próprio punk como música e estética, ele trouxe consigo um revival de várias outras subculturas que a precederam. Daí, junto a outros fatores e influências, nasceu uma nova geração de skinheads, mods, rockers e teddy boys. Assim como o punk, essa nova onda traz à tona as variadas estéticas negras que precederam o visual gangsta e que, por ele, foram ofuscadas.
É importante notar que essa nova onda do visual negro urbano não gerou uma subcultura. A propósito, ela não traz consigo uma estética pré-estabelecida, gosto musical comum ou hábitos semelhantes. Mas isso não quer dizer que os adeptos não compartilhem certas preferências e que não seja possível observar várias características comuns entre eles, que vão além das roupas mais ajustadas. A aura retrô e “desmodernizada” de seus visuais é bem óbvia. Camisas, uma enorme variedade de sapatos e botas, blazers, jaquetas varsity e peças de alfaiataria são muito usadas, mas não são suficientes para definir o visual de ninguém. A liberdade, acompanhada da preocupação com o caimento perfeito de cada peça escolhida, é a característica principal desse novo fenômeno. Mas quem pensa que a preferência por peças clássicas anula o uso de peças esportivas e práticas, se engana. Tênis Nike e New Balance, moletons com capuz, regatas e outras peças do tipo ganham um novo significado. Com um cuidado
33

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS34
especial, elas entram de forma natural no contexto do vestuário e não destoam dos outros elementos.
Dentro deste universo, também não existe a obsessão por marcas famosas e caras. Não há problema em pagar caro numa peça, desde que ela valha o que foi pago. Mais importante ainda: não há problema algum em comprar peças baratas e velhas, garimpadas em brechós do bairro. Tudo é válido e pode ser usado. Peças velhas e novas, caras e baratas, tem o mesmo nível de importância e são usadas em um mesmo visual. O que importa de verdade é o resultado final. O padrão imposto pelo gangsta rap estava mais ligado a um visual clean, com Nike Air Force One limpíssimos, correntes brilhantes, barbas e cabelos milimetricamente delineados (o famoso “pezinho”). As combinações não eram pensadas muito além de tênis, camiseta e boné nas mesmas cores. Nessa nova onda, o auto-refinamento é primordial. Busca-se conhecer os diferentes tipos de cortes, tecidos, padronagens, cores e, principalmente, como combinar tudo isso de forma harmoniosa, seja para dar um rolê à noite com os amigos, ir a eventos formais, onde um terno é exigido, ou para enfrentar um dia duro de trabalho. Alfaiates são verdadeiros aliados, sempre procurados para fazer com que cada peça fique perfeitamente ajustada ao corpo.
Outros aliados importantes desses jovens são as novas tecnologias de informação surgidas com a internet como blogs, redes sociais, Twitter dentre outros. Mas uma ferramenta de destaque nesse universo é o Tumblr. Essa rede social permite que, ao criar sua conta, você consiga seguir outros usuários e acompanhar as publicações de todos eles numa única página, chamada dashboard. Seguindo os tumblrs certos, você tem a sua disposição uma enxurrada de fotos, vídeos e textos inacreditavelmente variados, sobre uma infinidade de temas. Ao favoritar as melhores publicações, você tem, pronto, um mural cheio de inspirações que poderão servir como referência para seus futuros visuais. Todas essas ferramentas democratizaram o acesso a novos modelos de vestimenta, uma vez que, anteriormente, para se manter informado sobre o que era usado nos grandes centros como Nova Iorque e Paris, era preciso comprar revistas importadas e extremamente caras. Hoje, basta apenas um computador e uma boa conexão para que a informação seja acessada do conforto do lar.
A negritude abundante do novo estilo é uma das marcas que mais chamam a atenção e ela pode ser constatada na forma como os cabelos crespos, devidamente assumidos, são incorporados nessa nova estética. Tranças enraizadas e afros redondos existem, mas não exercem a supremacia de outrora. O grande lance é explorar ao máximo todas as possibilidades que o cabelo crespo proporciona. Os dreadlocks reinam, mas não de forma óbvia. Eles são vistos em todo tipo de formato: achatados, redondos, pontudos, cacheados e nos mais variados cortes, combinadas a partes curtas e até raspadas (geralmente as laterais). Além disso, afros esvoaçantes e penteados, high-tops assimétricos, dreadlocks trançados e até cortes certinhos, à moda Miles Davis na década de 1950, fazem sucesso. Outro aspecto dessa negritude está presente nas padronagens nos tecidos, em peças típicas e adornos africanos.
FAÇA vOCê mESmO!
A quase totalidade de roupas e acessórios que compõem o guarda-roupa do novo estilo negro já pode ser adquirida novinha em folha nos Estados Unidos e na Europa, através de lojas de departamentos como H&M, redes mais descoladas como Urban Outfitters, Topman e várias outras lojas e marcas que comercializam seus produtos pela Internet. No Brasil, o acesso a esse tipo de vestuário ainda é restrito e caro. Contudo, como se verificou através do artigo acima, o componente principal do novo estilo negro não são marcas propriamente ditas, mas sim a criatividade vista na manipulação de vários estilos distintos. Em suma, é necessário informação, que pode ser obtida através de imagens e textos na web, e originalidade na manipulação dos estilos. Roupas antigas podem ser conseguidas através de brechós e/ou produzidas sob encomenda (eis a volta daquela figura que pensamos que iria desaparecer: o alfaiate). Enfim, o novo estilo negro se coloca como uma possibilidade de valorização da negritude na forma de se vestir sem necessariamente escrever um manifesto político nas roupas e/ou reproduzir estereótipos. Ao mesmo tempo, ele é ainda no Brasil um campo aberto de possibilidades para empreendedore/as negro/as jovens, urbanos e sintonizados com a moda contemporânea. O sucesso de Josh e Travis com o Street Etiquette é um bom exemplo a ser seguido.
Streetstyle: from Sidewalk to Catwalk. Ted Polhelmus. New York: Thames & Hudson. 1994.
Black Style. Carol Tulloch. London: Victorie & Albert Museum. London. 2004.
New African Fashion. Helen Jennings. New York: Prestel Pubshing. 2011.
Street Etiquette: streetetiquette.com
PARA lER E vER
JuN AlCANTARA é estudante de graduação em música
e responsável pelo blog ubora.wordpress.com
mÁRCIO mACEDO (KIBE) é estudante de Ph.D. em
sociologia na The New School for Social Research (NYC)
e bolsista CAPES doutorado pleno no exterior. Escreve
no blog newyorkibe.blogspot.com

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS 35

o menelick 2o ATo | AFRoBRASiliDADeS & AFinS36



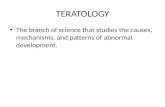

![ATO Presentation CITY CENTRAL Tower 8 · ato level 4 to 17 australia post admin. level 2 & 3 (nla 3,200m. 2) ato office (30,135m2) amenities level 1 (approx. nla 250m. 2) sk0911[m]](https://static.fdocuments.in/doc/165x107/604585c69b48c110275bd417/ato-presentation-city-central-tower-8-ato-level-4-to-17-australia-post-admin-level.jpg)