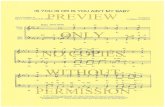Universidade Federal do Rio Grande do Sul - DESAFIOS oA ...do animal, as exigencias do ambiente...
Transcript of Universidade Federal do Rio Grande do Sul - DESAFIOS oA ...do animal, as exigencias do ambiente...
-
ASSOCIAQAo BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU
DESAFIOS oA SUPLEMENTAc;Ao FRENTE AS oEMANoAS DOS SISTEMAS DE PRoouc;Ao DE BOVINOS DE CORTE
HAROLD OSPINA PATIN01 ; FABIO SCHULER MEDEIROS2; GIOVANNI MATEUS MALLMANN3
I Zootecnista, D.Sc. Professor do Dept" de Zootecnia - Fac. Agronomia - UFRGS 2 Med. Veterinario, Estudante do PPG-Zootecnia - Dept" de Zootecnia - Fac. Agronomia-UFRGS
3 EngO Agronomo, Estudante do PPG-Zootecnia - Dept" de Zootecnia - Fac. Agronomia- UFRGS
INTRODUc;AO
De forma semelhante ao que ocorreu a nivel mundial , no Brasil, 0 setor de produgao e comercializagao de carne bovina apresentou na ultima decada profun-das mudangas procurando adaptar-se as duas maiores exig€mcias dos mercados consumidores: competitividade e qualidade do produto.
Neste momento, 0 principal desafio dos sistemas de produgao de bovinos de corte e como obter um produto com a quantidade, qualidade e prego que 0 mercado consumidor exige. 0 objetivo final e colocar no prato do consumidor um produto que preencha anseios relacionados com a seguranga alimentar, normas de qualidade, volume de produgao, uniformidade de produto e impacto ambiental. Estes aspectos tem adquirndo tal grau de importancia que paises como Australia, Nova Zelandia e EUA A tem desenvolvido mecanismos para identificar, conhecer e manipular os pontos criticos de controle, ao longo de toda a cadeia produtiva , de modo a garantir a qualidade do produto consumido.
Embora na ultima decada 0 consumo e comercializagao de carne bovina terem experimentado uma profunda retragao em decorrencia do consumo susbstitutivo de carne (aves e suinos), surguimento de problemas sanitarios (doen-ga da vaca louca e febre aftosa) e a consolidagao das barreiras alfandegarias impostas pelos principais paises importadores, existem claros sinais de recupera-gao deste setor. Recentemente 0 Instituto Internacional de Investigagao sobre Poli-ticas Alimentares (IFPRI) (DELGADO, 1999) apresentou projegoes animadoras se-gundo as quais entre 1997 e 2020 os paises em desenvolvimento serao responsa-veis pelo grande incremento na produgao e consumo de carne, com taxas de incre-mento anuais da ordem de 4%. No Brasil , foi langado pela Associagao Nacional de Agribusiness (ABAG) 0 plano estrategico para 0 agribusiness brasileiro ate 2010 e nele e possivel observar aumentos de 40% no valor da produgao agropecuaria, sendo a pecuaria responsavel por 44% deste aumento e a bovinocultura por, apro-ximadamente, 50% do valor da produgao. Estes numeros ressaltam 0 importante papel que a pecuaria de corte esta desempenhando na economia brasileira, sendo responsavel por 30% do PIB e contribuindo em 2001 com mais de 1 bilhao de d61ares decorrentes da exportagao de 800.000 ton EQC de carne bovina .
Junto com estas expectativas, 0 Brasil vem consolidando sua posigao como um dos paises lideres em term os de competitividade e qualidade no mercado internacional de carnes, Com 0 primeiro rebanho comercial do mundo , 0 Brasil ocupa 0 terceiro lugar em exportagao de carne, atras de EUA e Australia. Contudo, ainda apresenta taxas de desfrute na faixa de 22%, muito baixas para um pais que
-
5° CONGRESSO BRASILEIRO DAS RA~AS ZEBUfNAS
procura lugares de destaque na comercializagao internacional de carne , Um outro grande problema e que apesar da populagao brasi leira figurar entre as dez maiores consumidoras de carne do mundo , apresenta um consumo per capita de 39 kg/pes-soa/ano , muito baixo quando comparado com 0 consumo de outros paises devido, basicamente, a baixa renda familiar sendo particularmente limitante num pais que comercializa aproximadamente 90% da carne produzida no mercado interno, Um aumento no poder aquisitivo das classes de mais baixa renda podera resultar numa demanda de carne diffcil de ser preenchida, pois cada aumento de 1 kg no consumo per capita implica numa necessi-dade de produgao de 750,000 bovinos (ZIMMER e FILHO, 1997), Estes fatos demostram que a pecuaria de corte Brasileira apresenta um enorme potencial de crescimento diferen-temente de outros paises onde este potencial ja foi atingido,
Hoje, 0 Brasil pode orgulhar-se de ter condigoes ideais pra produzir carne de qualidade a pasto, em sistemas economicamente viaveis, ecologicamente limpos e social-mente justos, garantindo a preservagao do meio ambiente para futuras geragoes, Alem disto, pode-se afirmar que 0 importante lugar que Brasil ocupa a nivel mundial como produ-tor e exportador de carne e decorrente da maciga incorporagao de tecnologias de pradu-gao, Entre os avangos tecnologicos incorporados nos sistemas de produgao, vale a pena citar a utilizagao de forragens de melhor qualidade (principalmente do genero Panicum) , a consolidagao de grandes programas de melhoramento genetico animal e a util izagaa da suplementagao como ferramenta de manejo alimentar para contornar a estacionalidade na disponibilidade e qualidade das forragens ,
E consenso que a melhor maneira de enfrentar os atuais desafios da produgao e comercial izagao de carne bovina e adaptando a pecuaria de corte a sistemas de produ~ao de cicio curto, trabalhando com animais precoces (sexualmente, no crescimento e na termi-nagao) , Por outro lado, e evidente que estes sistemas de produgao terao que estar direcionados a utilizagao de forragens como ingrediente basico das dietas porque sao estes os que mais se aproximam das demandas do mercado, Nestas condigoes, a otimiza~iio nutricional da dieta dos animais e um pre-requisito para maximizar 0 consumo , a digestao eo metabolismo dos nutrientes contidos nas pastagens e a suplementagao pode prestar uma grande contribuigao a este objetivo,
A NUTRI QAo DE RUMINANTES EM PASTEJO
A pecuaria de corte Brasileira encontra-se estabelec ida em seis grandes ecossistemas : tropical umido (regiao norte) , semi-arido (regiao nordeste), cerra-dos e pantanal (regiao centro-oeste), mata at lant ica (regiao sudeste) e subtropical (regiao sui) os quais apresentam uma ampla variabilidade de clima, solo e vegeta-gao, Apesar dos sistemas de produgao encontrados nestes ecossistemas apresen-tarem as mais variadas caracteristica possiveis, em fungao das cond igoes locais de produgao , infra-estrutura, aporte de insumos e comerciali zagao, todos eles apre-sentam 0 fato comum de uti lizarem as pastagens como substrato basi co na alimen-tagao dos animais,
A utili zagao racional das pastagens e de fundamental importancia para ab-tengao d e indices zootecnicos que garantam a otimizagao da prod utiv idade [lor
-
ASSOCIAC;Ao BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU
animal e por area e, principalmente, que sejam adequados do ponto de vista economico . Este manejo racional das pastagens e dificil de atingir porque as forra-gens apresentam uma marcada produc;;ao estacional , que pode gerar uma grande diferenc;;a na capacidade de suporte entre os period os otimos e crfticos para 0 crescimento das pastagens . A consequencia imediata desta diferenc;;a e 0 baixo desempenho por animal devido que 80% da produc;;ao anual de materia seca ocorre no perfodo de outubro a marc;;o (primavera-verao), sendo 0 periodo de abril a setembro (outono-inverno), caracterizado por alta umidade e baixa temperatura no sui (subtropico), e por seca na regiao do centro-oeste (tropical). A pesar desta estacionalidade na produc;;ao das pastagens causar baixo desempenho dos animais alguns trabalhos tem mostrado que seu potencial produtivo pode ser aumentado com praticas de manejo tais como 0 ajuste de lotac;;ao, introduc;;ao de novas espe-cies, adubac;;ao nitrogenada e integrac;;ao lavoura-pecuaria (MARASCHIN, 2000) .
Uma das principais caracterfsticas dos ruminantes e seu potencial para converter alimentos fibrosos , que nao podem ser processados pelo sistema diges-tivo dos nao ruminantes (entre eles 0 homem), em produtos de alto valor nutricional, apreciados e bem pagos pel a populac;;ao humana. Isto e possivel grac;;as a que os processos evolutivos terem equipado os ruminantes domestic os com uma serie de adaptac;;6es fisiologicas para lidar com os alimentos ricos em fibra tais como as pastagens. 0 conhecimento dos mecanismos de funcionamento destas adapta-~6es (processos de digestao e metabolismo, estrategias reprodutivas e habitos de pastejo) , pode permitir otimizar a produtividade e biodiversidade dos sistemas agropastoris (OSPI NA et al., 1999)"
Em sistemas em pastejo donde 0 animal consome um alimento que depen-de do complexo ecossistema ruminal para ser digerido e metabolizado, e funda-mental conhecer e predizer 0 resultado dos eventos que ocorrem nele pois sao a chave para estimar 0 valor nutritivo das dietas e desenhar sistemas de produc;;ao de maior eco-eficiencia . Alterac;;6es ffsico-quimicas neste ecossistema (osmolaridade, taxa de diluic;;ao, pH do Ifquido ruminal, concentrac;;ao ruminal de amonia e de outras fra~6es nitrogenadas, etc.) determinam 0 nivel e eficiencia de produc;;ao em func;;ao das alterac;;6es na qualidade e/ou quantidade de nutrientes disponiveis para absor-~ao e metabolismo a nivel microbial e/ou celular.
Na pratica , melhorar a eficiencia dos sistemas agropastoris nao e uma tarefa muito facil uma vez que estes sistemas estao constituidos por tres compo-nentes e qualquer pratica de manejo que vise aumentar a eficiencia de produc;;ao tera que enfocar estes tres componentes de forma integrada: as exigencias nutricionais do animal, as exigencias do ambiente ruminal e a oferta de nutrientes da pastagem . Hoje , e amplamente reconhecido que ainda a melhor das pastagens apresenta limi-tac;;6es nutricionais, principalmente no conteudo de energia, que impedem a plena expressao do potencial genetico de produc;;ao dos animais (MINSON, 1990). Rara-mente, as exigencias nutricionais necessarias para maximizar 0 desempenho sao preenchidas pela dieta consumida por bovinos de corte em pastejo e, na maioria dos casos , isto e decorrente da diferenc;;a existente entre a disponibilidade de nutri-entes da pastagem e a variabilidade (quali e quantitativa) dos nutrientes disponibilizados ao tecido animal. Alguns dos fatores responsaveis por esta diferencia sao apresentados no Quadro 1 .
-
5° CONGRESSO BRASILEIRO DAS RAt;AS ZEBUINAS
Quadro 1. Fatores que afetam a oferta e utiliza
-
ASSOCIAC;Ao BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU
Dos tres parametros citados anteriormente, 0 consumo e considerado 0 principal limitante do nivel e eficiencia da produgao de ruminantes em pastejo, sendo respons8vel por aproximadamente 70% da variagao no desempenho apresentado pel os animais. Alem dis-to, 0 consumo de pasto influencia, entre outras, a reb rota das pastagens (PARSON et aI., 1988), as estrategia de suplementagao (ROOK et aI., 1994) e a distribuigao espacial das plantas que compoem as pastagens (O'REAGAIN e SCHWARTZ, 1995). Apesar da impor-tancia que tem 0 consumo na determinagao da produgao de ruminantes em pastejo, as tentativas de explica-Io e quantifica-Io ainda sao incipientes , devido ao fato de ser uma res posta que depende de muitos fatores (PRATES et ai, 1999).
Os ruminantes ajustam seu consumo em resposta as exigencias de energia po-rem, sob condigoes de pastejo, onde as dietas contem elevadas quantidades de fibra indigestivel, a quantidade de forragem consumida e basicamente limitada pela capacidade fisica do rumen. A distensao ruminal pode limitar 0 consumo antes do que os animais consumam quantidades de alimento suficientes para preencher as exigencias de energia. Nestas condigoes, 0 tamanho de particula da digesta e muito grande para sair do rumen e os process os de digestao e ruminagao sao cruciais na redugao do tamanho de particula para tornar possivel 0 escape para fora do rumen diminuindo a distensao ruminal e possi-bilitando 0 consumo de forragem. Os principais fatores que afetam a taxa de fluxo da digesta para fora do rumen sao: 0 tamanho de particula, conteudo de parede celular, degradabilidade ruminal e as propriedades de hidratagao das forragens ingeridas.
o potencial da suplementagao para melhorar a produtividade de ruminantes em pastejo esta diretamente relacionado com a melhora do valor nutritivo das pastagens via interagoes entre a dieta e 0 processo digestiv~.
SUPLEMENTAQAo DE RUMINANTES
Segundo 0 Novo Dicionario Aurelio (1986) a palavra suplementar significa acres-centar alguma coisa a; suprir ou compensar a deficiencia de. Ao definir sistemas dinamicos, como a produgao de ruminantes em pastejo, CIBILIS et al. (1997) definem a suplementagao como 0 ate de complementar, completar ou suprir um processo composto por tres unida-des: 0 animal, a pastagem e 0 manejo, que tem uma ferramenta: 0 suplemento e um objetivo: obter 0 maior desempenho fisico e econ6mico.
A suplementagao consiste no fornecimento de quantidades cataliticas de nutrien-tes estrategicos com 0 objetivo de otimizar a digestao e 0 metabolismo dos nutrientes contidos nas pastagens consumidas pelos ruminantes. De forma geral e possivel afirmar que 0 efeito da suplementagao sobre 0 consumo e a digestibilidade da forragem e 0 resultado de alteragoes no ambiente ruminal e na populagao microbiana, que afetam os fatores determinantes da digestao ruminal e 0 fluxo de da digesta para fora do rumen.
A suplementagao de ruminantes em pastejo, via de regra nao produz, efeitos total mente aditivos em termos do consumo e digestibilidade da pastagem. Pelo contrario , as respostas obtidas sao nao aditivas como conseqOencia dos efeitos associativos existen-tes entre os ingredientes que compoem a dieta do animal. Estes efeitos associativos sur-gem na forma de relagoes entre 0 animal , a pastagem e 0 suplemento, que determinam a resposta animal, sendo esta ultima fortemente influenciada pela disponibilidade de pasta-gem e a carga animal.
Segundo LANGE (1980) os efeitos associativos podem ser classificados da seguinte maneira:
ADIQAo - este efeito pode ocorrer quando 0 animal colhe uma quantidade redu-
-
5° CONGRESSO BRASILEIRO DAS RA
-
ASSOCIAC;Ao BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU
trabalhos as estrategias de suplementagao tem um caracter empirico pois nao levam em conta a variagao estacional na qualidade das pastagens. Os programas de suplementagao devem confrontar as demandas nutricionais do animal com as flutuagoes estacionais na qualidade e quantidade da pastagem de acordo com a meta de produgao estabelecida (desempenho, categoria, raga, etc .) e da posse deste balango, definir 0 tipo e quantidade de suplemento a ser utilizado.
Durante muito tempo, os argumentos levantados para justificar a utilizagao da suplementagao como pratica estrategica de manejo alimentar nos sistemas de produgao a pasto estiveram relacionados com a melhora de eficiencia bioecon6mica. Recentemente, tem vindo a tona alguns enfoques novos relacionados a incorporagao da suplementagao, nao mais como uma pratica estrategica e sim com uma pratica estrutural nos sistemas de produgao, vista sua relagao com aspectos tao importantes como a qualidade do produto e a forma como ele esta sendo gerado (impacto ambiental). Sua importancia, no Brasil, pode ser dimensionada ao observar que entre 1995 e 2000 houve um aumento de 241 % no numero de animais suplementados (715.000 vs 2.440.000 cabegas) ainda que corresponda a menos de 1 ,5 % do rebanho bovino (ANUALPEC, 2002).
A SUPLEMENTAc;AO E 0 IMPACTO AMBIENTAL
A relagao entre a pratica da suplementagao e 0 impacto ambiental nos sistemas de produgao em pastejo pode ser caracterizada at raves de seu efeito sobre a sustentabilidade dos ecosistemas pastoris e sobre a emissao de gases na atmosfera.
SUSTENTABILIDADE DOS ECOSSISTEMAS PASTORIS
A sustentabilidade pode ser definida como manejo conservativo de recursos e a orientagao tecnologica e institucional de mudangas tendentes a garantir de forma continua e segura 0 preenchimento das necessiddes humanas nas geragoes presentes e futuras. Este desenvolvimento sustentavel tera que ser feito com tecnicas ecologicamente limpas e apro-priadas, economicamente viaveis e social mente justas (HEITSCHMIDT e WALKER, 1997) .
o principal desafio no manejo dos sistemas pastoris e a necessidade de balance-ar a relagao antagonista entre a captura de energia solar (planta) e a eficiencia do processo de colheita (animal) de modo a maxi mizar a produtividade sobre uma base sustentavel. 0 principio fundamental do manejo das pastagens e contro lar a frequencia e intensidade da desfoliagao no espago e no tempo direcionando a sucessao vegetal para garantir a sustentabilidade do recurso forrageiro no longo prazo. Para atingir este desafio e preciso contornar dificuldades relacionadas com: as condigoes, geralmente, limitantes a produgao do pasto, a inherente variagao espacial e temporal das condigoes climaticas e 0 consumo seletivo apresentado por ruminantes em pastejo (PIAGGIO, 1995) . A ferramenta de manejo de maior utilidade para atingir a sustentabi lidade de pastagens e a pressao de pastejo, definida como a relagao entre a demanda e a disponibilidade de forragem num instante determinado. A pressao de pastejo deve variar com 0 tempo acompanhando a natural variagao temporal na disponibilidade de forragem , decorrente das diferengas na produgao e na dinamica do crescimento estacional das forragens .
A luz das leis da termodinamica 0 fluxo de energia no ecossistema pastoril e um processo ineficiente em fungao das perdas de energia que ocorrem durante a transferencia de energia entre os niveis troficos que 0 compoem . Dados de alguns trabalhos tem mostra-do que a eficiencia de conversao de energia solar em produgao primaria e a da parte aerea
-
5° CONGRESSO BRASILEIRO DAS RAC;AS ZEBUINAS
das plantas em produ~ao secundaria sao de 0,5 e 2,0%, respectivamente os quais rendem uma eficiencia de conversao de energia solar em produto animal entre 0,002 e 0,005 %. (BRISKE e HEITSCHMIDT,1991; VIGLlZZO,1981)
Em condi'16es de campo nativo no RS, NABINGER (1997) apresentou dados relacionando a disponibilidade de forragem com 0 fluxo e eficiencia de transferencia de energia. Segundo este autor simples praticas de manejo como 0 ajuste de 10ta'1ao pod em permitir aumentos na eficiencia de transforma'1ao da energia, que nos 12 milhoes de hecta-res de pastagens naturais na regiao sui do Brasil , possibilitariam uma produ~ao de 850.000 ton carne/ano somente nesta regiao e a custo zero.
A relativamente baixa eficiencia de conversao da energia consumida em produto animal, aproximadamente 10% (BRISKE e HEITSCHMIDT, 1991), demonstra 0 potencial exis-tente para melhorar a eficiencia produtiva do ecossistema pastoril, atraves da diminuigao das perdas metabolic as do ruminante. Esta eficiencia e determinada pelas pelos fatores que afetam a otimiza~ao das rea~6es no ambiente ruminal e pel a rela~ao dos nutrientes absor-vidos e disponiveis para trabalho celular. Qualquer abordagem nutricional sobre a eficiencia de utiliza~ao de energia por ruminantes em pastejo tera que incluir os dois aspectos anteri-ormente citados .
As informa~6es anteriores claramente demonstram que se bem os ecossistemas pastoris apresentam intrinsecamente a caracteristica de ter uma baixa eficiencia produtiva existe um grande potencial para otimizar a produ~ao com pequenos aumentos na eficiencia de fluxo da energia dentro de eles e a suplementa~ao pode prestar uma grande colabora-~ao neste sentido ao permitir realizar um melhor ajuste na pressao e no controle da unifor-midade do pastejo.
Os melhores resultados com a suplementa~ao sao obtidos quando a disponibili-dade de pasto nao e limitante, isto e, quando 0 pastejo e conduzido de forma conservacionista. Este tipo de pastejo, alem de propiciar melhores desempenhos por animal, permite melho-rar a composi~ao botanica das pastagens, as planta forrageiras e as condi~oes do solo onde elas crecem. Geralmente, e sugerido que a disponibilidade de pasto seja superior a 2.000 kg MS/ha para nao tornar-se limitante num programa de suplementa~ao.
No Quadro 4, e possivel observar como a disponibilidade de pasto afetou a res posta de bezerros Nelore desmamados e suplementados em pastagens de Brachiaria brizantha cv. marandu. Quando a disponibilidade de MS foi limitante, os animais apresenta-ram menor ganho de peso e pior conversao alimentar, precisando permanecer durante maior tempo na suplementa~ao para atingir a meta de produ~ao projetada.
Quadro 4. Desempenho de bezeros Nelore desmamados em pastagens de B. Brizantha cv. marandu co diferentes disponibilidades de MS (Adaptado de EUCLIDES, 2001)
Disponibilidade MS Consumo suplemento Ganho peso Conversao Periodo suplementayao (ton/ha) (kg/animal/dia) (kg/dia) alimentar (dias)
< 2,0 1,64 0,33 4,97 177 4,3 1,68 0,58 2,90 98
Um outro beneficia indireto da suplementa~ao e a possibilidade das altas dispo-nibilidades de pasto, necessarias para seu sucesso, gerarem condi~oes adquadas de microambiente para 0 surgimento de especies forrageiras (gramineas e leguminosas) de melhor qualidade. Trabalhos onde foi avaliada a dinamica da vegeta~ao em pastagens naturais submetidas a diversas pressoes de pastejo tem mostrado que os manejos
-
ASSOCIAC;Ao BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU
conservacionistas melhoram as caracteristicas produtivas da vegeta
-
5° CONGRESSO BRASILEIRO DAS RAQAS ZEBUfNAS
Claramente observa-se que 0 CO2
e 0 grande responsavel pelo efeito estufa sendo a queima de combustiveis fosseis , derivados do petr6leo, e as atividades industriais nos paises industrializados responsaveis por mais de 75% do total da emissao.
Uma das sugestoes propostas para diminuir a emissao de gases e atraves da aumento da produtividade de ruminantes em pastejo. Para ecossistemas sustentaveis, esta proposta carrega implicitamente 0 risco de que aumentos em produtividade, via de regra, significam aumento no numero de animais. Segundo HOWDEN e REYENGA (1999) a intro-du~ao de gada Brahman no norte da Australia junto com a utilizagao de leguminosas e sup lementa~ao proteico-mineral permitiram aumentar tanto 0 numero de animais como a consumo de pasto por animal , porem resultaram em degrada~ao das pastagens , queda das reservas de carbona na biomassa vegetal e perda de carbo no do solo. Esta ultima perda tem um impacto, em termos da emissao de gases do efeito estufa, muito superior aa efeito da produ~ao de metano . Sistemas conservativos de produ~ao em pastejo, caracteristicos da sup lementa~ao, diminuem a emissao liquida de gases por unidade de produtividade, aumentam a biomassa de pasto e as reservas de carbo no no solo (HOWDEN etal , 1994).
No Brasil , alguns estudos tem mostrado que 0 uso de pastagens e do sistema plantio direto durante 5 a 6 anos , promoveram um influxo liquido entre 600 e 800 toneladas de C-COj ha/ano na camada de 0-20 cm do solo, comparado ao solo sob cerrado nativa e preparo convencional , demostrando um grande potencial para remo~ao de CO
2 atmos-
ferico (BAYER e MARTIN-NETO, 2000) . Neste sentido, 0 Brasil tem um enorme potencial na drenagem mundial de CO
2 devido a existencia de grandes areas em pastagem (aproxima-
damente 200 milh6es de hectares), grandes areas nas quais e usado 0 plantio direto (12 milh6es de hectares) e sistemas de produ~ao agricola em rota~ao e com incorpora~ao de residuos agricolas (AMADO et ai , 2001) .
Um outro aspecto importante e 0 fato da mata nativa ou estabelecida sequestrar grandes quantidades de carbona 0 que justifica sua manuten~ao nos sistemas conservativas de produ~ao . ° crescimento da mata como consequencia de disturbios ecol6gicos ocor-ridos em areas de pastejo na Australia permitiram sequestrar entre 1.5 e 3.0 ton COj ha/ana que equivalem a 1 ,5 a 3,0 vezes a emissao diretas de bovinos de corte pastando na mesma area (HOWDEN et ai , 1994) . Apesar da mata diminuir a disponibilidade e 0 potencial produ-tivo das pastagens e possivel util izar especies que, alem de apresentar potencial forrageiro, contribuam ao sequestro de CO
2,
Entao, os sistemas de produ~ao conservacionistas (plantio direto, baixas taxas de lota~ao, areas com pouco desmatamento, etc) podem contribuir significativamente a redu-zir a emissao de gases , alem de diminuir a degrada~ao do solo e das pastagens , mel horan-do a sustentabilidade dos sistemas de produ~ao em pastejo . ° metano e 0 principal gas emitido pelo setor da pecuaria como resu ltado da fermenta~ao enterica de animais domesticos e do manejo de seus dejetos. ° metano e um gas normalmente produzido durante 0 processo digestivo que ocorre no rumen e no ceca de herbivoros ruminantes . Estes animais obtem a maior parte de energia necessaria para os processos de manten~a e produ~ao a partir da fermenta~ao ruminal dos carboidratos estruturais que comp6em a parede celular das forragens (celulose, hemicelulose e frutose) . o rumen e responsavel por 90 a 100% da digestao dos carboidratos soluveis e por 60 a 90% da digestao de celulose e hemicelu lose, dependendo de seu grau de l ignifica~ao . Dentro do rumen, os carboidratos sao fragmentados em agucares simples (hexoses) , mediante a atividade das enzimas secretadas pelas bacterias celuloliticas (celulases) . Estes a~ucares resultantes sao utilizados intracelularmente pelos microrganismos para produzir
-
ASSOCIA
-
5° CONGRESSO BRASILEIRO DAS RAQAS ZEBUINAS
Quadro 7. Estimativas da emissao de metano provenientes da pecuaria domes-tica para 1995 (fermentac;ao enterica e manejo de dejetos) (Adaptado de ANUALPEC, 2002; EMBRAPA, 1999)
Especie animal Popula
-
ASSOCIA
-
5° CONGRESSO BRASILEIRO DAS RAQAS ZEBUINAS
emissao de metano e CO2 por unidade produtiva, a eficiencia dos sistemas pecuarios nao
seja capaz de viabilizar economicamente 0 uso destas cotas, sendo estas facilmente adqui-ridas pelas industrias, as quais sao capazes de gerar uma maior receita por unidade de poluente produzido.
o desafio da suplementa
-
ASSOCIAC;Ao BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU
marmorizagao entre as ragas bovinas produtoras de carne (Gordon, 2000). Isto e particu-larmente relevante para 0 Brasil, cujo rebanho bovino esta formado por mais de uma dezena de ragas de corte.
De modo geral, em bovinos, 0 ganho de tecido adiposo e lento enquanto os animais sao jovens, para entao ser mais rapido ap6s um determinado ponto da curva de crescimento, onde se inicia a engorda. Para contornar estas dificuldades, tem surgido praticas de manejo alimentar tais como 0 confinamento que visam intensificar a produgao, principalmente, nas fases de recria e terminagao.
Neste ponto e preciso colocar que um dos aspectos mais importantes da qualida-de da carne bovina e a grande preocupagao pelos consumidores com 0 elevado teor de gordura saturada que pode aumentar 0 nivel do colesterol serico e aumentar a incidencia de doengas cardiovasculares (DCV). Estes argumentos tem penalizado a carne bovinas por ser considerada um alimento cuja gordura pode ser prejudicial a saude humana, levando os consumidores a adquirirem outras proteinas de origem animal. Isto aliado ao fato da carne bovina apresentar qualidade inconsistente, com grande variabilidade na maciez e no teor de gordura intramuscular, tem feito com que 0 consumo mundial e nacional tenha sido reduzi-do. Contudo, a gordura bovina esta composta por uma mistura de acidos graxos saturados e insaturados e nao todos eles elevam 0 colesterol sanguineo. A gordura do musculo e rica em acidos graxos mono-insaturados que junto com 0 acido estearico somam 70% dos acidos nao hipercolesterolemicos (REARTE, 1999).
Alguns trabalhos tem colocado em evidencia a importancia da carne bovina a saaude humana pelo conteudo de substancia tais como os acidos graxos poliinsaturados (PUFA) , acido linoleico conjugado (CLA) e os acidos Omega-3 que podem ajudar a preve-nir DCV eo cancer. As recomendag6es dieteticas atuais para reduzir a incidencia de DCV mais do que reduzir 0 consumo acidos graxos saturados e colesterol estao direcionadas a aumentar a relagao entre PUFA e SFA, diminuigao da relagao entre acidos omega-6 e omega-3 e aumento no consumo de acido linoleico (WILLIAMS, 2000)
Existem variag6es quanto ao conteudo e composigao da gordura bovina especi-almente relacionados com os sistemas de alimentagao. Animais alimentados em confinamento apresentam maiores teores de gordura intramuscular do que animais em pastejo basica-mente porque as forragens apresentam maiores teores de lipidios e uma maior concentra-Gao de acidos graxos polinsaturados que as forragens conservadas (silagem e feno) e os concentrados, normal mente utilizados no confinamento (REARTE, 1999) .
No Quadro 10 e possivel observar que os animais os animais terminados em pastagens apresentaram menores niveis de colesterol por 1 OOg de carne, maior composi-Gao de carne em relagao a gordura, produzindo uma carne mais magra, e principalmene, uma melhor relagao entre acidos graxos poliinsaturados/saturados, sendo esta relac;ao altamente significativa.
Quadro 10. Comparagao das caracteristicas da gordura da carcaga de dois sistemas de terminagao de bovinos de corte (Adaptado de Gil & Huertas, 2001)
Variaveis
mg colesterol/100g carne Carne/Gordura no musculo L.dorsi Total de acidos graxos Saturados Total de acidos graxos Monoinsaturados Total de acidos graxos Poliinsaturados Rela
-
5° CONGRESSO BRASILEIRO DAS RAC;AS ZEBUINAS
Bovinos em pastejo consomem dietas ricas em acido linoleico parte do qual €I convertido em acidos graxos Omega-3 que sao depositados na gordura, a diferenga dos animais em confinamento onde esta transformagao nao ocorre, Em animais em pastejo tem-se verificado que a suplementagao nao altera significativamente 0 nivel de gordura intramuscular, 0 colesterol, e relagao de PUFNSFA quando comparada com animais sem suplementagao porem quando esta comparagao tem side feita contra animais em confinamento as diferengas tem-se tornado evidentes (FRENCH et ai., 2000), Num trabalho com 80 novilhos Abeerden Angus, GARCIA et al (1999) avaliaram 0 efeito de quatro sistemas de alimentagao: pastagem, dois niveis de suplementagao com grao de milho e confinamento, sobre a quantidade e a composigao da gordura depositada na carcaga, Os resultados mostraram que os animais em confinamento tiveram niveis de colesterol e gordura intramuscular 20 e 50% superiores, respectivamente, aos animais em pastejo sem que 0 nivel de suplementagao tivesse efeito sobre estas caracteristicas, Alem disto os animais em confinamento e os que receberam 0 maior nivel de suplementagao apresentaram menores teores de acidos omega-3 (18:3 n-3) e maiores relagoes omega-6/omega-3 (Quadro 11),
Quadro 11, Gordura intramuscular (GIM), colesterol (COL), acidos graxos Omega-3 (18:3 n-3) e relagao Omega-6/0mega-3 de novi lhos alimentados com quatro dietas de terminagao Adapatado de Garcia et ai , 1999),
TRATAMENTOS GIM (%) COL( 18:3 n-3 18:2 n-mg/100 g) (%) 6/18 :2 n-3
Pastagem 2,0 ± 1,05a 45,4 ± 6,78 1,2 a 2,5 a a
Pastagem+1 % PV 2,8 ± O,81a 44,5 ± 4,87 a 1,0 a 2,6 a grao milho no outono-inverno Pastagem+1 % PV 2,7 ± 0,69a 44,3 ± 3,28 a 0 ,6 b 4 ,6 b grao milho no outono-inverno e verao Confinamento 5,0 ± 1,42b 55,2 ± 4,85 b 0 ,15 c 19,8 c
I! Ii
Entao, a suplementagao de ruminantes em pastejo e uma ferramenta de manejo alimentar que alem de permitir gerar um produto com as caracteristicas organolepticas exigidas pelo consumidor, permite colocar na mesa das pessoas um produto com atributos nutricionais desejaveis do ponto de vista da saude humana,
CONCLusAo
A suplementagao de ruminantes em pastejo, como ferramenta de manejo ali men-tar, tem pela frente 0 desafio de permitir melhorar 0 desempenho bioecon6mico dos siste-mas de produgao de carne, possibilitar a geragao de produtos de melhor qualidade para 0 consumo humano, diminuir a emissao de gases de efeito estufa e garantir a sustentabilidade do ecossisterna pastoril. Os suplementos do futuro a serem utilizados na pecuaria de corte Brasileira teram que incorporar em sua formulagao solugoes que permitam atingir um ou mais dos desafios citados,
-
A~ ASSOCIAC;Ao BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU
REFER EN CIA BIBLIOGRAFICAS
AMADO, TJ.C .; BAYER, C; ELTZ, FLF.; BRUM , A.C.R. Potencial de culturas de cobertura em acumular carbono e nitrogenio no solo no plantio direto e a melhoria da qualidade ambiental. R. bras. Ci. Solo 25: 189-197. 2001.
ANUALPEC, Anuario da Pecuaria Brasileira. FNP Consultoria & Comercio. Sao Paulo. 400p. 2002.
AYALA, W; CARRIQUIRY, E.; CARAMBULA, M. Caracterizacion y estrategias de uti lizacion de pasturas naturales en la region este. In: Campo Natural: estrategia invemal, manejo y suplementacion. INIA: Uruguay. 1993.
BLAXTER, K.L.; CLAPPERTON , J.L. Prediction of the amount of methane produced by ruminants . Br. J. Nutr. 19: 511-522. 1965.
BOLDRINI, 1.1. Dinamica da vegetac;:ao de uma pastagem natural sob diferentes niveis de oferta de forragem e tipos de solo, Depressao Central - RS . Tese de Doutorado. PPG-Zootecnia. UFRGS: Porto Alegre , RS . 262p. 1993
BRISKE , D. E. & HEITSCHMIDT, R.K . An ecological perspective. In : HEITSCHMIDT, R.K . & STUHr, J.w. (Eds.) Grazing management : an ecological perspective. Oregon: Timber Press. p.11 -26. 1991.
CIBILIS R.; MARTINS, DV; RISSO, D. Que es suplementar? In MARTINS, DV (Ed.) Suplementacion estrategica para el engorde de ganado. Serie Tecnica N° 83. Montevideo; INIA. 54p. 1997.
CRUTZEN , PJ . The role of methane in atmospheric chemistry and climate. In: ENGELHARDT, WS ; LEONHARD-MAREK, G.; BREVES, G.; GIESECKE, D. (Eds.) Ruminant physiology: digestion , metabolism, growth and reproduction . Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag. p . 291-315. 1995
CRUTZEN, PJ.; ASELMANN , I. ; SEILER, W Methane production by domestic animals, wild ruminants, other herbivorous fauna and humans. Tellus 38B: 271-284. 1986
DELGADO, C.; ROSEGRANT, H.; STEINFELD, S. ; EHUI , S.; COURBOIS, C. Livestock to 2020. The Next Food Revolution. Food, Agriculture and the Enviroment Discussion Paper N° 28, IFPRI/ FAO/ILRI. International Food Policy Research Institute , Washington, D.C. 1999.
ELLIS, WC .; WYLIE , M.J.; MATIS, J.H . Dietary-digestive interactions determining the feeding value of forages and roughages . In: ORSKOV, E.R. (Ed.) Feed Science. Amsterdam : Elsevier. 336p. 1988.
EMBRAPA. Inventario de emiss6es de gases de efeito estufa provenientes de atividades agricolas no Brasil : emiss6es de metano provenientes da pecuaria. Relatorio Tecnico apresentado ao MCT Jaguariuna: EMBRAPA Meio Ambiente . 1999.
EUCLIDES, V.PB. Produc;:ao Intensiva de Carne Bovina em Pasto. In: BITTENCOURT, A. et al. (Eds.) II Simposio de Produc;:ao de Gado de Corte. Vic;:osa: UFV, DZO, 2001.
FRENCH, P; STANTON, C; LAWLESS, F.; O'RIORDAN, E.G.; MONAHAN , F.J. ; CAFFREY, PJ , MOLONEY, A.P Fatty acid composition , including conjugated linoleic acid , of intramuscular fat from steers grazed grass, grass silage or concentrate-based diets. J. Anim. Sci. 78: 2849-2855. 2000.
GARCIA, PT ; PENSEL, N. A.; MARGARIA, C.A.; ROSSO, 0 .; MACHADO, C. Intramuscular fat, cholesterol and 18:2 n-6/18:3 n-3 ratio in total lipids in two frame steers under different dietary
] 6 7:
-
5° CONGRESSO BRASILEIRO DAS RAC;AS ZEBUINAS
regimen . Proceedings of 4500 International Congress on Meat Science & Technolog , Yokohama, Japon. 1999.
GIBBS, M.J.; LEWIS, L.; HOFFMAN, J.S. Reducing methane emissions from livestock: opportunities and issues. United States Enviromental Protection Agency. Washington : EPA. 1989.
GIL, A. D. ; HUERTAS, S. Efectos del sistema de producci6n sobre las caracterfsticas de la carne vacuna. Serie FTPA-INIA. Uruguay. v. 4. 2001 . 53p.
HEITSCHMIDT, R.K .; WALKER, JW Grazing management: technology for sustaining rangeland ecosystems? In : GOMIDE, JA (Ed.) Simp6sio internacional sobre produ
-
ASSOCIAc;Ao BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU
otimizar 0 ambiente ruminal para digestao da fibra. In : BARCELLOS, J.O.J .; OSPINA, H.P; PRATES, ER. (Eds .) Suplementa~ao mineral de bovinos de corte. Porto Alegre; grafica da UFRGS. p . 37-60. 1999.
PARSON , A J. ; JOHNSON , I. A ; HARVEX A. Use of a model to optimize the interaction between frequency and severity of intermittent defoliation and to provide a fundamental comparison of the continuous and untermittent defoliation of grass. Grass Forage Sci . 43: 49-59. 1988.
PIAGGIO, L.M.M. Parametros determinantes do consumo e seletividade de novilhas em pastejo de campo nativo melhorado. Tese de Doutorado. PPG-Zootecnia - UFRGS. Porto Alegre: UFRGS. 438 p. 1995.
PRATES, E.R.; OSPINA, H.P; BARCELLOS , J.O.J . Otimizando a utilizag8.o dos nutrientes da pastagem . Pode a utilizac;:ao da energia pastagem ser melhorada? In: PENZ, AM.J. ; AFONSO, L.O.B.; WASSERMANN , G.J. (Eds .) Anais dos Simp6sios e Workshops da XXXVI Reuniao Anual da SBZ. Porto Alegre:: Sociedade Brasileira de Zootecnia. v.2 p. 13-26.1999
PRESTON , TR. & LENG , R.R. Ajustando los sistemas de producci6n pecuaria a los recursos disponibles: aspectos basico y aplicados del nuevo enfoque sobre la nutrici6n de rumiantes en el tr6pico. CONDRIT, Cali. 313p. 1989.
REARTE, DH Sistemas Pastoriles Intensivos de Producci6n de Carne de la Regi6n Templada. In : PENZ, AM.J.; AFONSO, L.O.B. ; WASSERMANN , G.J. (Eds.) Anais dos Simp6sios e Workshops da XXXVI Reuni8.o Anual da SBZ. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Zootecnia. pp.213-223.1999
ROOK, A J.; HUCKE, C. A; PENNING, PD. Effects of sward height and concentrate suplementation on the ingestive behaviour of spring-calving dairy cows grazing grass-clover swards. Appl. Anim. Behav. Sci. 40: 101-112. 1994.
TURK, D.C.; BYERS, FM. Modeling effects of energy and technology implications on methane emissions from the U.S. beef cattle industry. J. Anim. Sci. 71 (suppl. ) 109. 1993.
VIGLIZZO, E.F. Dinamica de los sistemas pastoriles de produccion lechera. Hemisferio Sur, Buenos Aires . 125p. 1981 .
WILLIAMS, C.M. Dietary fatty acids and human health . Ann . Zootech . 49 165-180. 2000.
ZIMMER, AH . & EUCLIDES FILHO, K. As pastagens e a pecuaria de corte brasileira. Anais .. Vic;:osa. Anais do Simp6sio Internacional sobre Produg8.o Animal em Pastejo. p.349-380. 1997.