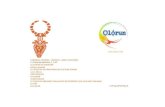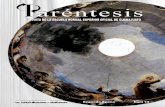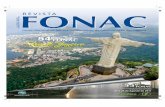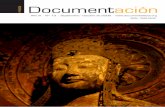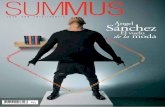Revista de Conjutura n. 13
-
Upload
corecon-df -
Category
Documents
-
view
218 -
download
3
description
Transcript of Revista de Conjutura n. 13


��������
���� ��������������������� ������������������ ���������������
��������������������� �����������������
� CORECON/DFConselho Regionalde Economia doDistrito Federal
� SINDECON/DFSindicato dosEconomistas doDistrito Federal
� ACDFAssociação Comercialdo Distrito Federal
� DIEESE/DFDepartamentoIntersindicalde Estatísticase EstudosSócio-Econômicos
� FECOMÉRCIOFederação doComércio doDistrito Federal
� CUT/DFCentral Única dosTrabalhadores do DF
� SEBRAE/DFServiço de Apoio àMédia e PequenaEmpresa doDistrito Federal
� IEL/DFInstitutoEuvaldo Lodi
� FIBRAFederaçãodas Indústriasde Brasília
� UnBUniversidadede Brasília
� UCBUniversidadeCatólica de Brasília
� UPISUnião Pioneira deIntegração Social
� AEUDFAssociação deEnsino Unificadodo Distrito Federal
� CESUBRACentro de EnsinoSuperior de Brasília
� UniCEUBCentro Universitáriode Brasília
� FaculdadeEuro-Americana
������
����� ��������� ��
������ �� ������� �������
Telefone: (61) 225-9242
Entidades associadas:

���������������� ������������������������������������������������������ �
.............................................................................................................................................. 4
�!����!�
������"#����$���% .......................................................................................... 5
��!�&��
��'��(�)"�����"�������&�"*'�
Situação econômica do País: fatos e perspectivas .............................................................. 11
!�+��*���)"���,�����)+��&���
A Reforma da Previdência: novo governo, velhas táticas e desacreditdos números ......... 17
�����������)�),
Política fiscal: imposto, repartição da renda nacional e seguridade social ...................... 20
&��&�����-)����"�!�+��)�
O discurso liberal e a política de expansão da educação superior no Brasil ................... 33
��!����"
jan/mar de 2003������������� ������

��!����"
Diretor Responsável:Roberto Bocaccio Piscitelli
Conselho Editorial:Roberto Bocaccio Piscitelli, Carlito RobertoZanetti, Dércio Garcia Munhoz, Iliana AlvezCanoff, José Luiz Pagnussat, Mário SérgioFernandez Sallorenzo e Mônica BeraldoFabrício da Silva.
Jornalista Responsável:Mariane Andrade - Reg. DRT/MS 127Editoração Eletrônica:OM Comunicação/Jornalismo (0xx61) 425-1090Tiragem: 4000Periodicidade: TrimestralAs matérias assinadas não refletem, necessaria-mente, a posição das entidades. É permitida areprodução total ou parcial dos artigos destaedição, desde que citada a fonte.ISSN 1677-0668
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIADA 11ª REGIÃO – DFPresidente:Roberto Bocaccio PiscitelliVice-Presidente:Mônica Beraldo Fabrício da SilvaConselheiros Efetivos:Roberto Bocaccio Piscitelli, Mônica BeraldoFabrício da Silva, José Luiz Pagnussat, MaurícioBarata de Paula Pinto, Maria Cristina de Araújo,Humberto Vendelino Richter, André Luiz Ferro deOliveira, Irma Cavalcante Sátiro e GuidborgongneCarneiro Nunes da Silva.Conselheiros Suplentes:Newton Ferreira da Silva Marques, Max Leno deAlmeida, Evilásio da Silva Salvador, JusçanioUmbelino de Souza, José Ribeiro Machado Neto,Francisco das Chagas Pereira, Ronalde SilvaLins, Miguel Rendy e Iliana Alves Canoff.Equipe do CORECON:Iraídes Godinho de Sales Ribeiro, Ismar MarquesTeixeira, Michele Cantuária Soares e JamildoCezário Gomes.End.: SCS Qd. 04, Ed. Embaixador, Sala 202CEP 70300-907 – Brasília –DFTels: (061) 223-1429/223-0919/225-9242/226-1219 e 226-0906 - Fax: (061) 322-1176E-mail: [email protected]: www.corecondf.org.brHorário de Funcionamento:das 8:00 as 18:45 horas (sem intervalo)
SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO DFEnd.: SCS Qd. 04, Ed. Embaixador, Sala 203CEP 70300-907 – Brasília –DFTel.: (061) 225-5482 Fax: (061) 322-1176E-mail: [email protected]: www.fenecon.org.brHorário de Funcionamento:das 8:00 as 18:00 horas
Diretoria Efetiva:Presidente: Iliana Alves Canoff1º Vice-Presidente: vago2º Vice-Presidente: Otávio de Carvalho FrancoSecretário: José Nilson Gomes de SouzaTesoureiro: Gilberto GattiSuplentes da Diretoria:Mário Sérgio Fernandez SallorenzoEugênio de Oliveira FragaMarcos Cardoso BularmarquiVictor José HohlJosé Honório AccariniConselho Fiscal:Miguel RendyMaria Cristina de AraújoLuiz Guaraci DavidSuplentes do Conselho Fiscal:Marcus Vinicíus da Costa VillarimHumberto Vendelino RichterGeraldo Andrade da SilvaDelegado Representante Junto à Federação:Roberto Bocaccio PiscitelliDelegados Suplentes:Mônica Beraldo Fabrício da SilvaIrma Cavalcante Sátiro
.(���!
Órgão Oficial do CORECON-DFe SINDECON-DF Passados os três primeiros meses do novo governo, embora a economia não apresente
rumos muito bem definidos, verifica-se uma relativa estabilização dos indicadores maissensíveis às variações de humor do mercado.
O câmbio mostra uma tendência ligeiramente declinante, com menores oscilações quenos meses anteriores. As bolsas apresentam uma discreta recuperação. A inflação, segundoos vários índices das diversas instituições de pesquisa, está recuando, e essa tendência pode-rá consolidar-se com algumas presumíveis quedas de preços, como, por exemplo, nos ali-mentos, embora ainda possa ser fortemente influenciada pela política adotada em relaçãoaos chamados preços administrados. Essa é mais uma razão pela qual se pode estranhar queo COPOM tenha justificado a manutenção da taxa SELIC (26,5%) com viés de alta: redu-ção do ritmo de queda da inflação. Por esse prisma, vê-se que a atual equipe do Banco Cen-tral, mesmo com queda manifesta da inflação, não é capaz de, pelo menos, manter a taxasem viés. Seria o caso de perguntar: o que faria o COPOM reduzir a taxa? Deflação?
É bem verdade que o quadro externo é complicado. Não se tem uma idéia clara da dura-ção da guerra e, conseqüentemente, do quadro de incertezas que cerca a economia mundial.Um dos efeitos se manifesta na diminuição dos aportes de capital, o que é natural, mesmoquando os fenômenos são de menores proporções. Os aplicadores – ou especuladores –retardam suas decisões de investimentos e preferem portos mais seguros, estáveis, tradicio-nais (trocam a rentabilidade pela segurança). Mas isto é praticamente inevitável dada aenorme vulnerabilidade do País e a interconexão entre os vários mercados. Mas, por outrolado, a balança comercial vai bem e continua factível a meta de um superávit, em 2003, daordem de US$ 15/16 bilhões. E, paradoxalmente ou não, a guerra abriu e ampliou algumasoportunidades de negócios, ainda que transitórios. (E o que é esta guerra, senão um grandebalcão de negócios, cuja divisão já foi adredemente estabelecida?) De toda a maneira, osresultados positivos no comércio exterior ainda não asseguram a internalização, difusão eperenização desses benefícios.
De qualquer modo, um dos grandes vícios que adquirimos é o de tentar acompanhar,pari passu, cada oscilação dos principais indicadores, atribuindo-lhes uma importânciaexagerada, que traduz, em grande parte, nossa insegurança e uma espécie de obsessão emparecer estar bem (a consistência dos famosos fundamentos), para que os porta-vozes dasinstituições financeira internacionais elogiem nossas políticas. Aliás, a opinião que essaspessoas têm a respeito do Brasil conta muito mais que a dos cidadãos brasileiros em matériade desempenho da economia. Em outras palavras: é preciso que os outros, lá fora, digamcomo estamos. Se a opinião desses “experts” for favorável, pouco importa o que pensa opovo aqui dentro.
É por isso que se tornou tão obsessivo acompanhar a variação no valor dos títulos brasi-leiros negociados no exterior, bem como a mínima alteração na taxa de risco, no risco-Bra-sil, seja qual for a instituição ou agência, independentemente de sua credibilidade e do acertoou não de suas avaliações anteriores, e até mesmo dos interesses que ela possa representar.É como se medíssemos nossos passos de acordo com as sucessivas avaliações feitas poragências de risco e outras instituições congêneres.
Com efeito, se os próximos 4 anos forem pautados por esse tipo de orientação, eles nãoserão certamente muito distintos dos 8 anteriores. Resta saber se a atual política econômicaconstitui o que se convencionou chamar de transição, suas margens de manobra e, sobretu-do, sua duração, seu fôlego.
São precisamente estas questões que se transformarão nos grandes focos de nosso pró-ximo XV Congresso Brasileiro de Economistas, de 10 a 13 de setembro, no Hotel Nacional,depois de 18 anos outra vez em Brasília. Um variado cardápio de opções compõe nossaprogramação. O primeiro grande eixo será o processo de transição; o segundo, um novoprojeto para o Brasil. Convidamo-lo, desde já, a integrar-se a essa iniciativa. Informe-se noConselho ou em nosso site. Inscreva-se. Paralelamente à realização de painéis e conferênci-as, haverá apresentação de trabalhos selecionados e de convidados especiais. E alguns cur-sos. E lembre-se: é um Encontro organizado por economistas, mas não pretende voltar-seexclusivamente para os economistas, senão para o público em geral, com a participação deautoridades e especialistas, profissionais e estudantes, pesquisadores e curiosos.
Nossas entidades estão trabalhando para que o próximo Congresso Brasileiro de Econo-mistas seja o melhor já realizado. Mas isto depende de cada um de nós, especialmente dosnossos associados. Estamos esperando você.
jan/mar de 2003������������� ������

��(/���0�1���� 1���2����3�14�������45������5�
�!����!�
�������������������������
����� ����������� �� �������
���� ���������������� �
����� �������������������
���������������� ���������
������������������������
� ���!�����"�� ������
����������� ��#�������� �
$������� �%������� �� �����
��&������'%(�&)*������ ��
���������� �����������������
����������+��� ������� ����
�������� ������ ��������
����� ����� ������������ ����
�������������� ��������,+���
������������������*
$����������������
����� ����-�������������������� �
�������.����������������
������������������������
����� �������������������� �
����������������� �+�*
��������������/�������/���������������� 6�/� �7 1�11� �(��1������
Conjuntura - Existe realmente um déficitna Previdência Social? A previdência tem deser superavitária?
Maria Lúcia - Aqui está um primeiro equívocono tratamento da questão e, na minha opinião, umequívoco que tem sido recorrente e intencionalmen-te alimentado – ou mesmo produzido – pelos gover-nos que se sucederam desde 1989. O Brasil possui,constitucionalmente, um sistema de seguridade so-cial que abrange a previdência social, a saúde e aassistência social. A Constituição de 1988 estabele-ceu as receitas que deveriam financiar a seguridade:as contribuições dos trabalhadores, as contribuições
dos empregadores sobre folha de salários, a contri-buição social sobre o lucro líquido das empresas(CSLL), a contribuição para o financiamento daseguridade social (COFINS, que incide sobre ofaturamento das empresas) e impostos gerais são asprincipais. Em 1996, ainda foi criada a CPMF. Noano de 2001, a soma das receitas da seguridadetotalizou R$ 136,88 bilhões. No mesmo ano, o totalde despesas (previdência, saúde, assistência e maiscusteio dos Ministérios da Saúde e Previdência eAssistência Social) foi de R$ 105,41 bilhões. O queestá fora desta conta? A “previdência” – aposenta-dorias e pensões – dos servidores públicos. E por
jan/mar de 2003������������� ������

jan/mar de 2003������������� ������
agravadas por anos e anos dedesinformação intencional. En-curtando: a previdência do siste-ma INSS (o conjunto de benefíci-os devidos aos contribuintes doINSS, que é parte da seguridade,mas não é tratada como tal) não édeficitária. Não é deficitária con-cretamente, pois as receitas sãosuficientes para pagar as despe-sas. Tem problemas inerentes aosistema, naturalmente, que po-dem ser sanados sem nenhumaçodamento. Mas os problemasmaiores que a ameaçam vêm defora: o desemprego, a informali-dade do mercado de trabalho e asistemática utilização de recursosobtidos com a CSLL, a COFINSe a CPMF em rubricas orçamen-tárias que não são previdenciárias(nem, sequer, de seguridade).
Há, porém, uma outra ques-tão: a previdência tem de sersuperavitária? Depende. Se aprevidência é entendida comoparte da seguridade, como políti-ca social, não tem de sersuperavitária, assim como a edu-cação pública não tem de gerarsuperávit. Se, no entanto, é en-tendida como política econômi-ca (o que considero descabido),a partir da lógica do mercado,
não pode ter déficit. Escolherentre um e outro entendimento éuma opção de governo.
Conjuntura - As despesasprevidenciárias com os servido-res públicos constituem o itemmais relevante e crítico das des-pesas orçamentárias?
Maria Lúcia - Certamente asdespesas com inativos do serviçopúblico são altas, principalmentelevando em conta os três níveisde governo: a União, os Estadose os Municípios. Cresceram, ade-mais, a partir de 1995, quando areforma da previdência, aprovadaem 98 – principalmente as amea-ças contidas no discurso oficial –,começou a ser discutida. Milha-res de funcionários pediram apo-sentadoria. E devem crescer ago-ra, diante de novas ameaças. Nãocreio, porém, que seja justa nemcoerente com a trajetória passadado atual governo a atitude depura denúncia embutida na cons-tatação de que as despesas previ-denciárias com os servidores pú-blicos constituem um item críti-co. É importante examinar comoe por que se chegou a este ponto,para pensar soluções adequadas.
A Constituição de 88 estabe-leceu o Regime Jurídico Únicopara os servidores públicos. Mui-tos servidores que tinham seuregime de trabalho regido pelaCLT e, portanto, contribuíampara o então INPS, deixaram defazê-lo. Suas contribuições preté-ritas não foram computadas paraefeitos de financiamento de suasaposentadorias. A partir de 1992,os servidores passaram a contri-buir para um “plano de segurida-de para o servidor e sua família”,com um percentual (hoje em11%) da íntegra de seus rendi-
que está fora? Simplesmente por-que estes benefícios não fazemparte da seguridade social. Nãofazem parte, porque a Constitui-ção assim o determinou. Aseguridade social, estabelecidaconstitucionalmente, é um siste-ma universal, ao qual qualquerbrasileiro pode, cumprindo certosrequisitos, ter acesso. Quanto aosservidores públicos, a Constitui-ção estabeleceu (art.40) que de-veria ser criado um sistema pró-prio, não universal, exclusivodeles (o que nunca foi feito).
Então, o equívoco consiste emapresentar a previdência social,por um lado, desvinculada dosistema de seguridade do qual elafaz parte e, por outro, inteiramen-te vinculada aos benefícios devi-dos aos servidores públicos, comos quais ela não deveria ter ne-nhuma relação. Sobre o que, es-pecificamente, se fala quando oassunto é previdência? Sobreseguridade? Sobre as aposentado-rias a quem têm direito os contri-buintes do INSS? Sobre as apo-sentadorias a que têm direito osservidores públicos em função doestatuto que os rege?
O tema é complexo e as expli-cações necessárias são longas,
/0���.����������������
��������������� ����������
������� � ��������� �
����� ��������� ���
�����.����� ��� �����
����� ������ ������1*
jan/mar de 2003������������� ������

jan/mar de 2003������������� ������
mentos. Novamente, estas recei-tas não foram contabilizadas parao financiamento de suas aposen-tadorias. O tal “plano de seguri-dade social para o servidor e suafamília”, que era uma determina-ção constitucional, jamais foiconcretizado efetivamente. Alegislação que regulamentou ospreceitos constitucionais na ver-dade os ignorou, colocando namesma estrutura – a previdênciasocial – o chamado regime geral,universal, e os chamados regimespróprios, exclusivos dos servido-res civis e militares. Nunca foiconstituído, no âmbito da União,um fundo, que seria necessário,para fazer face às despesas comos benefícios destes contribuintesespecíficos. E mais, a contrapar-tida do empregador, no caso oEstado, nunca foi efetuada. Al-guns Estados, como Rio de Ja-neiro e Paraná, instituíram siste-mas com base em fundos de na-tureza específica, aos quaisalocaram recursos. A grandemaioria dos Municípios, contudo,não tem condições de fazê-lo.
Conjuntura - Por que osservidores públicos são conside-rados geralmente como privilegi-ados? O benefícios dos aposen-tados e pensionistas é compatívelcom as contribuições pagas?
Maria Lúcia - A imagem doprivilegiado me parece, nitida-mente, um recurso de marketing.Na época de Collor, a imagemusada era a do marajá. O objetivoé criar um vilão e apresentá-lo àmassa dos aposentados peloINSS, que ganha muito pouco,como o culpado pelas mazelasque sofre. Trata-se de uma ma-neira pouco ética de tentar obterapoios para levar adiante uma
suposta solução para os proble-mas de caixa do governo. A su-posta solução consiste em desti-tuir o funcionalismo público doestatuto que o RJU lhe confere eque lhe garante um regimeprevidenciário diferenciado. Ora,a questão que precisa ser discuti-da com transparência é justamen-te a legitimidade de tal estatuto.Isto significa que a sociedadeprecisa posicionar-se acerca deindagações como: devemos darum tratamento especial a certascategorias de servidores dosquais se exige altíssima responsa-bilidade, como os juízes? Deve-mos entender que os militares,pelas especificidades de sua car-reira e pelo papel que exercem,precisam de um regimeprevidenciário próprio?
Eu não tenho resposta paraessas e outras indagações do gê-nero. Nem cabe dar resposta combase em opinião pessoal. Sãoquestões que devem ser levadas aum amplo debate público, poisrepresentam fundamentos sobreos quais se constrói o pacto so-cial e sobre os quais se edificamas instituições políticas. O quequero dizer é que a discussão estásendo mal conduzida, pois estápartindo de uma premissa falsa.
/2������� ������������
������������������������ �
����� ����� �����������3���
��.���������������� ��
���������.,��41
Os funcionários contribuem parasuas aposentadorias com 11% daíntegra de seus rendimentos, di-versamente dos filiados ao INSS,que pagam uma alíquota de até11% do teto hoje fixado em R$1.561,56. Ou seja, um funcioná-rio que recebe R$ 10 mil por mêscontribui com R$ 1,1 mil, aopasso que o trabalhador contri-buinte do INSS que recebe R$ 10mil contribui com R$ 171,77.Abaixo dos R$ 1.561,56 – situa-ção em que se encontra a grandemaioria dos funcionários públi-cos – não há “privilégios”; reinaa mais profunda igualdade.Aliás, não reina a mais profundaigualdade, porque os funcioná-rios não têm direito aos dez be-nefícios e três serviços que aprevidência social oferece, nempossuem FGTS.
Conjuntura - O regime únicoé o mais justo e adequado paraos trabalhadores do setor priva-do e do setor público?
Maria Lúcia - Em primeirolugar, cabe um pequena correção.Não temos, no Brasil, um regimepara os trabalhadores do setorprivado e um regime para os tra-balhadores do setor público. Te-mos um regime universal, obriga-
jan/mar de 2003������������� ������

apenas a partir de tais princípios.Se assim fosse, não haveria desi-gualdades. As sociedades se or-ganizam concretamente mediantepactos que, embora não supri-mam os conflitos existentes, setraduzem em instituições e arran-jos políticos que permitem diri-mir os conflitos, atenuá-los ousimplesmente mantê-los sob con-trole. A previdência é um pacto –entre gerações, entre setores, en-tre classes sociais –, e a formapela qual se concretiza dependede como se posicionam os atoressociais. Isto significa que não háfórmula justa no abstrato. A fór-mula “adequada” é aquela que époliticamente viável, aquela querepresenta o consenso alcançadopelos grupos de interesse, pelospartidos políticos, pelos sindica-tos, pelas associações empresari-ais. A fórmula “justa” é aquelaque resulta do debate, dos acor-dos, dos procedimentos democrá-ticos de escolha.
Conjuntura - O regime decapitalização é viável econfiável? Pode serimplementado imediatamente?
Maria Lúcia - Regimes decapitalização (uso o plural,porque há várias modalidades)são viáveis desde que haja recur-sos para custeá-los, e são confiá-veis desde que haja controles –legais, financeiros, administrati-vos – que os garantam. Não sãoadequados, porém, para protegercontingentes populacionais nu-merosos. Na verdade, não têmfunção de política social abran-gente. A universalização da pro-teção previdenciária, ocorrida no
mundo desenvolvido após a Se-gunda Guerra Mundial e adotadapela Constituição brasileira de1988, implica um regime de re-partição, condizente com a natu-reza redistributiva que encerra.Evidentemente, isso não significaque tal sistema deva descartarmecanismos de controle financei-ro e atuarial.
No caso dos servidores públi-cos, a criação de um fundo decapitalização poderia ter sidouma solução já no início dos anos90. A União poderia ter dado oexemplo, criando um fundo ad-ministrado pelo próprio Estadoou por uma agência com estafinalidade. Hoje, a situação éoutra, e a solução que está sendoproposta também é outra. O queestá em pauta, hoje, é um regimede capitalização privado para osservidores públicos. A propostamenos radical consiste na adoçãodo sistema único para todos –trabalhadores contribuintes doINSS e funcionários públicos –,público e compulsório, com acomplementação, optativa, viafundos privados de capitalização.Uma indagação, então, se coloca:quem perde e quem ganha comesta solução?
Como já foi bastante discuti-do na imprensa, a adoção de umteto para as aposentadorias dosservidores implica redução dereceitas. Os servidores que rece-bem acima do teto passarão acontribuir com menos. Se forempara o INSS, será necessário queo empregador (o Estado) contri-bua, sem o que, aí sim, a previ-dência social quebrará. (Não cus-ta lembrar que o chamado siste-
/5������ ������
����������
�����������
�����������,
���� �� �
�������
������������
������������*
#������������
��������-
�6�������
���������1*
/5��6����/���1���������������� �� ������ ��
tório, para os trabalhadores quetêm carteira assinada (que estão,claro, no setor privado) e faculta-tivo para outros trabalhadores,inclusive os do setor público, eum regime específico para ostrabalhadores do setor público.
Do ponto de vista dos princí-pios de justiça, pode-se afirmarque um sistema único para todosé o mais justo. Afinal, todos sãoiguais perante a lei, todos sãoigualmente cidadãos brasileirosetc. Mas estes, como sabemos,são princípios formais, abstratos.E as sociedades não se organizam

ma da iniciativa privada, o INSS,é sustentado basicamente – emcerca de 70% – pelas contribui-ções dos empresários empregado-res). Então, mais gasto para oEstado. Ou seja, o Estado não é,a curto prazo, um ganhador, epara sê-lo, a médio e longo pra-zo, muitas outras variáveis terãode ser administradas. Os aposen-tados pelo INSS, os atuais e osfuturos, poderão vangloriar-sepela conquista da “igualdade”(formal). Mas esta poderá seruma vitória de Pirro, pois, se osnovos parceiros pesarem nos co-fres, a conseqüência será a desempre: achatamento dos valorespagos. E quanto aos servidorespúblicos, se não há ganhos, tam-bém não há perdas substantivas.Os que recebem abaixo do tetopermancerão como estão; os querecebem acima do teto contribui-rão com menos. A estes últimosnão fará diferença contribuir,adicionalmente, para um fundoprivado ou público de comple-mentação previdenciária. Osgrandes ganhadores serão, defato, os bancos e seguradorasque administram fundos previ-denciários e o mercado financei-ro, que se abastecerá com osrecursos provenientes da novapoupança. O vencedor, ao fim eao cabo, é o FMI, cuja estratégiapassa a ser adotada, como sugeriacima, “consensualmente”.
Conjuntura - Qual deve sero papel dos fundos privados decapitalização?
Maria Lúcia - Fundos priva-dos de capitalização, a despeitode toda uma retórica que procura
atribuir-lhes um suposto papel deproteção social, são mecanismosestritamente econômicos de mo-vimentação do mercado financei-ro. Vale insistir: mecanismos afe-tos ao mercado financeiro, quenão têm nenhuma função inerentede dinamização da estrutura pro-dutiva da economia. Só agemsobre a economia como um todose forem a tal obrigados peloEstado. No contexto atual, decerto é importante para o País terum mercado financeiro pujante.Mas seria equivocado esperar quedaí se originassem benefíciossociais ou mesmo econômicosmais abrangentes, como cresci-mento da atividade produtiva,aumento do emprego etc.
Conjuntura - As experiênci-as levadas a efeito por outrospaíses latino-americanos logra-ram êxito?
Maria Lúcia - Depende doângulo pelo qual se considere oêxito. As reformas na Argentina,no Uruguai, no México, na Bolí-via e no Peru foram todas realiza-das na década de 90. Todas fo-ram privatizantes, mas preserva-ram sistemas públicos, uns mais,outros menos limitados, e regi-mes especiais para certas catego-rias de funcionários públicos. Ado Chile, a mais radical (no pú-blico, só ficaram os militares),foi feita por Pinochet em 1981,em plena ditadura. Os resultadosem todos os casos mostram resu-midamente o seguinte: a) a cober-tura diminuiu; menos trabalhado-res são protegidos hoje do queantes; b) o Estado não teve redu-ção significativa de gastos, pois
tem que bancar benefícios assis-tenciais cujos números são cres-centes; c) o mercado de segura-doras tem tendido à oligopoliza-ção, com conseqüente aumentodos preços; e d) as economiasnão se beneficiaram como era deesperar. Mais uma vez, o grandeêxito foi do FMI, que induziu(para não dizer exigiu) as refor-mas. Mesmo assim, no caso ar-gentino, pouco adiantou o deverde casa feito.
/(� ������� ��
��������,+��
�������������
�����������
����7������ �
��������+��
������ �
���������*
86�����������
������������
���� ����������
��������� ��
�����$�� �1*
���� ���� �������� �������� �����-������ ��������1*

jan/mar de 2003�������������� ������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �• ÓTICA PAULO SANTANA LTDA - Vantagens - 10% nas
compras a vista sobre o preço de tabela. Faturamento pelopreço de tabela, com uma entrada mais dois pagamentos,em 30 e 60 dias, sem acréscimo.SCLS 104, Bloco “C”, loja 01 - Asa Sul, Fone: (61) 225-3288.
• EDITORA DA UnB - Vantagens - 20% nas compras a vistaem publicações da Editora UnB; 10% nas compras de publi-cações de terceiros (os descontos não se aplicam a produ-tos em promoção).www.editora.unb.br - E-mail: [email protected] -Fones: (61) 226-7312 / 226-6874.
• HOTEL QUINTA SANTA BÁRBARA - Vantagens - 20%para ocupações feitas no período de baixa temporada; 10%para ocupações feitas nos períodos de alta temporada, istoé, fins de semana, férias e feriados (os descontos não seaplicam às diárias de hospedagem em promoção).Situado à Rua do Bonfim, nº 1, Pirenopólis - Goiás,Fone: (62) 331-1304.
• EDITORA CONTEXTO - Vantagens – 20% de descontopara livros de Economia. Cadastre-se no site:www.editoracontexto.com.br
• POUSADA CAMELOT - Vantagens - 15% de desconto nashospedagem pelo preço de balcão a todo associado acom-panhado de seus dependentes. Rodovia GO 118, Km 168,entrada da cidade de Alto Paraíso/GO.Fones: (61)446-1581(reservas) e 446-1449.SITE: www.pousadacamelot.com.br
• PLANET IDIOMAS - Vantagens – 25% de desconto sobreos preços de tabela para o associado; 10% de descontopara pagamento até o 1º dia útil do mês, além dos 25% dedescontos já adquiridos. Parcelamento do material didáticoem até 2x sem juros. Isenção da taxa de matrícula.SCS Quadra 04 Edifício BRASAL II – Sobreloja.Fone: (61) 321-2030.
• COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E OCARIBE (CEPAL)- Vantagens - As publicações encontram-se à disposição noCorecon-DF, com 30% de desconto para economistas em dia.
• LABORATÓRIO LAVOISIER - Vantagens – 20% de descon-to no pagamento a vista; e 10% de desconto no pagamentocom cheque pré-datado para até 30 dias.SHLS Quadra 716 Bloco F Sala 106 – Centro Médico deBrasília. Fones: (61) 345-8447/245-7316. Atendimento desegundas às sextas-feiras, das 07:00 as 18:00 horas.» PROJEÇÃO 09 – Setor Central do Gama – Ed. Central –Salas 607/609/611. Fone: (61) 384-8636. Atendimento desegundas às sextas-feiras, das 7:00 as 17:00 horas.
• INSTITUTO DE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNI-CA DA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DIS-TRITO FEDERAL – ICAT/AEUDF - Vantagens – 10% dedesconto nos cursos de pós-graduação.www.aeudf.br ou fone: 224-2905.
• CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA CORECON-DF / CRA-DF - Cooperação e parceria visando à soma deesforços e recursos, com o objetivo de promover a realiza-ção de cursos para os associados. Matrículas nas mesmascondições dos associados dos respectivos Conselhos.
• REDE DE DROGARIAS ROSÁRIO - Vantagens - 8% de des-conto pela tabela da Drogaria Rosário. Fone: (61) 323-5128.
• REVITARE – Clínica de Estética - Vantagens – 20% dedesconto para pagamento a vista nos tratamentoscorporais; 10% de desconto para pagamento a vista notratamento facial; ou, ainda, desconto de 10% parapagamento em até quatro vezes nos tratamentoscorporais; avaliação corporal e facial grátis, e a primeirasessão de tratamento corporal grátis.Avenida W3 Sul, Qd. 516, Bl. “C”, Sl. 29.Fones: (61) 245-7748 / 245-6752.
• EL COYOTE CAFÉ – Restaurante - Vantagens – Para paga-mento a vista, 15% de desconto no consumo de produtos doRestaurante; e 5% de desconto para pagamento das despe-sas com Cartão de Crédito utilizando American Express.Descontos especiais para grupos na contratação dos servi-ços de buffet, confraternizações, aniversários, reuniões etc.SCLS 208 Bloco “C” Loja 36 – Asa Sul. Fone: (61) 244-3958.
• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ANALISTAS DO MER-CADO DE CAPITAIS - Vantagens – Para os economistasregistrados e em dia com suas obrigações, descontos e/ouvalores diferenciados, nas mesmas condições oferecidasaos próprios associados da entidade promotora.SRTVN 701 Lote “C” Bloco “B” Sala 523 – Edifício CentroEmpresarial Norte. Fone: (61) 328-3318.SITE: www.abamec.com.brE-MAIL: [email protected]
NOVO• HOTEL ALVORADA - Vantagens – 20 % de desconto na
alta temporada e 30% de desconto na baixa temporadapara os economistas de todo o Brasil registrados e em diacom suas obrigações, bastando para tal benefício apresen-tar a carteira profissional.- SHS Quadra 04 Bloco “A” – Setor Hoteleiro Sul/Asa Sul.Fone: 322-1122. SITE: www.alvoradahotel.com.br.E-MAIL: [email protected]. br.- OBSERVAÇÕES: O Hotel Alvorada oferece: Internetgratuita e disponibiliza também uma sala para cursos, comocupação para 50 pessoas, desde que o economistasolicite com antecedência prévia, e uma sala de reuniãocom vídeo, caso seja preciso.
• CURSO DE MARKETING DE RELACIONAMENTOPROFESSOR: Edmundo Brandão Dantas - Mestre em En-genharia de Produção pela Universidade Federal de SantaCatarina, especialista em Marketing (FGV) e em Comunica-ção Social (UniCEUB).INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (61) 364-0078 - [email protected] HORÁRIA: 30 horasINÍCIO: 18 de março de 2003 - Término: 17 de abril de 2003VALOR: R$ 750,00 - Associados em dia: 15% de descontoLOCAL: IDEA - SHIS EQ, QL 06 / 08 Conjunto E - Térreo -Lago Sul - Brasília - DF
• CURSO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAPROFESSOR: Otávio Veiga - Consultor de empresas ediretor do IDEA Consultoria Empresarial. Professor nosprogramas MBA para Executivos do IBMEC BusinessSchool e da FGV Management.INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (61) 364-0078CARGA HORÁRIA: 30 horasINÍCIO: 24 de março de 2003 - Término: 28 de abril de 2003VALOR: R$ 750,00 - Associados em dia: 15% de descontoLOCAL: IDEA - SHIS EQ, QL 06 / 08 Conjunto E - Térreo -Lago Sul - Brasília - DF

jan/mar de 2003�������������� ������
����� ��+9�������� �6���
O Governo recém-empossadofoi eleito com base na promessade proporcionar ao Brasil novapolítica econômica. Existia, naopinião pública do País, reco-nhecimento de que a fórmulaneoliberal de política econômicaimplantada no Brasil, e na Amé-rica Latina em geral, fracassararedondamente. Médias e peque-nas nações do Leste da Ásia epaíses de dimensão continental,como a China e Índia, que nãose curvaram ao Consenso deWashington, registraram incre-mento anual do PIB, freqüente-mente acima de 7%. Os latino-americanos, com exceção doChile, não foram além da médiade 3%. Em conseqüência dessesmaus resultados, o Consenso deWashington deu lugar ao que(Bacha, 2002) se chamou deDissenso de Cambridge. Mesmoa tentativa de salvar a fórmulaneoliberal, através do denomina-do Consenso de Washington
� � ! � & �
� 8 �(�4� �����5������9��:8���;
���4�<8 ��1 �=5�1�� �(�>�23�� ������/���1�����%��5��� ������5������������ �����:��.����$���7���
Ampliado, não encontrou recep-tividade (Rodrik, 2002).
Diante do expresso compro-misso do atual Governo, de pro-porcionar ao País algo novo emtermos de política econômica,críticas vêm-se generalizando nosentido de que continua a agirexatamente como seu antecessor,ou seja, no estrito cumprimentodas fórmulas e metas do FMI. Acrítica é, dentro de certa medida,indevida. Os círculos financeirosinternacionais, com ampla co-bertura dos meios de comunica-ção, haviam, de fato, criado naopinião pública mundial a con-vicção de que governo de es-querda levaria o Brasil ao caosatravés de medidas de políticaeconômica, tanto radicais quantoirresponsáveis. A adoção, naprimeira fase de sua administra-ção, de comportamento conser-vador capaz de desmentir essecatastrofismo mal-intencionadotornava-se, assim, indispensável.
Isso não é, todavia, motivopara esquecer o fato de a experi-
ência concreta e a literatura es-pecializada (Grindle, 2000) te-rem demonstrado, exatamenteno período imediatamente poste-rior à vitória eleitoral, seremmedidas duras e difíceis maisfacilmente aceitas. Isso nos per-mite afirmar que, embora ocomportamento conservador departe da equipe econômica sejajustificável, ele não deixa deconter aspecto negativo em ter-mos de oportunidade perdida.
O importante é acompanhar apolítica econômica que, vencidaa fase inicial de justificável pru-dência, será implantada no País.Paulo Singer, um dos economis-tas de maior prestígio do PT, re-conheceu em entrevista à impren-sa (Folha de São Paulo, 03/02/03) a necessidade de debate, den-tro do Partido, sobre a nova es-tratégia a ser adotada. Em nossaopinião, este deve ser mais am-plo, envolvendo toda a opiniãoqualificada do País, inclusivepara que suas conclusões sejamamplamente apoiadas.

jan/mar de 2003�������������� ������
;���� ����.���
����7�������
O Brasil vive hoje uma dasmais graves crises de sua HistóriaEconômica. Após duas décadasde semi-estagnação, vê-se dianteda necessidade de implementarmedidas extremamente difíceis,tanto do ponto de vista econômi-co quanto político. E isso sim-plesmente para evitar que a pre-sente década repita a experiênciade suas antecessoras.
O quadro existente é, de fato,preocupante, inclusive pela ame-aça de escapar ao controle. Daperspectiva econômica, os as-pectos mais visíveis são, em pri-meiro lugar, o déficit cambial de4% do PIB, coberto por entradasmaciças de poupança externa. Eestas, além de não ofereceremqualquer garantia de continuida-de, solucionam o problema ape-nas a curto prazo, dado que im-plicam em compromissos futu-ros (juros, amortização, dividen-dos etc.) extremamente onero-sos em termos de divisas. Te-mos, em segundo lugar, o déficitfiscal cuja cobertura levou a dí-vida interna a mais de 60% doPIB, sendo sua explosão somen-
te evitada através de rolagem ajuros altíssimos e da manutençãode elevado superávit primário.
Do ponto de vista social te-mos, além de nível inaceitável deconcentração de renda, a incapa-cidade da economia de absorver1,5 milhão de novos trabalhado-res que se apresentam anualmenteao mercado. A fim de gerar pos-tos de trabalho de nível corres-pondente, o PIB deveria crescer àtaxa anual média de 6%, ou seja,o dobro da efetivamente observa-da.
O importante para avaliar anova estratégia econômica a seradotada pelo Governo é registrarque o atual quadro caótico nãoexistiria se o País houvesse man-tido ritmo de crescimento igualao registrado no passado (incre-mento do PIB de 7% ao ano) ou,melhor ainda, reproduzido a ex-periência do Leste da Ásia, ondeo PIB se elevou ainda mais rapi-damente. Cálculo elementar mos-tra que, se houvéssemos crescidoà média de 7%, registrada noperíodo 1950 – 1980, nossas ex-portações estariam em 150 bi-lhões de dólares, isto é três vezesacima do nível atual, a receitafiscal seria 2,5 vezes mais eleva-
da, e os postos de trabalho nosetor formal superariam em 14milhões o nível presente. A maiordemanda de mão-de-obra, porsua vez, se refletiria em saláriosmais altos, reduzindo a concen-tração de renda.
Nossos problemas atuaisresultam, portanto, fundamen-talmente, da ruptura do proces-so de desenvolvimento que já seprolonga por duas décadas.
Eles, portanto, só serão re-solvidos no contexto de políticaeconômica que assegure a reto-mada do desenvolvimento. Anova política econômica a serimplementada pelo Governodeve, diante disso, ser julgadaessencialmente em função doatendimento a esse requisito.
:��<��� �+9������
����� � �� ��������������
Não existe hoje muita discor-dância, entre especialistas e aopinião pública em geral, sobreo fato de que sem, a volta aocrescimento acelerado, nossasdificuldades, tanto econômicasquanto sociais, continuarão inso-lúveis. Menos percebido é o fatode que a passagem da semi-es-tagnação, presente ao incremen-to acelerado do PIB se defrontacom obstáculos extremamentesérios. Isso porque a políticaneoliberal colocou o País dentrodo que se poderia chamar deuma “armadilha de subdesenvol-vimento”, da qual será difícilescapar. (Magalhães, 2003).
Dos três problemas supra re-feridos o cambial é, sem dúvida,o de maior gravidade. O que atéagora se tentou para contorná-loforam medidas destinadas a ele-var exportações. Acontece que o
�������������� �������
�����������������������������
�� �����������������������������
������������������������������ ����
�������������������������������
�������������������

jan/mar de 2003�������������� ������
corolário imediato desse esforçoé o aumento do PIB com a conse-qüente elevação do consumo debens nacionais, reduzindo a dis-ponibilidade para exportações(efeito absorção), e o incrementodas importações. Os resultadosinicialmente obtidos em termosde alívio das dificuldades cambi-ais são, dessa forma, revertidos.
Mais grave é que estamos, nocaso, diante de distorção estrutu-ral de difícil correção. A absten-ção do Governo, decorrente daobediência à fórmula neoliberal,levou à especialização do País naexportação de “commodities”,tanto agrícolas (café, soja etc.)como industriais (aço, papel, ce-lulose etc.), produtos caracteriza-dos por mercado internacional delento crescimento e altamentecompetitivo. Nesse contexto,medidas de estímulo às exporta-ções resultam mais em ganhospara os exportadores do que noaumento das vendas externas.
A par disso, a abertura amplae unilateral da economia, impostapelo Consenso de Washington,levou à substituição da produçãointerna por importações em seto-res de alta elasticidade-renda dedemanda. Isso significa que qual-quer aumento do PIB determinaelevação mais que proporcionaldas compras externas. Estamos,assim, diante de distorções so-mente corrigíveis através de mu-dança na estrutura do nosso co-mércio externo. O que deverá serfeito através de investimentoscriadores de capacidade exporta-dora, em setores dinâmicos domercado mundial, e destinados asubstituir importações.
Duas alternativas podem serconsideradas para enfrentar oimpasse. A primeira consiste em
realizar imediatamente os inves-timentos necessários para elevara capacidade exportadora doPaís e reduzir sua tendência im-portadora. A vantagem principaldessa alternativa se acha na reto-mada, a curto prazo, do desen-volvimento. O problema está emque determinará, de imediato, oagravamento dos déficits cambi-al e fiscal, tornando certamenteindispensável a centralização docâmbio e, possivelmente, areestruturação das dívidas inter-na e externa. A reação negativada comunidade financeira inter-nacional dispensa comentários.
A segunda alternativa consis-te no aprofundamento dos bonsresultados recentes em termos desuperávit comercial. Este chegoua 12 bilhões de dólares, em2002, montante que poderá serampliado nos próximos anos. Adificuldade está em que (confor-me demonstra amplamente aexperiência brasileira dos anos80) esses bons resultados depen-dem de situação recessiva naeconomia, a qual eleva as dispo-nibilidades para exportação ereduz a demanda de importa-ções. Sua grande vantagem é queevita, embora ao preço de atraso
na retomada do desenvolvimen-to, o choque com a comunidadefinanceira internacional. No con-texto da promessa de mudançada política econômica, a opçãodo Governo deveria ser pela pri-meira alternativa. O fato de queela poderá implicar na adoção demedidas de exceção justifica seuadiamento e a recente elevaçãoda meta do superávit primário,medida esta que se enquadra cla-ramente na segunda alternativa.
A necessidade desse adia-mento poderia, no entanto, sercontestada com base na análisede Coutinho, Sampaio e Appy(2002). Esses autores colocam aquestão da armadilha cambialnos mesmos termos acima pro-postos. Denominam a primeiraalternativa de ajuste rápido e asegunda de ajuste lento, reco-nhecendo que a primeira repre-senta mudança e a segunda, ma-nutenção da política atual. Dife-rentemente de nossa proposta,consideram, porém, que o ajusterápido pode ser levado adiantesem ocasionar as tensões por nósprevistas e que exigiriam, certa-mente, a centralização do câm-bio e, eventualmente, a morató-ria. É em análises desse tipo que
� ������������������!"��
�������������� ����� �����
����!������������������
������������������������� ��#����
$����� �������� ��������
������������������������������

jan/mar de 2003�������������� ������
se apóiam as críticas supra refe-ridas à manutenção pelo novogoverno do modelo econômicoadotado por seu antecessor.
Ainda da perspectiva de curtoprazo, existe a questão dosaltíssimos juros vigentes no País,problema que deve ser, desdelogo, enfrentado, qualquer queseja a escolha entre as soluçõesacima. A taxa brasileira de juros(salvo situações emergenciaisem outros países) é a mais altado mundo. E ela não só constituiuma das causas básicas dos défi-cits cambial e fiscal, como re-presenta obstáculo intransponí-vel aos investimentos necessári-os à retomada do desenvolvi-mento. Até recentemente se acei-tava constituírem os altos juros ocorolário inevitável do elevado“risco-Brasil”. Só poderiam,dessa forma, ser reduzidos emfunção de substancial melhorianos atuais constrangimentoscambial e fiscal. Ora, contraria-mente a isso, demonstrou-se(Bresser e Nakano, 2002) quepaíses com “risco” superior aonosso registram taxas de juros
substancialmente menores.Inexiste, portanto, motivo paraque o problema deixe de serimediatamente atacado, cabendoao Governo definir os meios emodos de fazê-lo.
Isso não significa que a taxade juros não possa ser elevada,por períodos curtos, quando fato-res conjunturais o aconselharem.Situação desse tipo (aceleraçãono incremento de preços) foi cor-retamente alegada para justificaro recente aumento da taxaSELIC. Cabe, no entanto, evitarerro do tipo cometido no caso dasobrevalorização cambial dosanos 90, principal responsávelpelo desequilíbrio de nossas con-tas externas. Alegava-se que oreajustamento da taxa de câmbiodeterminaria a volta da hiperin-flação. Quando este foi feito, aelevação de preços se revelouinsignificante. Ou seja, parecelícito indagar até que ponto ex-cessiva preocupação com aumen-tos de preços constitui justifica-ção aceitável para atrasar oequacionamento do gravíssimoproblema da taxa de juros.
5�������������
�� �������������
Uma vez livre da armadilhamontada pela política neoliberal,nova estratégia econômica deveser definida pelo Governo. Oconsenso generalizado é de que,diferentemente do que ocorreunas últimas duas décadas, o Esta-do terá papel fundamental naeconomia. O simples reconheci-mento desse fato não é, todavia,suficiente. As linhas básicas demodelo alternativo devem sertrazidas ao debate público.
As estratégias de desenvolvi-mento se definem pelos merca-dos em que se baseiam. Assim,no Brasil, tivemos: o modeloprimário – exportador, voltadopara o mercado internacional deprodutos primários; o modelo desubstituição de importações, ex-plorando o mercado interno demanufaturas; e o atual modelo deintegração competitiva no merca-do mundial, supostamente apoia-do no mercado externo para pro-dutos industrializados.
Presentemente, discute-se noBrasil se a nova estratégia devebasear-se no mercado internoou externo. O debate é, dentrode certa medida, acadêmico,dado que, em países de dimen-são continental, como o Brasil,tanto um quanto outro devemser objeto de ações específicas.Ao Governo caberá apenas defi-nir prioridades, justificando aopção feita. Nas linhas abaixoapresentamos pontos básicos aserem considerados em novapolítica de desenvolvimento.
Com respeito ao mercado ex-terno, é consensual que o Paísnão pode manter-se especializadona exportação de “commodities”,
������������%�������&������'�������
��� ���������� �����(������
�����������������������������(���%
������������������%���)��������
���������������������������������%
�������'����%����������������
�� ��������(*������!"���������$�����

jan/mar de 2003�������������� ������
devendo evoluir para a conquistade parcela adequada dos merca-dos de tecnologia mais refinada.Isso significa criação de vanta-gens comparativas em setoresdinâmicos do comércio mundial,o que demanda investimentos empesquisa tecnológica, formaçãode mão-de-obra qualificada, cria-ção de infra-estrutura especializa-da e assim por diante. Os resulta-dos obtidos deverão ser traduzi-dos em política industrial do tipoque já foi qualificado como deindustrialização exportadora.
Outro ponto de vital impor-tância se acha na identificaçãodos responsáveis pela conduçãodo processo. As multinacionaisinstaladas no Brasil, e que con-trolam os setores mais dinâmicosdo mercado mundial, devem serchamadas a nos proporcionarmaior parcela dos grandes merca-dos mundiais. Suas vendas seconcentram presentemente nosmercados interno e regional.Deve-se, todavia, levar em contaque, dentro de sua visão neolibe-ral, o governo anterior jamais asestimulou a comportamento maisconsentâneo com a estratégiaoficial de crescimento para fora.
Papel importante deverá caberà empresa nacional, tanto degrande quanto de médio e peque-no porte. Nos dois casos, o papeldo BNDES, segundo maior ban-co de desenvolvimento do mun-do, será fundamental. O peso dosegmento nacional será tantomais importante quanto mais im-portantes forem as restrições dasmultinacionais a colaborarem nadisputa dos grandes mercados
mundiais para produtos de tecno-logia mais refinada.
Segundo sugestões geralmenteaceitas, as empresas nacionais degrande porte deverão ser transfor-madas em “global players”, rece-bendo facilidades inclusive parainvestimentos no exterior. Asmédias e pequenas empresas de-verão ser estimuladas a se organi-zarem em “conglomerados(“clusters”) e receberem apoiode grandes “trading companies”patrocinadas pelo Governo. Ex-periência de outros países (comoTaiwan e Itália), bem sucedidosem programas desse tipo, deveser aproveitada .
O mercado interno pode serexplorado no contexto de “socie-dade de consumo de massas”, talcomo propõe o programa do PT.Isso reclama, todavia, medidasmais amplas do que o simplesobjetivo de Fome Zero. Políticamais abrangente deve serespecificada pelo Governo e exa-minada não apenas no aspectosocial, como em sua contribuiçãopara a retomada do desenvolvi-mento. Medidas destinadas seja a
promover a substituição competi-tiva de importações, seja um pro-tecionismo educativo (que prepa-ra empresas para atingirem níveisinternacionais de competitivida-de), devem ser definidas. A for-ma de evitar que políticas dessetipo resultem, como no passado,em baixos níveis de produtivida-de, deve ser explicitada. Tambémaqui a experiência internacionalpode ser aproveitada.
Finalmente, cumpre aprofun-dar o papel das integrações eco-nômicas, que configuram políticade mercado, seja interno, sejaexterno. Assim: o MERCOSULdeve permanecer um simplesprograma de abertura comercialou dar lugar a políticas de desen-volvimento conjunto dos partici-pantes? Diante das duras críticasfeitas à ALCA, é importante dei-xar claro se esta será simples-mente rejeitada ou em que condi-ções poderá ser aceita. A ALCAconstitui ou não objetivo realista,e qual será a proposta do Brasilpara garantir aos demais mem-bros participação equânime nosbenefícios obtidos?
��������������������
�!��������"""�����
���+ ,-�./0��� �����������
��������������������
(�������������������������
���������������� �� �����
���*�����������������1�

jan/mar de 2003�������������� ������
����� ��+9��������
Estas são as questões coloca-das diante da nova administraçãonacional, e que devem ser objetode amplo debate, ao qual nãopoderão se furtar instituiçõescomo o COFECON, representan-tes da opinião qualificada de se-tores de magna importância parao desenvolvimento do País.
O novo governo foi eleitopara mudar a política econômi-ca. O fato de ter evitado, na suafase inicial, medidas de maiorprofundidade é compreensível ejustificável. Existe, contudo,risco nessa opção – risco, aliás,já reconhecido por figuras repre-sentativas da esquerda mundial.A cúpula governista não podedeixar-se enganar pelos aplausosque vêm recebendo diante daadoção, até agora, de política de
linhas conservadoras. Procedemeles fundamentalmente daquelesque, por longo tempo, se benefi-ciaram (e, portanto, têm interes-se na sua permanência) da fór-mula neoliberal. Nem deve oGoverno perturbar-se quando osaplausos desaparecerem (ou setransformarem em críticas), emfunção do lançamento de novomodelo econômico.
Medidas como a elevação dataxa SELIC e da meta para osuperávit primário, embora nofeitio do antigo modelo, se justi-ficam enquanto indispensáveispara manter a inflação sob con-trole e evitar a explosão da dívi-da pública. Mas porquê nada sediz sobre investimentos destina-dos a aumentar a capacidadeexportadora e a substituir impor-tações, medidas consideradaspela corrente principal do pensa-
mento econômico como únicaforma de colocar sob controle odéficit de transações correntes eretomar o desenvolvimento acurto prazo? Ao ser acusado derepetir as fórmulas do seuantecessor, o Governo respondeanunciando medidas de carátersocial. Ora, é público e notórioque estas só alcançarão plenosucesso no âmbito de economiaem rápido crescimento.
Em suma, opinião pública eespecialistas esperam que, tãocedo quanto possível, a nova ad-ministração do País venha a pú-blico dizer o que pretende colo-car no lugar do fracassado mode-lo neoliberal de desenvolvimento.E não temos dúvida de que suaproposta, após amplo e proveito-so debate, se beneficiará do mes-mo amplo apoio que o atual go-verno recebeu em sua eleição.
;���������
Bacha,E. Do Consenso de Washington ao Dissenso de Cambridge, em O Desenvolvimento em Debate 1. Rio deJaneiro: BNDES, 2002.
Bresser,L. C. e Nakano ,J. Uma Estratégia de Desenvolvimento com Estabilidade, em Dias Leite e Reis Velloso, ONovo Governo e os Desafios do Desenvolvimento. Rio: José Olympio, 2002.
Coutinho,L.Sampaio, F. A. e Appy, B. Correndo contra o Relógio: Condições de Sustentabilidade Cambial e Fiscal daEconomia Brasileira, em Dias Leite e Reis Velloso, O Novo Governo e os Desafios do Desenvolvimento. Rio:José Olympio, 2002.
Grindle, M.S. In Quest of the Political: the Political Economy of Development Policymaking em Gerald Meier eJoseph Stiglitz, Frontiers of Development Economics. New York: World Bank e Oxford UniversityPress, 2000.
Magalhães, J.P. A, A Retomada do Desenvolvimento e os Constrangimentos Cambial e Fiscal, a ser publicado emCarta Mensal do Conselho Técnico da CNC
Rodrik,D. Depois do Neoliberalismo o quê? Em Desenvolvimento em Debate 1. Rio de Janeiro: BNDES, 2002.
;�� 8 �(�4� �����5������9��:8����������������#��������$��%�������&#������'(��')

jan/mar de 2003�������������� ������
Mais uma vez em pauta a re-forma da Previdência Social, ago-ra com ênfase no regime do servi-dor público. Com grande destaquena imprensa, o assunto vem sendocolocado para a sociedade comouma reforma pela igualdade, paraviabilizar ações na área social ouaté mesmo para permitir a gover-nabilidade do País.
Como vem acontecendo desde1990, e mediante as mesmas táti-cas, é atribuído ao servidor públi-co a responsabilidade por eventu-ais déficits nas contas do governo.Falácias, distorções e alguns mitoscercam a questão, alimen-tados por relatórios de or-ganismos internacionaisque insistem em impormodelos, ainda que nemsempre adequados aos cos-tumes e à cultura de umpovo, como, por exemplo,o do Banco Mundial, de 31de maio de 2001, intitula-do “Brazil: CriticalIssues in Social Security”(www.worldbank.org).
� � ! � & �
!�/�?��:���4�����@���� 4?��&����;
����3 /5����(/���0�1��2� � �9 ��/� A����:����@��1�������1/���� ���B5�/ �
Com base em declarações deintegrantes do governo, publica-das na imprensa e não desmenti-das, e no que consta do relatórioacima citado, gostaria de fazeralgumas observações, relativa-mente à unificação dos regimes,ou seja, à proposta de integração,com um regime único, universal,compulsório, para os trabalhado-res do setor público e do setorprivado, com as mesmas regras.
A escolha da estrutura de umsistema de proteção social é emi-nentemente política e, portanto,razões técnicas ou econômicas
podem condicionar essa escolha,mas, fundamentalmente, trata-sede organização do Estado.
No mundo, encontramos asduas formas: regimes separadosou um único regime para todosos trabalhadores. No Reino Uni-do, por exemplo, berço da uni-versalidade, conforme princípioinstituído pelo Plano Beveridge,de 1941, tem-se um regime únicopara os trabalhadores dos setorespúblico e privado. Porém, os mi-litares, marítimos e trabalhadoresdas docas têm regime diferencia-do: é o reconhecimento de que os
desiguais devem sertratados desigualmente.Já na França, os regi-mes são separados, in-clusive entre os servi-dores públicos: os mili-tares e os civis possu-em, cada grupo, regimepróprio,embora, quantoaos civis, alguns benefí-cios, como os decorren-tes de doença e invali-dez, sejam pagos pelo
�2�������������������
����������������!��
�������������������
������3��&�����
�����4!������ ������

jan/mar de 2003������������� ������
regime geral, havendo transferên-cia financeira, àquele regime,pelo governo.
Assim, independentemente dadecisão política sobre o regime aser adotado em nosso País, o pro-blema da integração dos regimesprevidenciários brasileiros, a nos-so ver, poderá vir a ser o descum-primento, por parte do governo,de suas obrigações como empre-gador, o que já vem acontecendoao longo dos anos.
A integração compreendenão somente os benefícios, mastambém o custeio do sistema.Aliás, este precede aquele, talcomo dispõe o inciso 5° do art.195 da Constituição Federal.No regime integrado, como atu-almente é no Brasil, se o setorprivado contribui com 20% so-bre a totalidade da remuneraçãode seus empregados, mais 1%,2% ou 3% sobre a mesma basede cálculo, conforme a ativida-de desenvolvida, e, ainda, com6%, 9% ou 12% por empregadoque exerce atividade geradorade uma aposentadoria especial,o Estado deverá contribuir namesma base, senão o regimeintegrado ficará desequilibradoe, em breve, estarão falandonovamente em déficits.
O passado justifica nossa preo-cupação. Lembramos o períodopré-Constituição de 1988, em queo regime previdenciário dos servi-dores federais empregados (CLT)fazia parte do regime geral, bemcomo os “celetistas” dos Estados,Distrito Federal e Municípios. Atéhoje rolam dívidas dos entes fede-rativos, e não sabemos ao certo sea União contribuía em relação aosseus servidores.
Hoje, a União, as unidadesfederativas e os Municípios nãoagregam às contribuições de seusservidores a parcela respectiva desuas obrigações enquanto empre-gadores. Com a previdênciaunificada, o governo, seja fede-ral, estadual, distrital ou munici-pal, deverá alocar recursos paraaquele regime, da mesma formaque a lei impõe ao empregadordo setor privado. A idéia de pre-vidência social, desde 1883, naAlemanha de Bismarck, é de umfinanciamento tripartite. Quererfazer previdência somente comcontribuição do empregado, nocaso do funcionário, pode serchamado de poupança programa-da, de pecúlio, de mutualismo,menos de previdência.
Nas declarações de autorida-des, publicadas pelo jornal O
Globo, de 25 e 27 de janeiro docorrente ano, constata-se que aparcela do empregador não temsido alocada à previdência doservidor. São declarações do Mi-nistro da Previdência Social,Ricardo Berzoini: “Embora, naprática, o governo federal tenhade bancar a conta dos aposenta-dos, na teoria, ele não paga suaparcela, fazendo com que o défi-cit seja de R$ 30,1 bilhões emvez de R$ 23 bilhões”. Da mes-ma forma, os governos estaduais:no Espírito Santo, o governo ar-recada de contribuições dos ser-vidores, mensalmente, o valor deR$ 6 milhões e paga de aposenta-dorias R$ 40 milhões por mês.Conclui o governador: “...o querepresenta um déficit de 34 bi-lhões”. Ou seja, nenhuma respon-sabilidade do empregador!
Além disso, há equívocosnessa conta. O montante de apo-sentadorias pagas mensalmenteinclui aquelas concedidas anteri-ormente à instituição de contri-buições, quando a aposentadoriado servidor era um ônus para oTesouro, e as contribuições aoIPASE, por exemplo, assimcomo aos institutos de previdên-cia dos Estados, Municípios e doDistrito Federal se destinavam àspensões e assistência médica.Aliás, o Tesouro Nacional rece-beu o patrimônio acumuladopelo IPASE, o qual, enquantorecurso gerado pelo servidorpúblico, deveria estar sendo con-siderado no balanço das contasdivulgadas da previdência dosetor público. Não está, e nin-guém fala mais nisso!
Também o modelo de Estadoimplantado no País, especialmen-te a partir de 1995, vem diminu-indo suas atividades e, conse-
�5������$4������ ��)��������������
�����(��!��������������%����������
$������#���%������������������
�����!��������%�������6���%���
��������%������������� ��)�����

jan/mar de 2003������������� ������
qüentemente, o seu número defuncionários, os quais, por suavez, diante do terrorismo pro-vocado por nossas autoridades,ao cumprir os requisitos míni-mos exigidos, se aposentam.Hoje, é raro encontrar-se funci-onários em atividade com 35,40 anos de serviço. Não há con-fiança nem credibilidade.
O Banco Mundial, no relató-rio citado (p.3), chama equivoca-damente de subsídio essa contri-buição do Estado-empregador,como se não se tratasse de obri-gação do Estado, mas de umaliberalidade! Mais: informa que ogoverno federal, após imputaruma contribuição como emprega-dor de duas vezes a do emprega-do, como no regime geral, o quenão acontece, subsidia cada apo-sentadoria do setor público, anu-almente, em R$ 17,5 mil!
Os estudos realizados pelaAssociação Nacional dos Audito-res-Fiscais de Previdência Social(ANFIP), sempre apoiados e uti-
lizados pelos parlamentares, in-clusive os que hoje integram ogoverno, têm demonstrado reten-ções e desvios reiterados das con-tribuições sociais.
Um governo eleito com ex-pressiva votação, que consolida ademocracia brasileira, inclusivecom repercussões positivas noexterior, que queira buscar, de-mocrática e verdadeiramente, umconsenso na sociedade para areforma da previdência, deveabrir as contas da seguridade so-cial e, não, com vistas a ganhartempo, adotar os números dogoverno anterior, e nem mesmopartir das propostas de reformaque já transitam no Parlamento.Por que não uma auditoria nascontas da previdência?
Aliás, quanto a ganhar tempo,cite-se que o governo Reagan,para demonstrar à sociedade nor-te-americana a necessidade dereformas na área social, primeiroseparou os orçamentos fiscal e daseguridade, e Margareth Tatcherdiscutiu treze anos a reforma daseguridade inglesa, conseguindoapoio dos sindicatos e do PartidoTrabalhista, então na oposição.
As informações têm que sertransparentes. Os números devemdemonstrar a realidade. A impor-tância da matéria não admiteaçodamento nem “queremismos”.Precisamos ser convencidos danecessidade e correção da refor-ma proposta! Abrir as contas daseguridade é o caminho. É assimque deve ser feito!
;�!�/�?��:���4�����@���� 4?��&�����������#�*�������+�����,����-�.�/�0�1�
�������������#�2�3������2�����4�5�20.��1�
$��6���������*�������+�����,������$�������,����
Realização
Local
Temas
10 a 13 de setembro de 2003.
Brasília - DF.
Inclusão Social e Desenvolvimento; Indicadores
Econômicos do Brasil; Previdência Privada
e Fundos de Pensão; Sistema Financeiro; Transição
de Governo - de FHC a Lula; e Reforma Tributária.www.corecondf.org.br

jan/mar de 2003�������������� ������
=�<�������+9����� ���6�����
O quadro institucional geralÉ praticamente consensual a
observação de que está em cursouma fragilização dos Estadosnacionais, frente à expansão dasempresas transnacionais e à des-regulamentação financeira. Con-cordamos com essa observação,desde que destacadas as diferen-ças entre o que ocorre nos paísesdo Norte, centrais, ricos e pode-rosos, e nos países do Sul, perifé-ricos, pobres e/ou emergentes. Asmaiores empresas e conglomera-dos bem como os detentores dostítulos financeiros situam-se emEstados ao Norte, e ali tanto astransnacionais quanto o grandecapital desregulamentado atuamcomo agentes “extraordinários”de fortalecimento de seus Esta-dos nacionais e governos, com osquais compartilham a glória, opoder e o dinheiro.
Nas economias pobres ouemergentes, há um movimento
contrário: de desindustrialização,de incapacidade de geração tec-nológica própria, de perda demercados, de escassez de recur-sos financeiros e de endivida-mento crescente. Este empobre-cimento, visível nos países aosul do Equador, tem levado mui-tos cientistas sociais à crença deque o maior conflito de nossostempos decorre da polarizaçãoNorte/Sul. Nessas economias“perdedoras”, o Estado sofre umprocesso agudo de fragilizaçãofinanceira, deslegitimação cres-cente e, até mesmo, de soberaniadecadente frente aos credoresinternacionais. Os programas deajuste fiscal (ou estrutural) e suaversão atual – o déficit zero - ,elaborados e monitorados poragências internacionais (como oFMI e o Banco Mundial), contri-buem para enfraquecer os gover-nos e para limitar o crescimentoe o desenvolvimento econômico,promovendo modelos de abertu-ra comercial e financeira cujo
� � ! � & �
��1������/���4/4@�;
( �>��1��3��1��2��5� �� A/���/��<8 ���/�����1� ��������94/����� 1���
resultado mais visível são a per-da de autonomia monetária e asdívidas externas crescentes eimpagáveis. Na América do Sul,particularmente, há ainda umprocesso em curso de ocupaçãomilitar dos territórios nacionais,com a expansão das bases norte-americanas e os acordos milita-res desfavoráveis aos países queali se situam.
Ao Norte e ao Sul aceleram-sea despolitização e a perda de con-fiança nos mecanismos tradicio-nais da democracia liberal: o votoe a representatividade dos eleitos.Lá, onde o voto é facultativo,constata-se o pequeno número deeleitores que comparecem às ur-nas (igual ou menor do que 30%do eleitorado). Em regimes polí-ticos de voto obrigatório, o poderda mídia e do grande capitalexercem uma enorme influênciasobre a opinião pública. Em unse outros, a representação socialno interior dos partidos políticosé majoritariamente dominada

jan/mar de 2003�������������� ������
pelos representantes de setoresempresariais e das elites financei-ras locais e internacionais.
Do ponto de vista da ordeminternacional, esse período cor-responde à consolidação dos Es-tados Unidos como potênciamundial hegemônica, à interna-cionalização dos cartéis e oligo-pólios formados originariamentenos países da Tríade (América doNorte, União Européia e Japão),ao desmantelamento da UniãoSoviética e ao reerguimento eco-nômico e político da China.
Tendências observadasde Política Fiscal
Nas duas últimas décadasverificou-se uma adesão crescen-te, por parte das autoridades go-vernamentais, ao PensamentoÚnico e aos postulados que lhesão atribuídos em matéria depolítica fiscal. No campo da tri-butação, observam-se: a) redu-ção da progressividade dos im-postos diretos; b) reorientaçãodos subsídios e incentivos tribu-tários, do trabalho para o capital,do consumidor para as empre-sas, da demanda para a oferta; c)aumento da base de incidência edas alíquotas dos impostos indi-retos, considerados mais justos evoluntários; e d) eliminação par-cial dos impostos que incidemsobre o comércio exterior. Nocampo do gasto público, o dis-curso dominante é de condena-ção às atividades empresariaisdos Estados e sua progressivaprivatização, nos países do Nor-te. No Sul, trata-se mais de des-
nacionalização do que de priva-tização, tendo em vista que ocontrole acionário das estataisestá sendo transferido majorita-riamente para o grande capitalfinanceiro internacional. Assiste-se, ao mesmo tempo, à desarti-culação das instituições respon-sáveis pelo Estado-providência(ou Estado do bem-estar social).
Assimetrias de poder e decapacidade tecnológica e finan-ceira entre países centrais e peri-féricos, ou entre países ricos epobres, geraram conseqüênciasmuito distintas ao Norte e ao Sul,cuja complexidade não se podeanalisar no âmbito restrito desterelatório. Mas algumas caracterís-ticas essenciais devem ser desta-cadas. Em primeiro lugar, contra-riamente à retórica oficial e aoque se observa na América doNorte rica e na União Européia,nos países periféricos ocorreu umaumento considerável da cargatributária, absolutamente des-vinculado dos interesses sociais ecoletivos: a carga tributária vem
sendo aumentada para cobrir ospesados encargos da dívida exter-na e da dívida pública interna. Oendividamento crescente é utili-zado como justificativa para ado-ção de taxas de juros espoliativase vampirescas, mais do que cincoou dez vezes superiores ao cresci-mento do Produto Nacional, le-vando a um endividamento crô-nico e explosivo, e à deteriora-ção da soberania monetária. Ocorte de investimentos públicosestratégicos (infra-estrutura físi-ca), a redução dos gastos sociaise o desmantelamento dos siste-mas estatais de seguridade socialfuncionam como elementos dedesagregação da sociedade, deestímulo ao aumento da violênciae de reconcentração de renda1.
A política fiscal em curso re-flete também uma tendência àperda de direitos sociais, não sóno campo dos direitos de cidada-nia inscritos nas Constituições,mas sobretudo nas relações capi-tal-trabalho, onde se procura im-por regras de “flexibilização” do
�2��������$����������������$���
�(���������)����7��������
��������������%�������������������
�����������������������������
-������!"��%������(��������
���!"�������&�(�����
���6��7�������*����#���8����9!�������:�#�&������������;�6��������:�����<������#��������������3����+=�#���$�>���?���������������
���@���������������2������2������0$�����

jan/mar de 2003�������������� ������
mercado de trabalho, isto é, redu-ções de salário e deterioração dascondições materiais necessárias àreprodução dos trabalhadores. Aliberdade concedida às empresasem matéria de flexibilização dotrabalho significa muitas vezesempurrar para o trabalhador des-pesas que deveriam figurar naplanilha de custos das empresas,como também os riscos decorren-tes de oscilações da demanda.
Além das intervenções equi-vocadas por conta do FMI e doBanco Mundial, os países perifé-ricos e seus governos defrontam-se com ameaças concretas prove-nientes da OMC, que procuracolocar cláusulas restritivas àpolítica fiscal nos acordos sobrecomércio e investimentos interna-cionais. Se é verdade que as ne-gociações em torno do AMI –Acordo Multilateral sobre Inves-timentos – estão paralisadas, seusclones continuam presentes nasimposições colocadas pelas agên-cias reguladoras e/ou de financia-mento internacionais.
Tendências compensatóriasA emergência dos Estados
Unidos como superpotência, oucomo um verdadeiro império
quase planetário, a fragilizaçãodos Estados nacionais e de seusinstrumentos de política macroe-conômica (moeda e orçamentopúblico), a insegurança que reinasobre as condições materiais devida da maioria das populações,o poder desmesurado e ditadorialdo grande capital financeiro in-ternacional, enfim, o conjunto detraços representativos da pós-modernidade, desencadearamreações e movimentos de defesapor parte de certos agentes coleti-vos. Para não nos alongarmos,basta citar alguns: os blocos regi-onais e a União Européia, emparticular, no interior dos quais sefala mais em soberania comparti-lhada do que em perda de sobera-nia; um número imenso e cres-cente de associações de toda na-tureza (de consumidores, de pro-dutores, de usuários, de cidadãos,de marginalizados, de discrimina-dos etc.); entidades de porte eatuação multinacional, voltadaspara a condenação do modelohegemônico de organização so-cial e para a construção de umanova utopia, como é nitidamenteo caso da Attac – Associaçãopara Tributação das TransaçõesFinanceiras e de Apoio aos Cida-
dãos, da Aliança por um MundoResponsável, Plural e Solidário,do PSES-Pólo de Sócio-econo-mia Solidária desta Aliança, entreoutras. No Brasil e em muitosoutros países existem redes am-plas e diversificadas de sócio-economia solidária. Multiplicam-se, enfim, os gritos e manifesta-ções de protesto global contra asinstituições representativas doneolibealismo e de sua política:Seattle, Washington, Praga, Nice,o Fórum Social Mundial de PortoAlegre, Gênova etc.
Reações individuais a estaglobalização perversa tambémpoderiam ser apontadas: a reli-giosidade crescente, a crimina-lidade e a violência urbana,por exemplo.
É no campo da sócio-econo-mia solidária, no entanto, quevislumbramos o germe de umautopia realista, capaz de ofere-cer alternativas não apenas pro-visórias, mas também sólidas eduradouras, compatíveis comuma necessidade espiritual bási-ca de homens e mulheres: o hu-manismo solidário. Este assuntoserá desenvolvido nos tópicosque se seguem.
>��<�?��9������������ ���
Para muitos dentre os maisexpressivos autores em CiênciasSociais, o momento atual é detransição paradigmática [B. San-tos: p.15 e seguintes]. Isto é, esta-ríamos assistindo ao fim do que seconvencionou denominar de “mo-dernidade ocidental”, período queconvergiu para o capitalismo, re-gulado ou não, e para o seu opos-to, o socialismo estatal. No Oci-
�8����������������&�������������#��
���� �����(������������������
����������%���4�����$������
����� �������������� ������%
����(����������������������

jan/mar de 2003�������������� ������
dente, a modernidade foi forte-mente caracterizada pelo debateentre liberdade e igualdade, o es-paço econômico societal tendosido orientado para a produção devalores de troca e para a acumula-ção capitalista de riquezas, e o es-paço político para a democraciaformal por via eleitoral, presiden-cialista ou parlamentarista, republi-cana ou monárquica constitucional.
Após alguns séculos de ex-pansão capitalista e de experiên-cias liberal-democratas, não fo-ram cumpridas as promessas deliberdade (para todos), de igual-dade mínima (na posse de bensmateriais), de prosperidade gerale de cidadania generalizada euniversal2. As constatações levan-tadas no ítem anterior, de desi-gualdade crescente, de generali-zação da pobreza e de precarieda-des materiais, bem como as ame-aças de desequilíbrio ecológico,estariam apontando para o fim,necessário, daquela etapa civili-zatória que conhecemos comomodernidade ocidental, para ofim dos tempos de “ordem e pro-gresso”, durante o qual a socieda-de civil – espaço das pessoas e dereprodução da vida humana ecultural – esteve permanentemen-te sob o jugo do Capital – organi-zador da produção material – edo Estado – agente de atualizaçãodo poder político.
O novo momento e um novoparadigma estão apenas em cons-trução e deverão resultar do jogodas tensões entre o velho e onovo no interior de cada espaçosocial, conduzindo a uma novaformatação de regimes e de regu-laridades no interior daquelesespaços e, também, das institui-ções societais, responsáveis pelaarticulação das macroestruturas.Por exemplo, no interior do “eco-nômico” debatem-se o mercadocapitalista, coordenador da pro-dução de valores de troca, e osdiferentes sistemas de trocas não-comerciais, através dos quais seprocura minimizar o número dosexcluídos e garantir a continuida-de da produção de valores deuso3 necessários à sobrevivência.No interior do “político”, o con-flito é entre o formalismo da re-presentatividade eleitoral e a faltade autoridade e de legitimidade
dos poderes constituídos, abrin-do espaço para outras formas depoder, nem sempre lícitas (amáfia, o dinheiro, o crime). Noespaço “doméstico”, desarticula-se a família patrimonialista epatriarcal tradicional, e novoscritérios são permanentementeadotados para constituição dasnovas famílias, que podem, in-clusive, abrigar pessoas do mes-mo sexo.
Embora haja uma enormeincerteza, uma grande diversida-de de opiniões, uma extensa mul-tiplicidade de ações divergentes econvergentes, relativas à trajetó-ria da transição paradigmática, épossível já entrever as idéias-força, os valores e o eixo moral eético que deverão prevalecer nocaso de estarmos, efetivamente,no limiar de um novo momentocivilizatório4. São essas idéias evalores que permitem prever a
�8������ ���*#����� ����������&$��!%
��� ������������������������������
�� �������� ���������������
������%��$�� ����%������������
����� ����������� ���4������
����#������������6A����#��������#��#��#�����������B�������3�������������������������#����� ��C���������������@���C����
��6�B4�������������8�������������������=�#����������#��������������������������#���#���������������B����D$2�20��������
+�����=����#���3����/����������� �������%���������#��=���E�����������(��=���0 ��=��������F
G�9H���I�)���A����JK5����#���������������#����,������������������#A���������������$����3������#����������������#A��������#�����
���������������3��������������#A�������������6�B��4�����#�3����������#�������������������������������<�(�!�/.*�7���7�
?��#�8�������������#������(��##�������$�������" L�
M�9)��������������#����������B����#�����������������N���8��������������#�����A��#��#����������������������������������8��
����8����#�����#��������3����������������3���������������������#��#��#�����#�������������#��������������,�����#���������E
������B��<�4�D$2�20���������������������#��O�������� �������%���������#��=���E�����������(��=���0� ��=��������F

jan/mar de 2003�������������� ������
direção e os horizontes de novasconfigurações sociais.
Destaca-se, em primeiro lugar,o anseio pela emancipação dasociedade civil, a vontade deromper com o jugo oriundo dosdois pólos de poder que caracte-rizaram a modernidade: o Capitale o Estado. Esta idéia de emanci-pação deverá romper a famosaLei de Bronze, percebida porRicardo e atualizada pelo neoli-beralismo sob a denominação deflexibilização das condições detrabalho e de desarticulação doEstado-providência. Erguem-se,nas bandeiras reivindicatórias,duas demandas: a do pleno em-prego e a de uma renda míni-ma. A primeira ficando nitida-mente no campo conservador, deluta pelo restabelecimento dosvalores da modernidade ociden-tal, submetidos - é verdade - ànecessidade de evitar o caos so-cial e de preservar a ordem tradi-cional. A demanda de renda mí-nima é revolucionária, pois per-mite distinguir entre trabalho eemprego, entre emprego e sobre-vivência, entre rendimento e mer-cado; rompe também com a ne-
cessária comercialização da forçade trabalho e com o mito de queé possível vender a capacidadeprodutiva individual sem ven-der-se a si próprio.
No campo do poder estatal,crescem as desconfianças quan-to à natureza democrática dosgovernos ocidentais. Naquelaque é a nação mais rica do mun-do e que se arvora como porta-voz dos ideais democráticos damodernidade, o desinteresse cres-cente pela política e a prática ins-titucional do voto facultativoconduzem ao Poder Executivopessoas cuja aceitação eleitoralpode não chegar a 20% da popu-lação habilitada para o voto, oque contribui para deslegitimaros eleitos do ponto de vista desua representatividade. Amplia-seigualmente a percepção de que oseleitos pelo voto, tanto no PoderExecutivo quanto no Legislativo,procuram orientar suas decisõespara o cumprimento de compro-missos não explicitados publica-mente, realizados, em geral, emambientes fechados com os de-tentores do poder econômiconacional e internacional. O resul-
tado desses, e de muitos outroseventos e constatações que figu-ram cotidianamente na mídia, é aperda de legitimidade das autori-dades públicas5 e a sua incapaci-dade de delinear políticas públi-cas voltadas para a melhoria dascondições de vida da população.
O caráter social da ação estatal,marca efetiva dos Trinta Anos Glo-riosos, está sendo confrontado, àdireita, por “ações sociais” da em-presa privada, sobretudo nos seto-res da educação, saúde, assistênciasocial e cultura. Em geral, trata-semais de uma disputa pelo controlee manipulação de aparatos ideoló-gicos, visando homogeneizar prin-cípios éticos e morais, do que umapreocupação real com a melhoriado bem-estar social por parte deempresas privadas voltadas para amaximização do lucro, mesmo àcusta de um imenso desemprego eda redução do poder de comprados trabalhadores.
À esquerda, o Governo en-frenta o desafio do “terceiro se-tor”, denominação bastante am-pla para abrigar ONGs, coopera-tivas e associações de naturezabastante diversa e com práticasmuito variadas, fazendo com queesse grupo represente um campode atividade onde, efetivamente,há uma pluralidade cultural rica epromissora. Fica difícil debateraqui o sentido histórico desseterceiro setor, à medida que suatrajetória de expansão não é line-ar nem previsível, esperando-se,contudo, que ela se faça de acor-
�9�������������������%
����������������$��!������
7�����4�������#������
�� ����������������
L�/����������3���#�������������,�����6�����������������8�����������#������������#����������������,�����������,����������P��
��$�����;��������(�������@����8����������H������������!�����I���������H���""L���A���������#����������I�L��"L������
$�����C������)�����#�����#������� ���������"L����B�#������" ���������"����������������������#��#����������L������
$�����C�������������Q�����)����3����#��������� ���������""���A���������#����Q���#��4������������4������;�����������#��
������Q�����4��(�������@����8����#������#�������$�����C�������������#������<�D���1R������(��������9/������������;�<��(��=����2��
$����4/L����"4�"4����I�

jan/mar de 2003�������������� ������
do com características estruturaisdas sociedades onde atua.
As entidades públicas não-estatais que compõem o terceirosetor podem atuar em parceriatanto com as autoridades gover-namentais quanto com unidadesempresariais. Podem autofinan-ciar-se ou depender de doaçõesde outras entidades nacionais ouestrangeiras, públicas ou priva-das. Podem ou não visar a taxasmodestas de lucros. Podem utili-zar mão-de-obra assalariada ouvoluntária. Podem inserir-se emuma cadeia produtiva ou atuar deforma autônoma. Essas e muitasoutras alternativas é que deverãodeterminar o papel social que oterceiro setor irá efetivamentedesempenhar na formatação deum novo mundo, de uma novasociedade. Mas o que se esperadelas é que atuem no sentido derestabelecer um equilíbrio míni-mo entre a produção material e asnecessidades sociais, e entre oarbítrio de governos elitizados eos anseios de participação popu-lar ou de democracia ampliada.
@�<�#�����������#���+9��
Há uma ampla e variada gamade iniciativas que tentam minimi-zar os efeitos perversos da globa-lização neoliberal. Selecionamosapenas aquelas que ocorrem nocampo das políticas macroeconô-micas – monetária e fiscal –, in-terferindo nos regimes tributário-financeiros da ordem política [B.
Théret, 1992], e priorizamos asiniciativas que denotam rebeldia,resistência, às diretrizes do neoli-beralismo e do pensamento único(excluindo, portanto, iniciativastomadas pelo grande capital,como os fundos de pensão, osistema colonial de “currencyboard” implantado na Argentinae a tentativa do FMI de privati-zar a arrecadação de impostosna Argentina).
A moeda socialContrariamente a previsões de
correntes de pensamento socialdesenvolvidas nos Estados Uni-dos (como os textos de GaryBecker, que possuem muitosadeptos naquele e em outros paí-ses), que pregam a monetizaçãogeneralizada de todas as relaçõessociais (incluindo o afeto), asmoedas sociais são uma anti-moeda do ponto de vista institu-cional dominante. (Uma das prin-cipais exigências da visão domi-nante é que a moeda em circula-ção sob forma de papel-moedaou de moeda escritural tenha umlastro sólido, regras definidas einstituições responsáveis, enqua-
drando-se em sistemas e/ou regi-mes monetários.)
Moeda absolutamente semlastro, a(s) moeda(s) social(is)é(são) restrita(s) a ambientes ondesão voluntariamente aceita(s) pelacomunidade, passando assim aexercer, também, um papel de“coesão comunitária”. A razão detroca que se exprime em uma mo-eda social é determinada por ne-gociação na comunidade à qualela se destina, podendo estar fun-damentada em um “mercado fictí-cio” ou, simplesmente, simbolizartempos de trabalho com ou semdiferenciação do grau de qualifi-cação daquele que o exerce.
Existem muitas interpretaçõesacerca do significado presente efuturo das moedas sociais6. Umexemplo recente, de grande di-mensão política, pode ser encon-trado na Argentina. Há poucosmeses, o governo da província deBuenos Aires foi levado a emitiruma nova moeda, sem lastro – ospatacones –7, destinada ao paga-mento de funcionários e de forne-cedores do governo. À rejeiçãoinicial, compreensível, seguiu-se oanúncio, pela Associação de Ban-
��9�;����#�=� ��#Q���������;����S�������#������#���#��������8�����������#���6�����#������������#�������6��B������������8���
�����%�#��#������#���#���6���������������B���������S��������=����<��D$2�20���������������������2������9$�� ������2%�����<�F
��$����4#�����#����������3�������������%������!������/�����������B����������3�#�����������,�������6�����,�������$���%�����
��6����������6����������
� ����&������������������������
����������������(���������
������(����������������������!��
������������������������������

jan/mar de 2003�������������� ������
cos da Argentina, de que seus as-sociados “estão dispostos a aceitaros patacones para o pagamento deparcelas de empréstimos pessoais,hipotecas e prendários” (GazetaMercantil 24/26 de agosto de2001). Este caso é uma situaçãoextrema, que ocorre em um paísestrangulado monetariamente pelosistema denominado “currencyboard” 8. Na Argentina, o regimede “currency board” reconstituiuuma situação de extrema vulnera-bilidade externa, com altíssimoendividamento interno e externo –em dólar –, e insuficiência dabase monetária interna frente àsnecessidades dos mercados na-cionais. Efetivando-se a circula-ção oficial dos “patacones”, aArgentina estará ingressando,oficialmente, no regime trimetá-lico (dólar, peso e patacones).
Para o sentido desse trabalho, oque interessa destacar é que as moe-das sociais apresentam-se comouma reação da sociedade à ditadurado capital financeiro exercida pelosgrandes bancos e pelo capital finan-ceiro internacional, cuja presença étrágica nos países periféricos, às
voltas não apenas com a escassezde meio circulante, mas tambémcom taxas de juros que ultrapas-sam, de longe, a usura condenadapela Igreja Católica em tempospassados. As diferentes formas demoeda social em utilização no Ca-nadá, no Japão, no Brasil e/ou naArgentina constituem ainda umaforma objetiva e explícita de nega-ção do monopólio constitucionalde emissão do papel-moeda (pelosgovernos e bancos centrais) e deemissão da moeda bancária pelosbancos comerciais.
Algumas indagações podem edevem ser feitas com relação àexpansão de moedas ou créditossociais. Para os regulacionistasfranceses, por exemplo, a moedasinaliza para a existência de umcoletivo exterior aos agentes eco-nômicos, para um conjunto decrenças coletivas (confiança, repu-tação, legitimidade), representandouma verdadeira instituição de me-diação social (meio de pagamento)dotada de um poder simbólico (acriação social de riqueza). Ela étambém “um bem comum da soci-edade, como a linguagem. (...) Ela
é um bem comum por excelência.”[M. Aglietta : 437]. Por esta óticaregulacionista, cabe a pergunta:representarão os patacones maisum elemento de fragmentação danação argentina?
Em segundo lugar, podería-mos observar o significado finan-ceiro dessa moeda social no inte-rior das finanças públicas. É evi-dente que não só os pagamentosdo governo passam a ser feitosem patacones, mas suas arrecada-ção também, deduzindo-se daíque a economia pública provinci-al de Buenos Aires poderá desar-ticular-se progressivamente dosistema econômico nacional (mo-vido a pesos ou a dólares), mo-vendo-se para uma “situação detudo ou nada”: autonomia total/autarquização absoluta ou aniqui-lamento completo. Bastaria umpronunciamento do FMI, via go-verno central argentino, para quetodos os órgãos provinciais sejamextintos, passando ao BancoMundial a responsabilidade dequitar, via crédito externo, asdívidas para com o setor privado!Este cenário futuro não pode serdescartado, pensamos.
Enfim, poderíamos indagar,em um cenário positivo de ampli-ação das moedas sociais, comopagar a dívida externa com moe-das não conversíveis em dólar?Isso nos permitiria vincular ofuturo das moedas sociais à ex-portação de bens e serviços porela facilitados. No quadro atualde recessão mundial, esta alterna-tiva parece pouco provável.
�2����������������������&��
����������!��������������7
��������������$����������������
�������������(����������������
$���������������������
���3�#��#����,�����#�����������/�3�����������������""�����������������������6�;����������C���������������3���������������������
�������#����,������3���������������������������������������������/��������������������������������#���.2T�������=P�����#�6���
���"�L�������.2T��L�����=P����#��"�G�����������.2T�������=������6�������A������" ������������#����������������������
C���������4�#������

jan/mar de 2003�������������� ������
Na verdade, para avaliar o sig-nificado histórico dos créditos so-ciais, moedas distintas dos padrõesmonetários oficiais, é necessário“pensar para além do sistema deeconomia de mercado, produtor demercadorias, e de seu maquináriode utilização econômica abstrata(juntamente com as formas políti-cas correspondentes). ... é precisofazer alguma coisa diferente enova, algo que até agora não exis-tiu.” [R.Kurz: 192 e 195]. Na pers-pectiva que nos anima, as moedassociais constituem, intrinsecamen-te, embriões da nova sociedadenão-mercantil, não-capitalista.
O Orçamento ParticipativoTrata-se de um instrumento de
compartilhamento da autoridadeem matéria de alocação de recur-sos públicos. Tradicionalmente, ogasto público tem sido decididopelo Congresso ou pelo PoderExecutivo, nos países ocidentais.A deterioração das condições éti-cas de exercício do poder político– no interior do qual se insere acompetência para promulgar a leido orçamento – e as denúnciasconstantes de corrupção na mani-pulação dos recursos financeirosestatais, juntamente com a oligar-quização do estamento governa-mental, são elementos que vêmatuando no sentido de ampliar adesconfiança com relação à capa-cidade de o governo exercer asfunções de alocação de recursosem prol do bem-estar coletivo.
Mais ainda, no passado recen-te aumentaram as divergênciasentre o Poder Executivo e o Po-der Legislativo em matéria degasto público. Os parlamentaresprocuram atender a seus interes-
ses pessoais (individuais ou cole-tivos) na votação do orçamento,enquanto a burocracia ministerialtem sido conduzida a uma postu-ra tecnocrática que procura im-pingir, sem maior aprofundamen-to, critérios empresariais a deci-sões que são - ou deveriam ser -eminentemente sociais.
O Orçamento Participativo,cuja marca histórica é o governodo Partido dos Trabalhadores, emPorto Alegre (Rio Grande do Sul),Ipatinga (Minas Gerais) e em ou-tros municípios do Brasil, é umaforma de socializar a decisão emmatéria orçamentária, de ampliar atransparência da ação governamen-tal e de deslocar o ambiente ondese resolvem os conflitos entre Exe-cutivo e Legislativo para fins dedecisão alocativa. Sobretudo quan-do se trata de investimentos sociais(educação e saúde, mas tambémurbanização, segurança pública,iluminação etc.), a participação dacomunidade na seleção dos proje-tos financiados por recursos públi-cos tem sido vista não só como umelemento que favorece e amplia aparticipação democrática da popu-lação, mas também como um ins-trumento que facilita a elevaçãodos níveis de eficiência e de produ-tividade do gasto público.
É a inovação mais bem suce-dida, em matéria de política fis-
cal nos últimos 20 anos. Por isso,espera-se que sua prática se gene-ralize em outros Estados do Bra-sil e em outros países. É desejá-vel também que o debate comu-nitário seja estendido ao sistematributário, propiciando uma trans-parência sobre a incidência dacarga tributária (quem paga osimpostos? o capital, o trabalho,as empresas, os consumidores?).
As entidades oficiais tam-bém entenderam o alcance po-lítico do orçamento participati-vo e querem, já, integrá-lo asuas atividades. É provável queo Banco Mundial ofereça re-cursos para a disseminação daspráticas de orçamento partici-pativo não só na América doSul mas também na África. NoBrasil, o governo acaba de lan-çar uma campanha de “alfabe-tização tributária”, utilizandoos fiscais das Receitas Federale Estaduais para um programade educação tributária em esco-las e em associações da socie-dade civil, voltada para desta-car o caráter social do imposto,isto é, sua capacidade de gerarserviços sociais para os maispobres. Fica difícil julgar seusprováveis desdobramentos,pois a campanha ainda não co-meçou, tendo apenas sidoanunciada pela televisão.
�����!������������ ������
$�������������4�������������
�������!���#��%����������
�����)������!����� ���������

jan/mar de 2003������������� ������
A Economia Solidária – ESAbrange o conjunto de ativi-
dades organizadas segundo crité-rios e regras fundamentalmentedistintos da empresa capitalistatípica: propriedade privada docapital, busca do lucro máximo,acumulação individual da riquezagerada e da mais valia, produçãode valores de troca divorciadosdas necessidades sociais e coleti-vas. Também é absolutamentedistinta das empresas estatais, noque concerne à origem dos recur-sos e regras de atuação e decisão.
Artigos de Alain Lipietz e deEdith Archambault, publicados em“Problèmes Economiques N.2712”, sob os títulos “Associationset lucrativité”, e “L’originalité dumodèle français”, esclarecem queas unidades que integram a Econo-mia Social, na França, possuemuma característica comum, a não-lucratividade, imposta e aceitahistoricamente em razão da des-confiança para com o Fisco e paracom o setor privado, pois naquelepaís as associações nasceram deum processo de autoafirmaçãopopular, em combate permanentecontra o Estado e contra a empresa.
As unidades que integram aeconomia social são classificadas
em três grupos: as cooperativas, asassociações e as entidades de as-sistência recíproca (“mutuelles”),estimuladas por uma lei centená-ria, de 1901, que permitiu a auto-organização da sociedade civil,sem consentimento prévio do Go-verno. Por isto, ela é vista comouma lei de liberdade, de autono-mia, de iniciativa cidadã. ParaGide e Jaurès, as associações fran-cesas foram precursoras do Esta-do-providência até a “liberação”,tornando-se depois subcontratadasdo Estado.
Um conjunto de regras: oprincípio de direção – uma pes-soa, uma voz; o princípio de indi-visibilidade das reservas; a lucrati-vidade limitada. Esse conjunto deregras permite situar as unidadesda economia social como empre-endimentos comerciais não orien-tados pelos critérios de lucro.
Uma pessoa, uma voz, umvoto: princípio de gestão – aregulação do poder vincula-se àadesão de pessoas, e não à partici-pação no capital (que, este, é oprincípio das SAs). É um princí-pio considerado democrático.
A unidade social dispõe de umcapital próprio que não é apropriá-vel pelos associados, é coletivo e
indivisível, decorrendo daí sua auto-nomia “existencial” com relação aosfundadores e seus sucessores.
Seu objetivo é um projetosocial que não se confunde comos benefícios e ganhos particula-res dos associados. A interpreta-ção atual de não-lucratividade(conceito que excluiria as coope-rativas) sinaliza que, em havendoexcedente, ele deve ser reinvestidono projeto social.
Em vários países da Europa aEconomia Solidária está presen-te e atinge dimensões considerá-veis em termos de pessoas ocu-padas. No Brasil, “entre 1990 e1998, a taxa de crescimento donúmero de cooperativas foi de44%, e a taxa de crescimento donúmero de cooperados atingiu53%” [N.Tadashi Oda: 95], esti-mando-se em aproximadamente5 milhões o número de coopera-dos brasileiros (mais ou menos5% da população em idade eco-nomicamente ativa). Há tambémum PSES-Pólo de Sócio-econo-mia Solidária, constituído pelosPACS – Programas Alternativosdo Cone Sul, pela FPH – Funda-ção Charles Léopold Meyer parao Progresso do Homem e pelaADSP –Agência de Desenvolvi-mento de Serviços de Vizinhan-ça, que procura recolher, anali-sar, facilitar, debater as experi-ências mundiais em curso deempreendimentos vinculados àEconomia Solidária.
É importante destacar que aEconomia Solidária prioriza osvalores de uso sobre os de troca,fundamentando-se na livre associ-ação de pessoas em torno de umprojeto coletivo, e com ênfase nosvalores de coesão e de solidarie-
�2� �������.����#���(������
���*�������� �����������4��
������������������������
$���������������������
��������������������

jan/mar de 2003������������� ������
dade, propiciando uma reaproxi-mação entre a Economia e a Ètica.Enfim, consideramos que as inici-ativas atuais que se desenvolvemem torno da economia solidáriapodem ser vistas como uma res-posta de adaptação da sociedadeao neoliberalismo e às dificulda-des da vida material que atingem amaioria das populações, apesar dacrescente diversidade e multiplici-dade de objetivos de um conjuntoespecífico constituído pelasONGs. Precisamos de pesquisassobre esse terceiro setor, e, parti-cularmente, sobre as unidades quepoderíamos incluir na nossa Eco-nomia Solidária.
A�<�:������+9��
Das exposições anteriores,destacam-se as medidas a seguir,consideradas prioritárias no qua-dro de uma política fiscal volta-da para o bem estar coletivo:1- luta pela introdução da renda
mínima universal;2- respaldo integral às práticas
de Orçamento Participativo eà multiplicação de experiênci-as com moedas sociais;
3- denúncia permanente dos prin-cípios elaborados pelo pensa-mento único para gestão dapolítica fiscal, em especial osPAS – planos de ajuste estrutu-ral elaborados pelo FMI e Ban-co Mundial e sua atualizaçãomais recente – o déficit zero;
4- oposição sistemática aos meca-nismos opacos de endivida-mento externo e interno, defe-sa de uma auditoria da dívidanos termos propostos pelaCampanha do Jubileu 2000 ede limites para o seu pagamen-
to, conforme a capacidade eco-nômica da nação e as exigênci-as de resgate da dívida social;
5- apoio aos segmentos de ativi-dade que integram a economiasolidária, em cada país;
6- defesa sem tréguas do sistemade seguridade social com basena repartição e na solidarieda-de intergeracional.Cumpre reconhecer que é difí-
cil, em momentos de transiçãoparadigmática como o atual, fazerpropostas sobre uma nova políticafiscal para uma nova sociedade,solidária e plural, sociedade queimaginamos, embora desconhe-cendo-a. Mas a imagem que delafazemos pode ser construída combase na arqueologia histórica e naantropologia cultural. Eu diria queo valor central – a solidariedade –é uma herança que ainda persisteem muitos de nossos países. NaAmérica Latina, por exemplo, atradição indígena é repleta devalores e de práticas comunitári-as, solidárias. Braudel nos ensi-nou que a produção de valoresde uso era bastante corrente emPortugal, na época dos descobri-mentos (ver item 2 sobre “novoparadigma”). Mesmo hoje, mui-tos autores assumem que a so-brevivência em comunidadespobres, no Brasil, implica neces-sariamente em atitudes solidárias
e na troca de serviços sem a in-termediação da moeda e do mer-cado capitalista.
Penso ainda que, ao procederdesta forma, não me afasto de-mais das propostas apresentadase consensualmente aceitas na reu-nião do Rio de Janeiro, em abrilúltimo. A verdade é que, atéaquela data, nossas sugestõesficavam bastante próximas de umEstado-providência ideal, de for-matação keynesiana e sócio-de-mocrata, onde todas as necessida-des básicas estariam cobertas,impostos diretos e indiretos te-riam alíquotas progressivas vin-culadas à renda, ao patrimônio eao grau de necessidade dos pro-dutos. Além disso, ficou claro,naquela reunião, que, para ospaíses do Sul, existia uma condi-ção preliminar ao exercício plenodos instrumentos fiscais: anularparcialmente e renegociar a dívi-da externa, confrontando, aomesmo tempo, os programas deajuste estrutural elaborados peloFMI, Banco Mundial e G-7.
No entanto, a perspectiva pormim introduzida (com base nostextos do PSES e na obra de au-tores como B.Santos e B. Theret)de que estamos vivenciando umperíodo de transição para umnovo paradigma, e que podemosoptar por vias que nos conduzirão
� ������������� ���������
:��������������:����������!
������������������������
�����������������

jan/mar de 2003�������������� ������
a um “outro mundo”, no qual osprincípios da modernidade oci-dental serão substituídos por umanova ética fundamentada na soli-dariedade, no compartilhamentoda autoridade e na oferta abun-dante de valores de uso - levou-me a atualizar aquelas propostas,compatibilizando-as com o quepoderá vir a ser “a nossa utopia”.
Acredito, como BoaventuraSantos [pg 174], que “a dicotomiaEstado-sociedade civil desenca-deou uma relação dinâmica entreos dois conceitos, que, em termosgerais, pode ser caracterizadacomo uma absorção recíproca econstante de um pelo outro. (...)[implicando] dois processos dife-rentes: a reprodução da sociedadecivil na forma de Estado, e a re-produção do Estado na forma desociedade civil. (...) Assim se ex-plica que a maior parte das recen-tes propostas para conferir po-der à sociedade civil redundeem desarme social e políticopara a maioria dos cidadãos: opoder que aparentemente se retiraao Estado para o dar à sociedadecivil continua a ser, de fato, exer-cido sob a tutela última do Estado,apenas substituindo, na execuçãodireta, a administração pública
pela administração privada e, con-seqüentemente, dispensando ocontrole democrático a que a ad-ministração pública está sujeita. Alógica privada, que é quasesempre a lógica do lucro, com-binada com a ausência de con-trole democrático, não podedeixar de agravar as desigual-dades sociais e políticas.” [in Acrítica da razão indolente.]
Em outras palavras: de nadaadianta privatizar, nem “ONGar”o Estado; as reformas políticasdevem ser mais profundas e com-binadas a uma nova ética e a umanova organização social da pro-dução, da qual estarão excluídos,necessariamente, os valores detroca, as mercadorias, e com elasa “lex mercatoria”.
Sem a produção de mercadori-as, é muito provável que seja pos-sível abolir os impostos sobreprodução e consumo no interiorde uma nação. Por outro lado, seas trocas forem realizadas combase nos custos de produção,zerando-se os lucros, tampoucohaverá necessidade de impostosobre pessoa jurídica. Em umasociedade solidária, apenas doisimpostos são necessários: umimposto sobre rendimentos e
sobre o patrimônio, de arreca-dação universal, segundo crité-rios de justiça social, e impostossobre o comércio exterior, deforma a facilitar as trocas interna-cionais sem prejudicar a economiade cada nação.
O imposto de renda é umfundamento essencial da plenacidadania, da igualdade política.É a contrapartida tributária deum processo de compartilha-mento da autoridade, da multi-plicidade de polos de poder. FoiB. Théret quem nos ensinou queo imposto é a produção trans-formada em poder político!Sua progressividade vai depen-der das condições de como sedistribuem o produto e a rendanacional. Em sociedades iguali-tárias não há necessidade de pro-gressividade do imposto.
Os gastos com a produçãode bens coletivos, de responsa-bilidade do Estado, das comuni-dades, deverão ser objeto dedecisão coletiva, mediante oestabelecimento de regras fixa-das por consenso ou majoritari-amente. Nas palavras do Sindi-cato Nacional de Impostos daFrança, o montante da despesapública deverá ser decididocom base nas necessidadessociais e coletivas. E é o mon-tante da despesa que deverá de-terminar o montante necessáriodos impostos a recolher.
As duas proposições acimaconvergem para a necessidade,imediata, de fortalecer institui-ções e procedimentos vincula-dos ao orçamento participati-vo, ampliando o debate democrá-tico para o campo tributário, paraa análise da incidência fiscal.
�2���������� �%������������������
���������������%����(��������
��)���������������������#���%����
���������������� ���
������������������������������

jan/mar de 2003�������������� ������
No tocante à proteção social eàs instituições de seguridade, oprimeiro cuidado é o de denunci-ar, a todo instante, os mecanis-mos perversos e concentrado-res de renda embutidos nosfundos de pensão, instrumentoscolocados à disposição das elitesricas e alimentados por mecanis-mos especulativos (nos mercadosimobiliários e de títulos financei-ros, incluindo-se aí a dívida pú-blica). Por enquanto, o melhorsistema de seguridade social é ode repartição, com recursospúblicos, de abrangência genera-lizada e universal, em níveiscompatíveis com as necessidadesmínimas de sobrevivência digna.
Contrariamente ao que estáestabelecido nos dogmas neoli-berais, a moeda não é umamercadoria como outra qual-quer, devendo eliminar-se todosos mecanismos que permitemespecular em ativos monetários,como também fixar um teto paraas taxas de juros reais, jamaissuperior a 6% ao ano. Essasduas restrições permitirão umautilização saudável de um siste-ma monetário voltado para afacilitação das trocas, prioritária,senão exclusivamente.
Resgatar o papel da moeda,como instrumento de trocas,significa também abrir possibi-lidades para a formação de umfundo de resgate da dívidasocial, alimentado pelos direi-tos de senhoriagem (transferi-dos do Estado para a sociedade)e por acréscimos decorrentes doaumento da produção nacional.Mais do que atender a gastoscorrentes, esse fundo deveráestar destinado à construção de
um patrimônio mínimo paracada cidadão, para a garantia deuma moradia própria e para as-segurar a todos a posse dosbens de capital necessários àprodução em sociedade.
Essas são, no momento, aspropostas que me parecem com-patíveis com os princípios deuma nova sociedade, onde o prin-cipal vínculo de coesão socialseja a ética solidária.
B�<�$���������������
Atores na construção da novasociedade são todos aqueles queescolherem a vida, ou, parafrase-ando Victor Hugo,
“Ceux qui vivent, ce sont ceuxqui luttent; ce sontCeux dont un dessein fermeemplit l’âme et le front,Ceux qui d’un haut destingravissent l’âpre cime,Ceux qui marchent pensifs,épris d’un but sublime,Ayant devant les yeux sanscesse, nuit et jour,Ou quelque saint labeur ouquelque grand amour.(...)Ceux-là vivent, Seigneur ! lesautres, je les plains,
Car de son vague ennui lenéant les énivre,Car le plus lourd fardeau,c’est d’exister sans vivre.(Châtiments, 31 de dezembrode 1844)Os versos de Victor Hugo sina-
lizam para uma verdadeira revolu-ção sem exército nem armas e parao pressuposto de uma estratégiadefensiva, em primeiro plano. Porestratégia defensiva queremos indi-car a capacidade de resistir, materi-al e espiritualmente, à crise econô-mica e social em curso, que tende ase aprofundar e a aniquilar, literal-mente, massas importantes da po-pulação. Significa também subtra-ir-se aos ditames da filosofia indi-vidualista competitiva e do consu-mismo, apontado como verdadeiradoença do capitalismo, por ErichFromm, desde a década de 1960.
Na realidade, a ideologia doconsumismo é central na teoriaeconômica neoclássica e atual,chegando ao paroxismo de deno-minar “bens” às mercadorias obje-to de troca mercantil, e de conside-rar que a satisfação máxima do“homo economicus” decorre ou éequivalente ao máximo consumode bens... Na mesma linha de raci-ocínio, aquela teoria confunde o
�,������������������%�����
�����������������%������$��
�(���(���������(�����������
$���!���������$���������������
�� ����������

jan/mar de 2003�������������� ������
;���������
AGLIETTA Michel. “Etat, monnaie et risque de système en Europe.” In: B. THERET (org), L’Etat, la finance et lesocial. Paris: Ed. La Découverte, 1995.
HOBSBAWM Eric. “A falência da democracia”, in Folha de São Paulo/Caderno Mais de 09-09-2001.
JURUÁ Ceci. “O vazio e a Economia: o deserto e as miragens”. In: Formas do Vazio. Ed. Via Lettera (no prelo).
KURZ Robert. “Adeus à economia de mercado. Perspectivas de uma transformação diferente e não apenas naAlemanha”. In: O retorno de Potemkin: capitalismo de fachada e conflito distributivo na Alemanha. SãoPaulo: Ed. Paz e Terra, 1993.
PROBLEMES ECONOMIQUES Numéro 2677, inteiramente dedicado à “Economie Solidaire et Sociale”. LaDocumentation Française. Paris: agosto de 2000.
PSES/ Pólo de Sócio-economia Solidária – Projetos de síntese dos canteiros, apresentados à reunião de Findhorn.Junho de 2001.
QUINTELA Sandra e ARRUDA Marcos. “Economia a partir do coração”. In: A Economia Solidária no Brasil. Aautogestão como resposta ao desemprego. São Paulo: Ed. Contexto, 2000.
S. SANTOS, Boaventura – A crítica da razão indolente, vol. 1: contra o desperdício da experiência. São Paulo:Cortez Editora (3a edição), 2001.
TADASHI ODA Nilson. “Sindicato e cooperativismo: os metalúrgicos do ABC e a Unisol Cooperativas”. In AEconomia Solidária no Brasil [ibid]
THERET Bruno - Regimes Economiques de l’Ordre Politique. Presses Universitaires de France. Paris: 1992.
;���1������/���4/4@������=��������'���')4�1�
/��#����������������������$��%����(�������#���
��������P�������3���P�������������������������������
/�����������������$C�����2C��4����#���2���,����
bem-estar coletivo com a produçãode mercadorias, sejam elas úteis ouinúteis, isto é, desprovidas de valorde uso, tornando mais uma vezequivalentes, do ponto de vista dobem-estar, a comida e os armamen-tos, a educação e o turismo, apalafita e o palacete, e assim pordiante. [Ceci Juruá, “O vazio e aEconomia”]. Não é difícil negar oconsumismo, pois ele já é negado,como prática, à grande maioria dapopulação. Necessário é destruí-loideologicamente, contrapondo-lheoutros valores mais condizentescom o desenvolvimento pleno daspotencialidades humanas, na linhade Leonardo Boff, por exemplo.
Mas é igualmente necessárioformular uma estratégia construtivae de formação de núcleos consis-tentes, solidários, capaz de garantira reprodução dos meios materiaisnecessários à vida e à reproduçãoda sociedade. Mas aí estão, emtodos os países, em multiplicação
crescente, as cooperativas, as asso-ciações e um conjunto bastantediversificado de entidades públicasnão estatais e não lucrativas(como os sindicatos, por exem-plo). São os exemplos da econo-mia solidária que estão colocados,hoje, à disposição de todos, com afilosofia e princípios que jáexplicitamos no item 2, sobre vi-sões e novo paradigma.
Os campos de reflexão sobre aEconomia Solidária são bastantediversificados: trabalho, produ-ção, consumo, crédito e financia-mento, e tantos outros. A estraté-gia de sua expansão não pode sersetorial, mas deve abranger o con-junto de atividades sistêmicas,razão pela qual fica difícil abordá-
la sob a ótica exclusiva da políticafiscal. Da mesma forma, no queconcerne aos atores, individuais ecoletivos, cuja postura nova deve-rá refletir-se em todos os camposda atividade humana, ficando difí-cil segmentá-la.
Mais do que nunca, a humani-dade necessita, atualmente, defontes de esperança, de saberpara onde não ir se quiser chegar,no futuro, a algum lugar maisaprazível, que lhe garanta “umavida decente como nos propõeBoaventura Santos, este verdadei-ro apóstolo da transição paradig-mática. Enfim, ratificamos a cer-teza de que a Economia Solidáriaoferece uma utopia realista aoconjunto da humanidade.

jan/mar de 2003�������������� ������
#���� +��
A política oficial para a edu-cação superior dos últimos anoscaracterizou-se pela expressivaexpansão do número de alunos,por meio do aumento da quanti-dade de instituições particularesde ensino e das vagas por elasofertadas. Este crescimento resul-tou da produção e “marketing” deum discurso liberal, em economiae política, para a educação supe-rior, durante o período FHC.
O programa do Presidenteeleito mantém a proposta de ex-pansão do ensino superior pelainiciativa privada. A maior dife-rença é que pretende o congela-mento da relação atual de vagasentre instituições públicas e pri-vadas, aceitando, porém, emsuas características fundamen-tais, o modelo implantado nosúltimos anos. Não busca um de-créscimo relativo do ensino su-perior privado. Mantida estarelação, o sistema público deeducação superior fica no seu
� � ! � & �
&� /9������/C4��/��"�����+�/4/�;
����14/� ���6�/������� �>��1�����D����8 ���41�<8 ��4��/� /�� �7/����
tamanho atual, pois o sistema deensino privado está parando decrescer, como demonstra a quan-tidade de vagas ociosas, hoje nacasa de 20%.
Este artigo critica o discursode expansão do ensino superiorpela iniciativa privada,implementado a partir de 1994.Demonstra os problemas com ummodelo de política para a educa-ção superior, assumido pelo go-verno que sai e mantido, em li-nhas gerais, pelo governo queentra, de acordo com o programaque apresentou.
O quadro abaixo reflete ocrescimento do ensino superiorde 1994 a 2001:
As instituições federais absor-vem pouco mais da metade dosalunos matriculados nas institui-ções públicas, e seu crescimentono período foi, apenas, ligeira-mente maior do que a média dasinstituições públicas (que inclu-em, além das instituições fede-rais, as estaduais e municipais).
#�<�%�����.���� ��� �+��
������
A política recente de expansãodo ensino superior é conseqüên-cia das seguintes premissas:1. Haveria uma relação direta e
necessária entre expansãodo ensino superior e desen-
���� ��4��/� /2�5��/>14�������9/�4�<8
(������5)�$
TOTAL Instituições InstituiçõesPúblicas privadas
1994 1.661.034 690.450 970.584
2001 3.030.754 939.225 2.091.529
Crescimento 82% 36% 115%
Desejo agradecer à minha esposa,Sandra Beatriz Zarur, e à minha filha,
Márcia Zarur, pela revisão deste artigo.

jan/mar de 2003�������������� ������
�9����#������������!��
������#������������������
�6�������� ���������������������%
���������%�������� �� �����
�����������������%����������
volvimento econômico e so-cial. Como “toda oferta criasua própria demanda” (“Leide Say”), na tradição da eco-nomia liberal, haveria, comodecorrência do número degraduados na universidade, acriação concomitante de vagase posições no mercado detrabalho, com reflexos auto-máticos no sistema econômicoe na geração de renda. Esta foia posição defendida, em dife-rentes oportunidades porMoura Castro, Schwartzman eBatista de Oliveira (ver, porexemplo, o artigo desses trêsautores, de 1997, “EnsinoSuperior: quando a exceção éa regra”, ou Moura Castro,“Higher Education in LatinAmerican and The Caribbean:a strategy paper”).
2. O Brasil estaria em situaçãode atraso, não só em relaçãoaos países mais desenvolvi-dos, como também em rela-ção aos seus vizinhos daAmérica Latina, em vista dabaixa proporção de matricula-dos na faixa etária relevante,neste nível de ensino. Este argu-mento fundamenta a propostade expansão do ensino superior.
Consta tanto na primeira versãodo Plano Nacional de Educa-ção, apresentada pela oposição,como na versão aprovada peloCongresso Nacional, com obeneplácito do governo que sai.
3. Haveria uma forte demandareprimida, devido ao aumen-to do número de concluintesdo ensino médio que teriam odireito à educação superior. Aeducação superior é, nestediscurso, considerada umacontinuidade natural do ensi-no médio, não uma ruptura.
4. O acesso ao ensino superiorseria um direito de cidada-nia, e sua universalização,uma decorrência da democra-tização da sociedade. Uma“educação universitária demassas” seria uma característi-ca dos Estados modernos.Daí, também, a política dequotas étnicas ou para pobres.
##�<���.����C����.���� ���
� �+�����������-��
������
Não há qualquer relação ne-cessária entre expansão do núme-ro de vagas no ensino superior,de um lado, e desenvolvimento
econômico e social, de outro.Casos como o da Bolívia, paísdos mais pobres, citados no Pla-no Nacional de Educação (PNE),seriam utilizados de forma maisadequada para criticar do quepara justificar a necessidade deexpansão indiscriminada do ensi-no superior. O caso da Argentina,atualmente mergulhada em umacrise brutal, também citado nafundamentação do PNE, funcionada mesma forma, como um testenegativo da relação “crescimentodo ensino superior – desenvolvi-mento econômico”.
Por outro lado, há que selembrar o exemplo oposto, o doJapão, que, em 2000, para umapopulação total de cerca 127milhões de habitantes, tinhaaproximadamente 2,7 milhõesestudantes universitários, alémde 300 mil, nos chamados“Junior colleges” (dados do“JIN- Japan InformationNetwork”). Assim, o Japão, comtodo o seu desenvolvimento eco-nômico e uma população não tãomenor que a brasileira, tem umnúmero de estudantes universitá-rios próximo ao do Brasil.
Embora a educação básicarepresente, sempre e em qual-quer circunstância, fator essenci-al para o desenvolvimento eco-nômico, o ensino superior sócontribuirá neste sentido à medi-da que integre um projeto nacio-nal como o que faltou ao gover-no que se encerrou.
A falta desta visão mais amplaacabou tornando a educação su-perior e a educação, em geral,uma espécie de panacéia paratodos os problemas nacionais. Aprimazia absoluta que lhe foi

jan/mar de 2003�������������� ������
concedida tornou-se uma maneirade ocultar a importância de ou-tros aspectos, como, por exem-plo, a taxa de juros, o nível deemprego, a reforma agrária etc.
A educação superior tem umarelação evidente com a rendapessoal. Moura Castro,Schwartzman e Oliveira (op.cit.) a utilizam para justificar aexpansão do número de vagas,pois, quanto maior o número dediplomados no ensino superior,maior sua renda. Entretanto, hámuitos outros fatores que vãoafetar o emprego e a remunera-ção dos diplomados no ensinosuperior. Segundo estudo doprofessor Márcio Pochmann, daUNICAMP, por exemplo, en-quanto nos Estados Unidos e naInglaterra há um crescimento devagas de alta qualidade no setorserviços, o crescimento dessasvagas no Brasil, também no se-tor serviços, ocorre em ativida-des como as de segurança, lim-peza, comércio, construção civile profissões como as de cozi-nheiro e garçom. Pochman des-cobriu que as áreas técnicas sãoaquelas que mais desemprega-ram, com queda de empregospara técnicos de eletricidade,eletrônica, telecomunicações,química e mecânica, inclusivepara o pessoal de nível superior.
Há um saldo positivo de 1989a 1996, segundo este mesmo es-tudo, de 6,9 milhões de postos detrabalho, mas concentrados nasocupações de pior qualificaçãodo setor serviços, como empregodoméstico, limpeza e vigilância.Por outro lado, o estudo demons-tra que há um excesso de pessoalqualificado para as vagas existen-
tes. De acordo com o professorCláudio Salm, da UniversidadeFederal do Rio de Janeiro(UFRJ), o que temos agora são“babás mais educadas”.
Embora as pessoas portado-ras de diploma de nível superiortendam a não ficar desemprega-das, como demonstram essaspesquisas, muitas vão ocuparposições abaixo da sua qualifi-cação formal. Engrossam osquadros de telefonistas, motoris-tas de táxi, soldados de polícia ebabás com curso superior, quecomeçam a se espalhar pelo Bra-sil. Por outro lado, expulsam domercado pessoas menos prepara-das formalmente, mas perfeita-mente aptas a desempenharem afunção exigida pelo emprego.
Há, desta forma, uma curvade rendimentos decrescentes naeducação superior, que acarretaum elevado custo social, e o cruelengano dos que se sacrificampara obter um diploma universi-tário, sem conseguir um empregocompatível com a sua formação.O crescimento do ensino superiorsó fará sentido – e só contribuirápara aumentar a renda média dapopulação –no bojo de um proje-to nacional voltado para a redis-
tribuição de renda e para o desen-volvimento econômico, ampara-do em políticas industriais, agrí-colas, de ciência e tecnologia, deenergia, de transporte e outras.
Existe, sim, uma demandareprimida, no que diz respeito àsexpectativas de acesso à univer-sidade, decorrente do número deconcluintes do segundo grau.Esta demanda reprimida, entre-tanto, resulta em grande partedas falsas expectativas criadaspelo próprio governo, pela im-prensa e pelo “pensamento úni-co” no imaginário popular. Aimagem, divulgada pelos meiosde comunicação e pelo governo,da educação superior como solu-ção mágica para todos os proble-mas, cria, naturalmente, o desejode concluir um curso superior.Não é oferecida, como na Ale-manha, uma opção efetiva deconclusão do ensino médio emescolas técnicas, seguida de umaefetiva e bem remunerada colo-cação no mercado de trabalho.Por isto, caminha-se para umasituação em que a candidatura aqualquer emprego deverá exigirdiploma universitário.
A premissa da universalizaçãoda educação superior (aqui inclu-
� �(�����������������������������
����� ����������������������$���
�����������%��������������
��������%������ �������������!"��
(�������������$��!���$������

jan/mar de 2003�������������� ������
ída a política de quotas étnicas oupara carentes) resulta da incom-preensão do papel da universida-de, na medida em que esta é en-tendida como uma espécie degrupo escolar gigante ou de esco-la técnica avançada. A educaçãobásica é, evidentemente, um di-reito central da cidadania e a basepara o seu exercício, mas o mes-mo não acontece com o ensinosuperior. A função da universida-de não se esgota na formação deprofissionais e não tem nada aver, diretamente, com a distribui-ção de renda. A universidadeexiste para criar cultura, ciência etecnologia, para atuar como cons-ciência crítica da sociedade epara produzir as elites políticas,científicas e profissionais da Na-ção. Por isto, as propostas deeducação universitária de massassão, na melhor das hipóteses,ingênuas, embora sempre dotadasde um forte apelo populista.
Em muitos países, como nosEstados Unidos, citados comomodelo de sistema educacionalsupostamente bem sucedido, oensino superior exerce, em largamedida, uma função compensa-tória, dada a séria crise de quali-
dade atravessada pela educaçãobásica naquele país, onde muitasdas escolas superiores funcio-nam como uma espécie de esco-la técnica avançada, ensinando“artes e ofícios”.
###�<�$3������ ��������
�������������� ��� �
���� � ��������
A expansão do ensino superi-or está sendo realizada pela em-presa privada, seguindo as pre-missas e as razões abaixo, deacordo com a política governa-mental dos últimos anos.1. Os recursos do Estado seri-
am priorizados para a edu-cação básica, dadas as carên-cias históricas neste nível. OEstado brasileiro não teriarecursos para investir naexpansão do ensino superi-or, o que, de resto, não seriarecomendável, por ser inefi-ciente. Portanto, esta seriauma tarefa a ser assumidapela iniciativa privada. Daí anecessidade de reorganizaçãoda educação superior no País.Em decorrência, houve umefetivo corte de recursos para
as instituições federais de en-sino superior.A tabela abaixo retrata o tra-tamento orçamentário e polí-tico por elas recebido de1994 a 2002.
2. O controle rigoroso pelo Es-tado, no que diz respeito àabertura de novas institui-ções de ensino superior,ensejaria casos de corrup-ção, como os que teriam ocor-rido no antigo Conselho Fede-ral de Educação.
3. Para que fosse possível aexpansão da rede privadade ensino superior na veloci-dade pretendida, a novaorganização do ensino supe-rior brasileira passou a fun-damentar-se nos seguintesaspectos:A) criação quase livre de
novas instituições e cursos paraatender a dinâmica do mercadoeconômico, sempre buscandoprofissionais com novos perfis, ea demanda pelo que nos EstadosUnidos é denominado “liberalarts”. Esses últimos seriam cursosde Humanidades, que serviriampara a formação ampla da perso-nalidade, para enriquecimentocultural da pessoa e, no caso nor-te-americano, como pré-requisitopara a continuidade dos estudosem certas carreiras;
B) liberdade para a criaçãode novos cursos e instituiçõespor três conjunto de ações.
Pela flexibilização do conceitode universidade, para que umgrande número de instituições deensino passasse a contar com asprerrogativas da autonomia uni-versitária, podendo assim criar,livremente, cursos e vagas. O tex-
��������� �!�� 4/ �1 5�E������F��GGH���� �
(������25/(5
ANO TOTAL NOMINAL TOTAL ATUALIZADO
1995 5.218 8.659
1996 5.219 7.719
1997 5.564 7.693
1998 5.731 7.651
1999 6.613 8.656
2000 6.785 7.412
2001 6.933 6.933
2002 6.988 6.988
�#�#��=P����������

jan/mar de 2003�������������� ������
to da Lei de Diretrizes e Bases daEducação Nacional (LDB), apro-vada no Congresso Nacional, re-sultante de um substitutivo deiniciativa do governo, explicitaem seu art. 52, os critérios paraque uma instituição possa ser con-siderada como “universidade”.
De acordo com este artigoda LDB:
“Art. 52. As universidades sãoinstituições pluridisciplinaresde formação dos quadrosprofissionais de nível superi-or, de pesquisa, de extensãoe de domínio e cultivo dosaber humano, que se carac-terizam por:
I- produção intelectualinstitucionalizada medianteo estudo sistemático dostemas e problemas mais re-levantes, tanto do ponto devista científico e cultural,quanto regional e nacional;
II - um terço do corpo docen-te, pelo menos, comtitulação acadêmica demestrado ou doutorado;
III - um terço do corpo docente emregime de tempo integral.”
Entretanto, os diferentes de-cretos regulamentadores desteartigo, respectivamente os de nº2.207, de 15 de abril de 1997, enº 3.860, de 9 de julho de 2001,simplesmente se omitiram no quediz respeito ao caput e ao inciso Ido referido artigo da LDB. As-sim, passou-se, apenas, a exigirum terço do corpo docente, pelomenos, com titulação acadêmicade mestrado ou doutorado e umterço do corpo docente em regi-me de tempo integral, exigênciasnão muito difíceis de serem cum-pridas, do ponto de vista burocrá-
tico. O Conselho Nacional deEducação passou a classificarcomo “universidades” institui-ções as mais diversas, que preen-chessem os critérios formais denúmero de mestres e doutores eprofessores em tempo integral.
O art. 53 da mesma LDB in-clui, dentre as prerrogativas daautonomia universitária, os direi-tos de criar cursos “obedecendoàs normas gerais da União e,quando for o caso, do respectivosistema de ensino”. Adiciona,também, o direito de criação denovas vagas.
Assim, as dezenas de universi-dades, recém-reconhecidas, pas-saram a poder criar cursos e va-gas, livremente, pois o MEC nãoimpôs qualquer exigência préviamais estrita para a abertura denovos cursos superiores.
Pela extensão do conceito deautonomia a instituições não clas-sificadas como “universidades”.
Reza o § 2º do art. 52 da LDB:“§ 2º. Atribuições de autono-
mia universitária poderão serestendidas a instituições quecomprovem alta qualificaçãopara o ensino ou para a pesqui-
sa, com base em avaliação reali-zada pelo Poder Público.”
Com base neste artigo foicriada por decreto (o que é juri-dicamente discutível) a figurados “centros universitários”(Decreto nº 2.306, de 19 deagosto de 1997), aos quais pas-saram a ser estendidas as atri-buições de autonomia.
Ainda, foi autorizada a gran-de número de instituições, ava-liadas favoravelmente peloMEC, a criação de novos cursose vagas, sem qualquer formali-dade maior.
Para justificar este movimen-to, argumentavam o MEC e oBanco Mundial, pela compara-ção com outros países, que, nomundo inteiro, a pesquisa cientí-fica e tecnológica estaria con-centrada em algumas poucasinstituições e que, portanto, de-veria haver espaço para outrotipo de instituição baseada ape-nas no ensino.
Pela substituição dos “cur-rículos mínimos” por “diretri-zes curriculares”.
A LDB, ao invés de usar aexpressão “currículos mínimos”
������;<���0='�������%��������
�������� ����������
��� ����#��%�������������������
���������(���������7�������������
��/������%�������$��������%���
������� �������������������

jan/mar de 2003������������� ������
utiliza a expressão “diretrizescurriculares”. Nos termos vagosda LDB, esta alteração nada sig-nifica. Porém, o MEC, por inter-médio do decreto regulamenta-dor da LDB, e o Conselho Naci-onal de Educação, por meio depareceres, abandonou a gradecurricular por curso, deixando aelaboração dos currículos a cri-tério das diferentes instituições.O argumento que fundamentavaesta transformação era o da ne-cessidade de adequação dos cur-rículos às necessidades do mer-cado e a da descentralização aca-dêmica. As instituições poderi-am mudar seus currículos deacordo com a procura por pro-fissionais com um determinadoperfil, ou ainda, por pessoas quebuscariam o ensino superior paraseu enriquecimento cultural, sempretender alguma melhoria deseu padrão de renda.4. Avaliação a posteriori em
substituição à fiscalizaçãoprévia. Passou-se a poucaou nenhuma fiscalização pré-via, no que diz respeito àabertura de novas institui-ções ou cursos no ensinosuperior, o que facilitou, so-bremaneira, o crescimento
do número de instituiçõesprivadas. A fiscalização apriori foi, em larga medida,substituída pela avaliação aposteriori do desempenho denovas instituições e cursos,por intermédio de mecanis-mos como o Exame Nacio-nal de Cursos, “o Provão”,dentre outros.A intenção declarada pelo
MEC, quando da implantação des-ta nova sistemática, era a de fecharos cursos que fossem avaliadosnegativamente de forma repetitiva,e que não tivessem qualquer espe-rança de recuperação.
#?�D���.���� ����.���� �
�3������ �� �+����������
�����������������
1. Sobre a suposta ineficiência dauniversidade pública brasileira
A universidade pública não éineficiente, como pretendem seuscríticos. A evidência oposta temmais consistência, se for conside-rado que realiza mais de 90% dapesquisa científica e tecnológicabrasileira; que das instituiçõesgovernamentais depende a manu-tenção de hospitais universitários,os quais, em muitas cidades, re-
presentam a única possibilidadede atendimento gratuito para apopulação carente; que delas de-pende a garantia de boas bibliote-cas, laboratórios, e de um corpodocente qualificado, além de for-mar profissionais, via de regra,melhor preparados. Por seu en-volvimento com a pesquisa é dauniversidade pública que se origi-na a produção cultural, a críticasocial e a busca de soluções paraos grandes problemas nacionais.
Um aspecto a ser considerado,quando se diz que a universidadepública é financeiramente inefi-ciente, é o absurdo pagamento deaposentados pelo orçamento dessasinstituições. Logo, à medida queaumenta o número de aposentados,diminui a quantidade de recursosefetivamente disponíveis para oensino, para a pesquisa e a exten-são. Este problema tem se tornadocrítico, nos últimos anos, devido aogrande número de aposentadorias.
No que concerne a uma com-paração de custos, ver o estudode autoria de Paulo de SenaMartins, “A Guerra Estatística”(1999), que demonstra que oscustos da universidade públicanão são exagerados.
Não obstante, o governoerigiu a idéia da ineficiência dauniversidade pública como umfundamento de sua política para oensino superior. Assumiu a teseliberal de que o Estado deveriaresumir-se ao velho “laissez-faire” e se retirar, até, da educa-ção superior.
A crítica à universidade pú-blica obedecia à mesma lógicada que se fazia à participação doEstado em telecomunicações,em siderurgia, em Informática,
�2�$�����4!������������$��%�������
�����%���(���������� ��!����
����������������������������� �
������!"�����������%��������������
����������������������� ����

jan/mar de 2003������������� ������
em geração de energia etc. Auniversidade era, assim, conside-rada apenas produtora de umserviço econômico, e não umainstituição central à própriaidentidade nacional.
Ao mesmo tempo, foram sen-do realizadas pesquisas que de-monstraram que o status econô-mico dos estudantes matricula-dos nas instituições públicas deensino superior não seria tãoelevado, ou seja, que a universi-dade de melhor qualidade,mantida pelo Poder Público, nãoera o espaço de uma minoriaeconômica privilegiada. Análisede dados do questionário sócio-econômico do “Provão”, realiza-da pelo próprio INEP, demonstraque, nas instituições federais deensino superior, a percentagemde formados com renda familiaracima de R$ 3.021,00 é de24,4%, enquanto nas particularesé de 31,5%. Nas instituiçõesmunicipais e estaduais as per-centagens são ainda menores, de18,7 e 19,9%, respectivamente.
Assim, não procede a hipóte-se da ineficiência do Estado, noque diz respeito à educação, sobqualquer ponto de vista, econô-mico, social, pedagógico, políti-co ou cultural.
2. Sobre a suposta escassez derecursos para o ensino superiorpúblico, em vista da prioridadepara o ensino básico.
A formulação de políticaspúblicas no Brasil perdia sentido,no passado, devido à inflação.Agora perde sentido em vista dacarga de juros e do uso do supe-rávit primário para o pagamentode juros da dívida pública. A si-
tuação é, ainda, mais complexase for considerado que os jurostêm sido mantidos, no entendi-mento de alguns analistas, empatamar artificialmente alto.
Toda e qualquer política so-cial, inclusive na área de educa-ção, fica, assim, comprometidapor uma deformação de base, aprioridade ao pagamento da dívi-da pública, em detrimento doapoio a programas sociais e dedesenvolvimento econômico.
Assim, é falsa a dicotomia“prioridade para o ensino básicoversus prioridade para a educaçãosuperior”, pois há recursos parase apoiar ambos os níveis de en-sino. A real dicotomia é, de umlado, entre o pagamento e o cres-cimento artificial da dívida públi-ca e, do outro, políticas sociais ede desenvolvimento.
Portanto, a desproporção ficaevidente considerando-se os R$86,4 bilhões (7,3% do PIB) pa-gos em 2001 em juros da dívidapública, e algo próximo a setebilhões de reais alocados para asuniversidades federais, no mes-mo período.
Quanto à suposta primaziapara o ensino básico, há que seobservar que a Constituição Fe-deral, nos termos de seu art. 211,
atribui esta prioridade aos Muni-cípios e aos Estados. Assim, nãohá por que o Banco Mundial e/ouo MEC estabelecerem priorida-des, que já estão previstas emnossa Lei Maior.
Portanto, os recursos alocadospara bolsa escola, FUNDEF eoutras atividades de apoio aoensino básico não podem ser con-siderados como concorrentes dosrecursos alocados para as univer-sidades federais.
3. Sobre a flexibilização dosprocedimentos para aberturade novos cursos e instituiçõespara que fosse possível a expan-são do ensino superior privado.
O argumento de que a avalia-ção prévia dos pedidos de abertu-ra de novos cursos e instituiçõespelo MEC ensejaria a prática dacorrupção integra o discursomaniqueísta que classifica o Esta-do como “o mal” e o mercadolivre como “o bem”. Após seteanos de vigência da nova siste-mática, consubstanciada pelatransformação do antigo Conse-lho Federal de Educação emConselho Nacional de Educação,o que se vê é um aumento signifi-cativo nos casos de corrupção enos escândalos. Isto é especial-
�>�������������������������%
������� ����#����������!��%�$��
��������������������$���!�����
(��%����������������������
�� ����6(�����

jan/mar de 2003�������������� ������
mente verdadeiro, uma vez que onovo Conselho é composto, emlarga medida, por representantesdas próprias instituições que pre-tenderia fiscalizar ou controlar.
As mudanças na legislação, anão aplicação da lei, em algunscasos, e as alterações nos proce-dimentos para a abertura de no-vos cursos e instituições de ensi-no superior significaram, na prá-tica, uma marcante mudança decritério no que diz respeito àsprerrogativas dos mais variadosestabelecimentos de ensino. As-sumiu-se que instituições que nãoassociam ensino, pesquisa e ex-tensão teriam direito à autonomiauniversitária, o que, para alguns,tornaria supérfluo o art. 207 daConstituição, que atribui a auto-nomia, apenas, às universidades.Neste caso, seria inconstitucionala extensão da autonomia, na for-ma prevista na LDB, levada aextremos pelo MEC.
É absurdo o argumento de queuma parcela expressiva dos candi-datos às vagas no ensino superiorprocura cursos gerais de humani-dades que contribuam para suailustração e cultura geral, como nocaso dos cursos norte-americanosde “liberal arts”. Não há dúvida de
que a maior parte dos brasileiroscandidatos ao ensino superior,público ou privado, está lutandopara conseguir uma profissão e,portanto, uma melhor posição nomercado de trabalho. Este fatodemonstra a essencial mistifica-ção do argumento, uma vez que émínima, no Brasil, a quantidadede senhoras idosas, com tempolivre, ou donas de casa que pro-curam ilustrar-se! No último cen-so do ensino superior, recém di-vulgado, detectou-se um aumentono número de vestibulandos demais de 50 anos, mas o seu nú-mero ainda é irrisório (menos de70 vezes o de vestibulandos nasfaixas mais jovens), em que pesea bombástica divulgação do as-sunto. Mesmo nos Estados Uni-dos, os cursos de “liberal arts”funcionam, freqüentemente,como pré-requisito para uma for-mação profissional (caso doscursos de Direito, por exemplo).
A não-necessidade da pesqui-sa para se caracterizar uma insti-tuição ou um curso superior partede um conceito estrito de “pes-quisa científica”. Não resta dúvi-da de que apenas poucas institui-ções, em todo o mundo, contri-buem sistematicamente para o
avanço do conhecimento científi-co. Porém, tradicionalmente, aassociação pesquisa-ensino repre-senta um princípio pedagógico,isto é, o posicionamento da in-vestigação, por mais despretensi-osa que seja, como posição deprincípio assumida por professo-res e alunos. Neste sentido, a“pesquisa” identifica-se com odespertar de uma atitude de per-manente curiosidade e questiona-mento, e opõe-se ao conhecimen-to livresco, à verdade não contes-tada, imposta pela cátedra.
A tentativa de excluir a “pes-quisa” da idéia de universidaderepresenta, apenas, mais uma ten-tativa de se eliminar o controle dequalidade no ensino superior, paraque se facilite a livre abertura denovas instituições. A idéia de pes-quisa, como princípio pedagógico,contraria, por exemplo, o sistemade franquias, que se estende, hoje,pelo ensino privado brasileiro,multiplicando “pacotes” educacio-nais pré-fabricados.
Outra inovação importante foio conceito de “diretrizes curricula-res”, em substituição aos antigos“currículos mínimos”. Estes com-preendiam um núcleo de matériascomuns, ficando uma margem deliberdade para que as instituiçõescolocassem matérias opcionais.
As diretrizes curriculares sãoorientações extremamente geraissobre as diversas áreas do conhe-cimento, pouco ou nada exigindoem termos de um conteúdo curri-cular comum para o mesmo cursosuperior. Assim, um curso deEconomia ministrado em umainstituição pode ser completa-mente diferente de um curso deEconomia de outra instituição.
�9����#��6 �����������������������
(�����������������������������������%
�6(����������� ��%���#���������
����������������$�������%������%���
�����������!�����������������(�����

jan/mar de 2003�������������� ������
Uma conseqüência da novasistemática é que as instituiçõesde ensino superior podem orga-nizar os conteúdos curricularesdos cursos que oferecem deacordo com os professores dis-poníveis no momento, em umadada localidade, o que facilita,sobremaneira, a abertura de no-vos cursos. Outra, é que os estu-dantes passam a ter dificultada atransferência entre instituições:não é raro que um estudante deúltimo ano, ao se transferir paraoutra instituição, tenha que reco-meçar seu curso, devido à dife-rença de currículos.
Uma implicação séria da faltade currículos mínimos origina-seda relação que historiadores(como José Murilo de Carvalho,por exemplo) têm estabelecidoentre a unidade da educação su-perior, no Brasil, e a própria uni-dade política do País. De fato, opartilhamento de valores própriosoriginários de um sistema acadê-mico comum teria ensejado aunidade de valores da elite políti-ca e a unidade nacional brasileira.
4. Sobre a avaliação aposteriori do ensino superior
A substituição da avaliação eda fiscalização prévias pela ava-liação a posteriori traz problemasdos mais graves. O primeiro é adificuldade de se fechar um cursosuperior em funcionamento, mes-mo que este tenha um nívelbaixíssimo. Esta era uma conse-qüência facilmente previsível, emvista dos interesses envolvidos. Oautor deste estudo, por exemplo,em artigo publicado em 1999,sobre Autonomia Universitária,previu este resultado.
Hoje, quando timidamente oMEC procura tomar medidas decorreção de rumo de algum cursosuperior ou, quando após umlongo processo de tergiversação,vê-se obrigado a fechá-lo, sim-plesmente não o consegue.Liminares e outras medidas judi-ciais o impedem.
Esta dificuldade inviabilizatodo o modelo proposto, caracte-rizado pela avaliação como con-trapartida à ampla liberdade dasinstituições, pois o Estado não écapaz, sequer, de proteger os di-reitos do consumidor – pois as-sim é considerado o aluno – deserviços que o próprio Estadoclassifica como de má qualidade.
A quase livre abertura de no-vos cursos superiores, com o su-posto controle pela avaliação aposteriori, possibilitou a operaçãode cursos não reconhecidos, ouseja, cujos diplomas não têm valorpara o exercício profissional. Sóem junho de 2002, o MEC tornoudisponível uma lista dos cursosreconhecidos, de forma que, antesdisto, desenvolveu-se um lamentá-vel processo de propaganda enga-nosa, lesando estudantes, que não
tinham conhecimento de que oscursos em que se matricularamnão possuíam a chancela do reco-nhecimento oficial.
A avaliação a posteriori doensino superior tem, também, pro-blemas decorrentes da própriametodologia que emprega. O prin-cipal instrumento utilizado é Exa-me Nacional de Cursos, “Provão”.
Em dezembro de 2001, oMEC alterou os critérios doProvão, principalmente no quediz respeito à atribuição de notasaos diversos cursos.
O critério anterior seguia umacurva na qual, em todas as áreasdo conhecimento, a distribuiçãoera, sempre, a seguinte: 12% doscursos recebiam nível A; 18% doscursos recebiam nível B; 40% doscursos recebiam nível C; 18% doscursos recebiam nível D; e os res-tantes 12%, nível E.
O novo sistema, hoje aplica-do, não parte de uma curva dedistribuição preestabelecida, masatribui notas em função de suaproximidade maior ou menor àsmédias obtidas em cada curso.Esta distância é medida pelodesvio-padrão de cada curso
�2���(����!����� ��!������
$�����4!������ ������� ��!����
�����������4����(��������������� ���
����������������$��������������$�������
������������������$����������%������
����������������� ���(����������

jan/mar de 2003�������������� ������
frente à média.O primeiro sistema era intei-
ramente absurdo, uma vez quenão havia, de fato, uma compa-ração de cursos, mas sua distri-buição por uma curvaaprioristicamente estabelecida.
Desta forma, ficava inteira-mente comprometida a questãodas diferentes situações das di-versas áreas do conhecimento.Por exemplo, em uma área ondea maior parte dos cursos estives-se, de fato, próxima à média,mesmo aí, 12% seriam ungidoscom o nível A e 12% seriam es-tigmatizados com o nível D. Já onível C compreenderia, sempre,40% dos cursos.
Em outra situação, onde hou-vesse um pequeno número de cur-sos excelentes e uma enormequantidade de cursos de péssimaqualidade, esta variação tambémnão seria aferida, persistindo amesma distribuição anterior.
Não havia qualquer metodo-logia fundamentando o modelode distribuição, ou seja, não ha-via qualquer justificativa racio-nal para que 12% dos cursosfossem nível A, 18% nível B, eassim por diante.
A nova fórmula de distribui-ção continua absurda, pois o con-junto de cursos de uma determi-nada área continua a ser conside-
rado como um universo “fecha-do”. A comparação é entre oscursos de uma dada área do co-nhecimento, no conjunto das ins-tituições brasileiras, e não dessescursos frente a um padrão ideal,que identifique o que se esperado ensino superior naquela deter-minada área. A nota atribuída aoscursos brasileiros continua semespelhar se estes preparam bemou mal aqueles que o concluem,visto que, pelo novo critério, setodos os cursos de uma determi-nada área forem péssimos porpadrões internacionais, nem poristo a maior parte deixará de seaproximar da média e muitosreceberão nível A.
O correto seria estabelecer, apartir de uma ampla consulta aespecialistas de cada área, umasérie de conteúdos, conhecimen-tos e aptidões que os diversosprofissionais deveriam possuir, eatribuir-se a menção ao curso emfunção do desempenho dos alu-nos no exame elaborado a partirdesses conhecimentos, conteúdose aptidões. Assim, todos os cur-sos de uma determinada área po-deriam ser, teoricamente, de nívelA ou ter nível D.
Esta seria a forma direta, semsubterfúgios, para se estabelecerum ordenamento das instituiçõesatravés do Provão.
O Provão, portanto, é formu-lado de maneira a esconder umaampla faixa de cursos de má qua-lidade, ao invés de evidenciá-los– sua função declarada.
?�<�������9��
1. Política para a educação su-perior e projeto de Nação
A primeira conseqüência dapolítica do governo FernandoHenrique para a educação superi-or foi uma expressiva mudançade conceito de universidade. Auniversidade, cuja missão era ade produzir um projeto de Nação,compreendendo uma consciênciamoral, um ambiente cultural, odesenho deste mesmo projeto deNação e preparar indivíduos paralevá-lo à frente, foi reduzida destatus, passando a enfatizar a pro-dução de um serviço, o ensino,cujo objetivo principal seria o deformar profissionais para o mer-cado de trabalho.
É verdade que, em diferentespaíses, existem algumas institui-ções voltadas para o primeiroobjetivo acima, e outras voltadaspara o segundo. Não há, porém, anecessidade de se destruir as pri-meiras para se implementar asúltimas. Além disto, nem todosos empregos deveriam exigir cur-so superior: há países dotados deum eficiente sistema público deeducação média, sem os custosque a universidade acarreta. Aexpansão foi, portanto, excessiva.
É plausível a suposição de que,ao desistir de uma boa universida-de pública de alta qualidade, oPaís estaria desistindo de qualqueraspiração ou intenção de se tornaruma Nação autônoma e desenvol-
������ �����$�����������������
����������������$������������
����#��������%����� �����
� ������#&����:����$��!�����������

jan/mar de 2003�������������� ������
vida. Logo, a desistência e, emalguns casos, o desprestígio dauniversidade pública, no Brasilrecente, decorre do abandono deum projeto de Nação.
A formação de elites, a produ-ção de conhecimento e o desenhode projetos políticos e econômi-cos não caberia a países como oBrasil. A formação das elites lo-cais ocorreria pela participaçãode brasileiros, quase semprecomo estudantes, em universida-des do exterior, aprendendo opapel que cabe a uma despreten-siosa elite periférica. Durante aColônia, as elites brasileiras ex-perimentaram este tipo de forma-ção na Universidade de Coimbra.
2. A educação e o diplomacomo mercadorias
Em países avançados, mesmoa educação profissional, na uni-versidade ou fora dela, reveste-sede um sentido de ”missão”, nãode comércio. As instituições deensino superior têm, em geral,uma autonomia gerencial que aslevam a cobrar mensalidades,investir em ações etc., mas o lu-cro não é seu objetivo declarado.Ao contrário, o objetivo da maiorparte dessas instituições é o avan-ço da educação, e os bons resul-tados financeiros representam ummeio para se atingir este objetivo.
Não existe, nos países desen-volvidos, um modelo como o pre-conizado pelo Banco Mundialpara o Brasil e outros Estados daÁfrica e da América Latina, quetransfere a educação superior àiniciativa privada com fins lucrati-vos. Desconhecem a estranha fi-gura brasileira da “mantenedora”,empresa cujo objetivo é o lucro
através de investimentos no ensinosuperior. As “mantenedoras”, empaíses desenvolvidos, são, geral-mente, “mantenedoras” mesmo,isto é, mantêm, por meio de rendi-mentos obtidos em fontes diver-sas, instituições de ensino e pes-quisa. O contrário, fazer a institui-ção manter a “mantenedora” é, nomínimo, uma inversão do sentidoconvencional do termo.
No Brasil, até a implantaçãodo atual modelo de educaçãosuperior, o ensino privado tinhaessa característica de missão. Osaspectos financeiros eram meios,e não fins da educação superior.É o que ainda ocorre em algumasuniversidades mantidas por igre-jas, em alguns estabelecimentoscomunitários e em estabeleci-mentos privados tradicionais.
A educação superior, consi-derada como mercadoria, pro-duz serviços educacionais aserem vendidos no mercadoeconômico, por meio da for-mação profissional. Este seriao objetivo das instituições deensino superior em países
como o Brasil, segundo o mo-delo do Banco Mundial.
Como conseqüência destemodelo empresarial, foramcriadas grandes oportunidadesde negócios, de “bigbusiness”, sendo o ensino su-perior uma das áreas de maiorexpansão do setor serviços naeconomia brasileira, duranteos últimos anos.
Concomitantemente, surgiuuma nova classe sócio-econômi-ca, a de proprietários de institui-ções de ensino superior. Hoje,em muitas das cidades mais aflu-entes do País, e até em escalaestadual e federal, os grandesempresários do ensino superiorsão lembrados como das “pesso-as mais ricas”, à semelhança dosgrandes comerciantes, fazendei-ros ou industriais.
3. O aviltamento da qualidade doensino e da formação profissional
Fosse apenas a educação amercadoria a ser vendida no mer-cado econômico, a situação nãoseria tão grave. Porém, mais do
� �������� �!���%�������
����!������$�������%������ �������
���$������%��� ���&���������������
�����������%������������������9��'����%
��������!������������������
����!�����������%������������� ��
�����������������������������

jan/mar de 2003�������������� ������
que um serviço educacional, mui-tas instituições privadas de ensinosuperior fazem da venda de di-plomas seu objetivo principal.
Isto se torna possível devido àfalta de mecanismos efetivos decontrole da expansão do ensino, àfalta de fiscalização prévia noprocesso de abertura de novoscursos e instituições, aos proble-mas com a avaliação a posteriorie à incapacidade do MEC de to-mar medidas punitivas em rela-ção às instituições de qualidademuito fraca.
A maior parte das profis-sões de nível superior é regula-mentada no Brasil. Cada pro-fissão exige um diploma espe-cífico e conta com um territó-rio delimitado no mercado detrabalho, garantido por lei. As-sim, em muitas circunstâncias,o que vale não é o preparo,mas o diploma.
Com o tempo, as empresaspassam a conhecer as melhores eas piores instituições educacio-nais e a contratar diplomados
pelas primeiras. O grande empre-gador, o Estado, emprega a maiorparte de seu pessoal por intermé-dio de concurso público. Há umaseleção por mérito, e a fraquezade muitas instituições leva a situ-ações como a dos concursos paraJuiz de Direito, que não têm con-seguido preencher as vagas dis-poníveis, devido ao despreparodos candidatos.
Lesado é o estudante das insti-tuições de baixa qualidade, que,às custas de severos sacrifíciospessoais, freqüentemente estu-dando à noite e pagando umapesada mensalidade, depois deformado percebe que o diplomanão vai render-lhe grandes vanta-gens na melhoria de sua vida.
Lesado é o público, em geral,que se vê atendido por profissio-nais liberais despreparados. Pro-fissionais liberais estabelecem-sepor conta própria e não depen-dem de um emprego para atuar. Édramático o exemplo do pessoalmédico. A quase livre abertura decursos médicos, como se observa
atualmente, sem qualquer contro-le maior de qualidade, representaum crime contra a vida e a saúdeda população.
Devido ao excesso de diplo-mados, o mercado de trabalhopassa a exigir educação superiorpara qualquer função. Para muitasdessas, como as de babá, telefo-nista ou soldado de polícia, estenível de qualificação seria, obvia-mente, desnecessário. O emprega-dor, porém, vai preferir candidatoscom diploma universitário, supos-tamente mais qualificados e rece-bendo o mesmo salário.
Além disto, nos concursospúblicos, há a tendência de queos candidatos com diploma uni-versitário tenham melhores pro-babilidades de aprovação, mes-mo que pouco tenham aprendidono correr do curso superior. Daíos casos de diplomados em cursosuperior fazendo concurso paragari ou ascensorista.
Desta forma, um diploma deformação superior está deixandode representar um atestado deformação para o exercício deuma atividade profissional e tor-nando-se uma espécie de habili-tação genérica para ingresso nomercado de trabalho; algo comoum imposto pago a determinadasempresas educacionais, duranteum certo número de anos, paraque seja conquistado o direito detrabalhar. O credenciamentopelo diploma para todo e qual-quer emprego e não mais, so-mente, para o exercício de umaprofissão específica, representauma nova e extrema forma decartorialismo. Consiste, na práti-ca, na concessão a empresaseducacionais do privilégio de
�0�������������������������!"��
���(����������%����%����������
$�����%������(������������������
��������&����������� �������
�������������� ����0��������
�6(����%�������� )�����������
���$�����������(������������������

jan/mar de 2003�������������� ������
cobrar taxas obrigatórias paraque as pessoas possam trabalhar.Os “excluídos”, mais do que osapenas pobres, são, crescente-mente, os desempregados crôni-cos, a maioria sem uma qualifi-cação formal mais avançada.
Usando os argumentos doliberalismo, a política para o en-sino superior tem tido o efeitooposto, de colocar mais um “ges-so” na economia, a um custo so-cial elevadíssimo.
4. O ataque à universidade públicaO estímulo à iniciativa priva-
da no ensino superior deu-se, emampla medida, às custas da uni-versidade pública, que só não foiefetivamente destruída devido aoseu peso político, sobretudo nosestados mais pobres da Federa-ção. De fato, na maioria dos esta-dos do Norte e do Nordeste, opapel de ensino superior privadoé relativamente pequeno e a in-fluência política da universidadepública é muito forte. No Nor-deste, ao contrário do restante doPaís, o número de estudantes noensino superior público é o dobrodos matriculados no ensino supe-rior privado.
O governo Fernando Henriquefez várias tentativas, a partir de1995, para aprovar emenda cons-titucional definindo e explicitandoa autonomia universitária. A pro-posta original poderia levar aoabandono das universidades fede-rais pela União e sua transforma-ção em organizações sociais, comas quais o compromisso orçamen-tário fica dependente de um con-trato de gestão, a critério do pró-prio governo federal. Poderia,ainda, levar à privatização.
A resistência da sociedade sefez sentir no Congresso Nacio-nal, onde a Comissão encarrega-da da Proposta de Emenda àConstituição (PEC) relativa àmatéria chegou a uma propostaque preservava durante dez anosum patamar mínimo de 75% dosrecursos federais vinculados àeducação para a universidadepública federal, nos termos doart. 212 da Constituição. Posteri-ormente, texto com igual objeti-vo foi incluído no Plano Nacio-nal de Educação. A PEC garan-tia, além disto, autonomiagerencial às instituições, paraque pudessem gerir de formamais eficiente os recursos a elasalocados e o seu patrimônio.
Essa Proposta de Emenda àConstituição, apresentada peloPoder Executivo, foi abandonadapor iniciativa do próprio Executi-vo, uma vez que, nos termos emque foi aprovada no Congresso,preservava a universidade fede-ral. Foi, também, vetado peloPresidente da República o itemdo Plano Nacional de Educaçãoque assegurava recursos constan-tes para as universidades federais.
Há que se considerar, ainda, aresistência da comunidade aca-
dêmica, principalmente dos pro-fessores, durante o período. Gre-ves, por razões salariais, cujasconquistas se refletiram no pró-prio orçamento das universida-des. Não resta dúvida de que osrecursos financeiros alocados àsuniversidades públicas estariamabaixo dos atuais, não fosse ocrescimento dos recursos parapessoal, devido às conquistasobtidas pelas paralisações.
Não obstante, as greves fo-ram altamente prejudiciais à pró-pria universidade pública, devi-do à queda na qualidade do ensi-no, ao desprestígio e ao desestí-mulo das instituições, de seusestudantes e professores.
5. Restaurando a dignidade dauniversidade brasileira: pro-postas para o ensino superior
Para se corrigir o rumo daeducação superior no Brasil, im-põem-se as seguintes medidas, noque diz respeito ao ensino supe-rior público:- recuperação do papel da univer-
sidade pública, como institui-ção essencial à identidade e àprópria sobrevivência do País;
- atribuição de verbas, segundoum patamar histórico, para as
�����������7������� ���� ����
�������������������&���7��������
��� ���������6(���%������������$��
�$�� ��������������� �����
������������������

jan/mar de 2003�������������� ������
;���������
Corbucci, Paulo Roberto. Avanços, Limites e Desafios das Políticas do MEC para a Educação Superior na Décadade 1990: Ensino de Graduação. Brasília: IPEA - Texto para discussão Nº 869, março de 2002.
Ministério da Educação. Fatos sobre a Educação No Brasil: 1994-2001. Brasília: MEC, S/D.
Sena Martins, Paulo. A Guerra Estatística. Cadernos da Aslegis, nº 4, Janeiro-Abril, Associação dos ConsultoresLegislativos e de Orçamento da Câmara dos Deputados, 1999.
Zarur, George de Cerqueira Leite. Autonomia Universitária. Humanidades, nº 43, Universidade de Brasília, 1999.“Ciência, Mito e Sofrimento: O pensamento econômico e seus efeitos no Brasil”. Revista de Conjuntura, AnoII, Nº 8, out/dez. Conselho Regional de Economia do Distrito Federal e Sindicato dos Economistas doDistrito Federal, 2001.
;�&� /9������/C4��/��"�����+�/4/����#������/�����C��3��������������7�3���������
$=�*������.��������?��6�(������
�;4���8�������������������@������.��������?�
universidades públicas, paracontratação de docentes einfra-estrutura;
- desvinculação dos inativosdo orçamento das universi-dades públicas;
- expansão do ensino superi-or principalmente pelo en-sino público;
- reavaliação do plano da car-reira docente das universida-des públicas.No que diz respeito ao ensino
superior privado, impõem-se asmedidas abaixo:- fim do Conselho Nacional
de Educação;- discussão do conceito jurídi-
co de autonomia universitá-
ria, de forma a restringir suaaplicação quase livre, comoocorre atualmente;
- substituição da avaliação aposteriori pela avaliação apriori e fiscalização intensadas instituições particulares deensino superior;
- compromisso absoluto com aqualidade, como critério essen-cial para autorização de funci-onamento de cursos e de insti-tuições de ensino superior;
- realização de um exameobrigatório para acesso àeducação superior, comum atodas as instituições, públi-cas ou privadas, formuladoe aplicado pelo Ministério
da Educação;- fechamento de todas as insti-
tuições que não tenham condi-ções de funcionamento comum padrão de qualidade ele-vado, aferido por um critériode comparação internacional erequisitos do mercado de tra-balho brasileiro;
- criação de algo semelhante aum “exame de ordem”, comoo da OAB e do CFC, a serministrado pelos conselhosprofissionais das diversas car-reiras ou pelo MEC, comocondição para a prática profis-sional, além do diploma.

jan/mar de 2003�������������� ������

jan/mar de 2003������������� ������