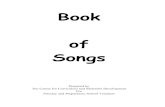629 Revista Culturas Jurídicas, Vol. 7, Núm. 18, set./dez ...
Volume 1 - Número 3 • SeT/DeZ...
Transcript of Volume 1 - Número 3 • SeT/DeZ...
Volume 1 - Número 3 • set-dez 2010
relATo De PeSQuISA/reSeArCH rePorTS
Como comunicar más notícias Communicating bad newsNelson Henrique da Silva, Fabiana Augusto Neman ................................................................................................................................................... 111
Avaliação do conhecimento do protoco blS por alunos concluintes de graduação em enfermagem Evaluation of the knowledge of the students of graduation in nursing on the protocol blsKarina Venâncio, Érika Pensado bezerra, Viviane de lima rocha, marcos Antonio da eira Frias ................................................................. 121
efeitos da dupla tarefa na marcha de pacientes hemiparéticos.Dual Task Effect in Hemiparetic GaitCamila Torriani-Pasin, Kátia lin, michelly Arjona, Priscila Y Silva, roberta Zancani de lima, eliane Pires de oliveira mota .................. 128
ComuNICAÇÃo CurTA/SHorT CommuNICATIoN
liderança: uma relação entre predisposição biológica, inteligência emocionale diferenciação sexual.leadership: A relationship among biological prEdisposition, emotional intelligence and sexual differentiation.Camila Paschoal bezerra, Wilson emanuel Fernandes dos Santos ........................................................................................................................ 136
mINI reVISÃo/mINI reVIeW
mucosite no paciente em tratamento de câncerMucositis related-cancer treatmentAna Paula Pinho, José Carlos misorelli, roberto montelli, Sergio emerici longato .......................................................................................... 145
Fisiopatologia do transtorno afetivo bipolarPathophysiology of bipolar DisorderAna Paula Pinho, Joao Paulo Simoes Domeni, Vitor marcelo Cortat Coca, Sergio emerici longato ............................................................. 161
PoNTo De VISTA/PoINT oF VIeW
A utilização da filosofia do Tratamento restaurador Atraumático (ArT) na parceria ensino-serviço. Parceria uNICID - município de Itapira-SP: relato de experiência exitosaThe use of Atraumatic Restorative Treatment (ART) philosophy in partnership between UNICID and Itapira City - sP: Report of a successful experienceGerson lopes, Vladen Vieira ............................................................................................................................................................................................ 170
leadership and governance for curriculum changeliderança e governabilidade em mudanças curricularesJosé lúcio martins machado, maria Cristina Iwana de mattos, Joaquim edson Vieira ....................................................................................... 179
Science in Health
A revista de saúde da Universidade Cidade de São Paulo.
Chanceler
PAULO EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA NADDEO
Reitor
RUBENS LOPES DA CRUZ
Vice-Reitor
SÉRGIO AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA NADDEO
editor ChefeCláudio Antônio Barbosa de Toledo
Vice editorJoaquim Edson Vieira
editoria Acadêmica Ester Regina Vitale Denise Aparecida Campos
Assistente editorial Mary Arlete Payão Pela
Normalização e revisãoClaudia MartinsEdevanete de Jesus de Oliveira
Chefe de edição e editoramento Juarez Tadeu de Paula Xavier Ricardo Di SantoMaria Bernadete Toneto
editoraçãoVinicius Antonio Zanetti Garcia
revisão do idioma portuguêsAntônio de Siqueira e Silva
Assessoria de marketing Lúcia Ribeiro Periodicidade: Quadrimestral
Corpo editorial por Secção
1 - biomedicina
Editor Sênior: Márcio Georges Jarrouge ([email protected])
Editores Associados: Ana Cestari, Marcia Kiyomi Koike
2 – Ciências biológicas e meio Ambiente
Editor Sênior: Débora Regina Machado Silva ([email protected])
Editores Associados: Maurício Anaya, Ana Lúcia Beirão Cabral,
3 – educação Física
Editor Sênior: Roberto Gimenez ([email protected])
Editores Associados: Marcelo Luis Marquezi, Maurício Teodoro de Souza
4 – enfermagem
Editor Sênior: Wana Yeda Paranhos ([email protected]) Editores Associados: Patricia Fera; Fabiana Augusto Neman, Adriano Aparecido Bezerra Chaves
5 – Fisioterapia
Editor Sênior: Francine Barretto Gondo ([email protected]; [email protected])
Editores Associados: Fábio Navarro Cyrillo, Sergio de Souza Pinto, Renata Alqualo Costa
6 – Formação e capacitação na área da saúde
Editor Sênior: Ecleide Cunico Furlanetto ([email protected])
Editores Associados: Julio Gomes de Almeida, Joaquim Edson Vieira, Stewart Mennin
7 - Gestão em saúde
Editor Sênior: Wagner Pagliato ([email protected])
Editores Associados: Marcelo Treff, Luiz Cláudio Gon-çalves
8 – Inclusão social
Editor Sênior: Edileine Vieira Machado da Silva ([email protected])
Editores Associados: Fernanda Mendonça Pitta, Juarez Tadeu de Paula Xavier
9- Informática na saúde
Editor Sênior: Waldir Grec ([email protected])
Editores Associados: Sergio Daré, Aníbal Afonso Ma-thias Júnior,
10 – medicina
Editor Sênior: José Lúcio Martins Machado ([email protected])
Editores Associados: Jaques Waisberg, Sonia Regina P. Souza, Edna Frasson de Souza Montero, Marcelo Au-gusto Fontenelle Ribeiro Júnior, Sylvia Michelina Fernan-des Brenna
11 – odontologia
Editor Sênior: Cláudio Fróes de Freitas ([email protected])
Editores Associados: Eliza Maria Agueda Russo, Rivea Ines Ferreira, Flavio Augusto Cotrim Ferreira
12 – Tecnologia em saúde
Editor Sênior: Willi Pendl ([email protected])
Editores Associados: Luiz Fernando Tibaldi Kurahassi, Rodrigo de Maio
E D I T O R I A l
Prezado leitor,
É com satisfação que apresentamos a terceira edição de nossa revista. Ao lado das constantes divulgações sobre novidades e curiosidades decorrentes do avanço tecnológico que compõem o espaço interativo, os tra-balhos desta terceira edição têm como característica principal o alcance e impacto da informação.
Assim, seja na comunicação de más notícias, como foi discutido pelos autores Nelson Henrique da Silva e Fabiana Neman, ou ainda a estimativa do grau de entendimento do protocolo blS (basic life Support) pelos concluintes do curso de enfermagem, apresentado pelo grupo liderado pelo pesquisador marco Antonio Frias; em ambos aparece a preocupação em reverter à comunidade o cuidado e eficiência no acolhimento. o relato sobre o trabalho de parceria entre instituições de ensino e prefeituras também reflete esse sentimento e a atual compreensão sobre as funções (e atribuições) do meio acadêmico é dissecada no texto elaborado pelos professores Gerson lopes e Vladen Vieira. ele apresenta que o alvo do processo educacional transcende a formação do sujeito, e que este deve ser focado na melhora da qualidade de vida da comunidade. Na educação superior, tem-se valorizado cada vez mais não só o aprendizado do conteúdo, que é a capacitação ao ofício, mas também a adequação de sua aplicação, o exercer do ofício.
essa mesma preocupação com a atitude do formador do profissional de saúde é o tema central da reflexão oferecida pelo artigo dos pesquisadores José lúcio machado, maria Cristina de mattos e Joaquim edson Vieira. os autores identificam as qualidades necessárias ao profissional dedicado à implantação de estratégicas de en-sino contemporâneas, em consonância com os desafios de um educador atual. Ainda reforçam o sentimento de que, sem um líder comprometido e capaz, a possibilidade de sucesso é remota. esse mesmo caminho, o de buscar o aprimoramento das atividades de um gestor competente, é trilhado pelos autores Camila bezerra e Wilson Fernandes dos Santos, os quais mostram que são cruciais certas habilidades cognitivas. Interessante-mente, a digressão é centrada nas mulheres que, de forma geral, os autores relatam ter vários desses atributos graças à sua própria natureza de formação.
Já o texto da pesquisadora Camila Torriani-Pasin mostra o quão difícil é a execução simultânea de duas ati-vidades e como a integridade do encéfalo é determinante para o sucesso desse desafio. Indivíduos acometidos por acidentes vasculares têm dificuldades em fazê-lo e a avaliação do desempenho nessas situações pode ser um ótimo indicador para detectar, de maneira imediata e sem grande investimento, a eventual melhora em pacientes submetidos a tratamento reabilitador.
Atualização de conhecimento é o objetivo dos dois trabalhos do grupo do médico Sergio longato. Cientes de que acompanhar os avanços do conhecimento é condição de sobrevivência e eficácia profissional, Sergio e sua equipe discorrem sobre a associação entre as lesões na mucosa de pacientes com câncer e ainda oferecem uma revisão sobre o transtorno afetivo bipolar, uma condição que tem sofrido aumento em sua prevalência e que produz forte impacto na vida social do indivíduo acometido.
Desejamos uma excelente leitura.
Revista science in HealthCorpo Editorial
ISSN 2176-9095
111
Science in Health 2010 set-dez; 1(3): 111-20
Como ComuNICAr mÁS NoTÍCIAS
COMMUNICATING bAD NEWs
Nelson Henrique da Silva*Fabiana Augusto Neman**
Resumo
Introdução: Perante as necessidades de uma maior humani-zação na área da saúde, surgiu o interesse por esse assunto que é tão pouco estudado pelos alunos de medicina e tam-bém pouco difundido entre a grande maioria dos médicos do município de São Paulo. Com o objetivo de montar um protocolo de orientação para profissionais de saúde habi-litados para a comunicação de más notícias, este estudo teve como base as opiniões de 20 médicos que atuam nas instituições de saúde do município de São Paulo. Métodos: Para tanto, foi montado um questionário composto de 18 questões. Resultados: Dentre as respostas mais relevantes, 50% dos médicos afirmaram que não receberam informa-ção alguma em sua formação acadêmica relacionada a más notícias, 65% se sentem preparados para passar a informa-ção e 75% não conhecem nenhum protocolo relacionado ao tema. Conclusão: Discute-se a necessidade de um maior debate do assunto nas universidades, além da necessidade de divulgação de protocolos relacionados.
DescRitoRes: Humanização das assistências • Relações mé-dico-paciente • Revelação da verdade • Edu-cação médica • Ética médica • Profissional da saúde.
ABstRAct
Introduction: Perante the needs of a larger humanization in the area of the health, the interest appeared for that sub-ject that is so little studied by the medicine students and that is also little spread among the doctors of the municipal district of São Paulo in great majority. With the objective of setting up an orientation protocol for qualified professionals of health for the communication of bad news, this study had as base the 20 doctors’ opinion that act in the institutions of health of the municipal district of São Paulo. Methods: So that, a questionnaire composed by 18 subjects was set up. Results: Among the most relevant answers, 50% of the doctors said that they didn’t receive any information in his/her academic formation about bad news; 65% said that they feel prepared to pass the information and 75% don’t know any protocol related to the theme. Conclusion: The need of a larger discussion about this subject is considered in universities, besides the need of popularization of related protocols.
DescRiptoRs: Humanization of assistance • Phisician-pacient relations • Truth disclouse • Education, medical • Ethics, medical • Healt personel.
Relato de Pesquisa/ReseaRch RePoRtsMedicina
ISSN 2176-9095
112
Silva NH, Neman FA. Como comunicar más notícias São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 111-20
Relato de Pesquisa/ ReseaRch RePoRtsMedicina
ISSN 2176-9095
INtroduçãoDe acordo com Vandekief1 (2001), muller2 (2002),
lima3 (2003), más noticias são todas aquelas que cau-sam alguma mudança brusca na vida do paciente. Com isso, este pode vir a desenvolver outras patologias, além daquelas que já o acometeram. outra definição é que “má notícia pode ser qualquer informação que afeta negativamente a vida futura do indivíduo” (bu-ckman4 1992). Não necessariamente precisa ser uma notícia de morte, mas alguma doença grave, incapa-cidades físicas causadas por acidente, perda da visão, entre outras.
o interesse pelo presente trabalho surgiu por meio da observação de algumas pessoas que, por estarem passando por um processo de doença grave, recebe-ram a notícia da patologia de maneira inadequada e, consequentemente, desenvolveram outros quadros de doenças físicas e até mesmo psíquicas. Além disso, a quantidade de trabalhos científicos relacionados a esse assunto é muito reduzida, proporcionando uma maior abertura para novos estudos e oportunidades de auxiliar os profissionais de saúde, principalmente os médicos, a oferecerem um maior conforto ao pa-ciente que passa por um momento difícil.
A qualidade da relação médico-paciente e do en-sino médico atual também não pode deixar de ser ressaltada, visto que, no momento, é assunto muito discutido no meio acadêmico e está intimamente re-lacionada com a qualidade de comunicação de uma má notícia. Com isso, muitos tópicos relacionados aos referidos temas serão citados no decorrer deste trabalho, visando ressaltar a sua grande importância.
A atual formação médica vem sendo muito con-testada nos últimos anos, devido a diversas “falhas” encontradas em alguns profissionais médicos, já que algumas instituições trazem a promessa de um curso de medicina completo, mas que, na verdade, escon-dem um enorme despreparo e, consequentemente, profissionais inseguros, sem o conteúdo adequado, podendo afetar diretamente os pacientes. o médico é vítima da sociedade atual e ele não tem culpa, pois entra em uma faculdade esperançoso de tornar-se médico. É a sua intenção, seu desejo e sua aspira-ção, mas existem fábricas de diplomas, que devem ser um bom negócio, talvez mais político que financeiro. Abrem-se novas faculdades sem necessidade e sem a devida infraestrutura, sem corpo docente academica-
mente qualificado nem hospital próprio.Troncon et al.5 (1998) ressalta que ocorre um vi-
sível desinteresse da maioria das faculdades de medi-cina pelo conhecimento global do paciente, ou seja, os aspectos psicossociais são deixados de lado, pre-valecendo fortemente o conhecimento específico e biológico. “As escolas médicas estão submergindo os estudantes em pormenores opressores sobre conhe-cimentos especializados e aplicação de tecnologias sofisticadas, restringindo a aprendizagem de habilida-des médicas fundamentais, o que pode levar a uma fascinação pela tecnologia, tornando o artefato mais importante que o paciente. Faz-se necessário, portan-to, introduzir com maior determinação temas de bio-ética na grade curricular dos cursos médicos e ouvir, com atenção (Troncon et al.5 1998).
É fato que os próprios pacientes também estão sentindo as mudanças que ocorreram na medicina e os sintomas desse fato são claros. o tecnicismo e a falta de humanização na medicina trouxeram à tona o fato de que o homem há de ter direitos de cidadania, entretanto, seu incremento veio atrasado, chegou de maneira abrupta e tumultuada, utilizando como fer-ramenta a reclamação. Se por um lado ela é funda-mental, trouxe por outro um germe perverso que prejudica a relação médico-paciente. Foram péssimas as consequências para o doente que, sempre descon-fiado, perde a segurança no médico, gerando para este muito desconforto. É comum e até frequente o médico ouvir, até mesmo na entrada do centro cirúr-gico, uma grosseria do paciente ou de seu familiar.
As palavras discorridas acima podem revelar que nem sempre o paciente sente-se seguro diante de um profissional médico, fato este que pode prejudicar a comunicação de uma má notícia por parte do médico e também pode alterar a interpretação do paciente diante das palavras que lhe foram ditas. É fundamental diante dessa problemática que o médico, a enfermeira e toda a equipe de saúde se preocupem em superar esses obstáculos e trazer à tona o humano que existe dentro do homem para que se consiga humanizar a medicina e, assim, cuidar do paciente, lembrando que tanto o paciente quanto a família sofrem.
Venho observando rotineiramente, apesar de mi-nha incipiente experiência, diversos pacientes inda-gando sobre o mau atendimento médico e relatando intenso descontentamento por motivo de se sentirem
113
Silva NH, Neman FA. Como comunicar más notícias São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 111-20
Relato de Pesquisa/ ReseaRch RePoRtsMedicina
ISSN 2176-9095
como algo não humano ou, até mesmo, desprovido de sentimentos “(...) busca-se o médico com quem nos sentimos à vontade quando descrevemos nossas queixas, sem receio de sermos submetidos, por cau-sa disso, a numerosos procedimentos; o médico para quem o paciente nunca é uma estatística e, acima de tudo, que seja um semelhante, um ser humano cuja preocupação pelo paciente é avivada pela alegria de servir” (lown6 2004).
Apoiando as ideias acima e em defesa não só do paciente, mas também do médico, apresenta-se o Có-digo de Ética médica, no qual estão inseridos artigos que fomentam todos os argumentos até aqui apre-sentados. Duas passagens do código me chamaram à atenção com base na intenção da defesa moral, física e psíquica do paciente. São elas:
Art. 6° - o médico deve guardar absoluto respeito pela vida humana, atuando sempre em benefício do paciente. Jamais utilizará seus conhecimentos para ge-rar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano, ou para permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade.
Art. 41 - Deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais de sua doença.
essas palavras devem estar gravadas na memória de todo médico, principalmente daqueles que, de al-guma forma, já informaram uma má notícia de manei-ra muito ríspida ou então não deram a devida atenção ao paciente que passa por um momento delicado de sua vida. Além disso, o Código de Ética médica deve ser conhecido por todos os profissionais da área, pois muitos equívocos poderão ser evitados.
É imprescindível citar também que na hierarquia hospitalar as responsabilidades e tarefas delegadas a cada membro da equipe de saúde podem despertar angústias de modo distinto nesses profissionais. o médico passa menos tempo com os pacientes, mas é quem perante a sociedade detém a maior responsa-bilidade de cura, apresentando maior sentimento de fracasso e medo de errar ante a morte de seu pacien-te. Tem sido descrita a defasagem entre a posição hierárquica do profissional de saúde e o tempo que efetivamente despende com o paciente. Quanto mais especializado for, menos tempo gastará com o doen-te no ambiente hospitalar, o que também ocorre nas situações de morte do paciente, como afirma moritz7
(2003).o relato acima pode ser associado ao fato de que
grande parcela dos médicos especialistas possui difi-culdades em se relacionarem com seus pacientes, o que permite uma reflexão sobre a falta de capacidade de passar uma má notícia. Além disso, é importan-te ressaltar que muitos profissionais de saúde não têm a consciência de que os familiares dos enfermos também estão envolvidos em todo o processo. De acordo com Kübler8 (1992), os pacientes ou seus fa-miliares normalmente passam pelos mesmos estágios quando recebem uma má notícia. esses estágios fo-ram classificados para pacientes que estavam morren-do. Inúmeras outras situações presentes na prática dos profissionais de saúde, como a comunicação de diagnósticos de doenças genéticas, por exemplo, po-dem fazer com que as pessoas passem por estágios semelhantes.
os estágios são os seguintes: Choque inicial; Negação e isolamento; raiva; barganha; Depressão; Aceitação. De acordo com os dados acima estabelecidos, é
possível o conhecimento de algumas orientações que são disponibilizadas por alguns autores e estabelecem formas de comportamento de um médico diante da situação de ter que passar uma informação difícil para o paciente. “É muito importante compreender o pa-ciente, ter uma expressão neutra e, em seguida, in-formar as más notícias de maneira clara e direta. usar um tom de voz suave, pausado e usar uma linguagem sincera. o profissional deverá assegurar-se que o pa-ciente tenha compreendido a mensagem com clareza. A maioria dos autores sugere o uso de uma linguagem simples, sem muitos termos médicos. Isso não signifi-ca, no entanto, que o uso de terminologia específica e adequada não seja também importante para que o pa-ciente possa, por conta própria, encontrar informa-ções sobre sua doença” (Ptacek e eberhardt9 1996).
Tendo em vista toda a preocupação com a quali-dade da comunicação, principalmente do médico para com seu paciente, não podemos nos esquecer de que a responsabilidade para passar uma má notícia sempre recai sobre os ombros do médico, mas é importante
114
Silva NH, Neman FA. Como comunicar más notícias São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 111-20
Relato de Pesquisa/ ReseaRch RePoRtsMedicina
ISSN 2176-9095
ressaltar que outros profissionais de saúde como en-fermeiros, psicólogos e até mesmo alunos estagiários autorizados pelo hospital podem ser incumbidos para tal ação.
A exposição acima permite uma reflexão sobre o preparo de muitos profissionais de saúde, visto que é muito difícil manter o controle emocional, ou até mesmo ter de lidar com reações inesperadas dos in-divíduos que recebem má notícia.
MétodoA busca de novos horizontes para um assunto ain-
da tão desconhecido orientou-nos para um estudo com caráter qualitativo, por pretender analisar essa atividade tão difícil para qualquer profissional da saú-de.
o trabalho foi realizado em três etapas, as quais consistiram em: coleta dos dados fornecidos pelos profissionais médicos, tabulação das respostas obti-das e elaboração de um protocolo de orientação para os profissionais da saúde habilitados para comunicar más notícias.
Para o alcance do objetivo proposto foi utilizado um questionário composto de perguntas abertas e fechadas, as quais foram empregadas para uma popu-lação delimitada de médicos que atendem nas insti-tuições de saúde do município de São Paulo, os quais tiveram que transmitir uma notícia de câncer, morte na família, etc. A coleta de dados foi realizada após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da uni-versidade Cidade de São Paulo. Com a análise dos re-sultados obtidos, foi possível elaborar um protocolo de orientação para os profissionais de saúde habilita-dos para comunicar más notícias.
Apresentação dos resultadosNa busca de respostas, após a aplicação do ins-
trumento de coleta de dados, com um total de 20 profissionais médicos, foi possível obter as seguintes informações:
em relação à primeira questão obtivemos os da-dos a seguir:
1, em sua opinião, o que é uma má notícia? De acordo com Vandekief1 (2001), muller2 (2002),
lima3 (2003), más noticias são todas aquelas que cau-sam alguma mudança brusca na vida do paciente. Com
isso, este pode vir a desenvolver outras patologias, além daquelas que já o acometeram. outra definição é que “má notícia pode ser qualquer informação que afeta negativamente a vida futura do individuo” (bu-ckman4 1992). baseado no gráfico acima, as opiniões dos diferentes médicos não se desviam completamen-te das definições utilizadas, ou seja, todas as respostas estão diretamente relacionadas a uma mudança nega-tiva na vida do individuo.
2. Você recebeu alguma informação sobre o as-sunto durante sua formação acadêmica?
o gráfico acima expressa a necessidade da intro-dução do tema “más notícias” nas grades curriculares das faculdades de medicina. A falta de conhecimen-to sobre o assunto pode trazer diversos problemas ao paciente, visto que manifestações psíquicas e, até mesmo físicas, estão intimamente ralacionadas à rispi-dez durante o informe da má notícia.
Troncon et al.5 (1998) ressalta que ocorre um vi-sível desinteresse da maioria das faculdades de medi-cina pelo conhecimento global do paciente, ou seja, os aspectos psicossociais são deixados de lado, pre-valecendo fortemente o conhecimento específico e biológico.
3. Você se sente preparado(a) para informar uma má noticia?
115
Silva NH, Neman FA. Como comunicar más notícias São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 111-20
Relato de Pesquisa/ ReseaRch RePoRtsMedicina
ISSN 2176-9095
mesmo com todas as observações dos dados ob-tidos, grande parte dos médicos sentem-se prepara-dos e autoconfiantes para passar uma má notícia. esse fato é muito preocupante, já que o reconhecimento de alguma falha pode ser o primeiro passo para a me-lhora da qualidade do atendimento médico.
4. Qual a maior dificuldade encontrada na hora de passar uma má notícia?
acomete, bem como sua chance de morte? o gráfico acima leva a crer que, de acordo com
os diversos trabalhos descritos sobre o assunto, os médicos estão tomando a decisão mais correta.
8. Já soube de algum paciente que tenha ficado traumatizado após receber uma má notícia de manei-ra muito ríspida?A intimidação após a reação do paciente diante
de a uma má notícia pode levar à reflexão sobre o despreparo e a insegurança do médico em contornar situações difíceis e que exijam um maior conhecimen-to sobre o tema más notícias.
5. Para você, o que é mais importante para o mé-dico no momento de informar a má notícia?
De acordo com os diversos trabalhos já descritos, informar uma má notícia aos poucos é uma das me-lhores atitudes a serem tomadas.
6. Para tomar essa atitude, você leva em conside-ração o atual estado emocional do paciente?
Ver: o gráfico abaixo tem menos partes que as legendas
7. No momento em que o paciente recebe a no-tícia, você explica todos os riscos da doença que o
os dados encontrados remontam a necessidade de um maior conhecimento sobre o assunto e, além disso, apesar de ser passada a má notícia com infor-mações detalhadas sobre a doença do paciente, po-dem existir falhas na comunicação entre os médicos
116
Silva NH, Neman FA. Como comunicar más notícias São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 111-20
Relato de Pesquisa/ ReseaRch RePoRtsMedicina
ISSN 2176-9095
e pacientes.9. Já teve que informar a enfermidade ao paciente
em ambientes movimentados e sem privacidade? os dados acima levam à reflexão sobre a estrutura
da maioria dos hospitais do município de São Paulo, os quais não apresentam a estrutura adequada para a atividade em questão.
10. Percebeu alguma diferença de reação do pa-ciente quando passou a notícia em ambiente priva-tivo?
A falta de conhecimento de um protocolo se re-flete no gráfico acima.
15. Você considera que os médicos que atuam nas instituições de saúde do município de São Paulo estão preparados para passar uma má notícia?
11. Nas instituições de saúde em que você traba-lha, existe algum ambiente específico para informar uma má notícia?
12. Conhece algum protocolo relacionado ao as-sunto?
os dados indicam a necessidade de um maior co-nhecimento sobre o assunto.
13. Se conhece algum protocolo, você o segue? 14. em sua opinião, o que teria que mudar nos
atuais protocolos para melhorar a relação do médico para com os pacientes diante da necessidade de infor-mar uma má notícia?
16. Você gostaria que os alunos de medicina rece-bessem maiores orientações sobre o assunto?
Podemos refletir sobre a falta de humanização e o excesso de tecnicidade na medicina, fato que, nos últimos anos, é ou foi uma realidade no meio médico. Troncon et al.5 (1998) ressalta que ocorre um visível desinteresse da maioria das faculdades de medicina
117
Silva NH, Neman FA. Como comunicar más notícias São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 111-20
Relato de Pesquisa/ ReseaRch RePoRtsMedicina
ISSN 2176-9095
pelo conhecimento global do paciente, ou seja, os aspectos psicossociais são deixados de lado, prevale-cendo fortemente o conhecimento específico e bio-lógico.
17. Você acredita que a falta de humanização na medicina contribuiu para que os cursos médicos te-nham sido desprovidos de maiores esclarecimentos sobre o assunto?
Quadro 1: respostas mais frequentes
Questãoresposta obtida
1a em sua opinião, o que seria má notícia?
Quando leva a piora da qualidade de vida do paciente - 50%
2ª Você recebeu alguma informação sobre o assunto durante sua formação acadêmica?
Não - 50%
3ª Você se sente preparado(a) para informar uma má noticia?
Sim - 65%
4ª Qual a maior dificuldade encontrada na hora de passar uma má notícia?
reação do paciente - 60 %
5ª Para você, o que é mais importante para o médico no momento de informar a má notícia?
Informar aos poucos - 50%
6ª Para tomar essa atitude você leva em consideração o atual estado emocional do paciente?
Sim - 90%
7ª No momento em que o paciente recebe a notícia, você explica todos os riscos da doença que o acomete, bem como sua chance de morte?
Sim - 95%
8ª Já soube de algum paciente que tenha ficado traumatizado após receber uma má notícia de maneira muito ríspida?
Sim - 60%
9ª Já teve que informar a enfermidade ao paciente em ambientes movimentados e sem privacidade?
Sim - 90%
10ª Percebeu alguma diferença de reação do paciente quando passou a notícia em ambiente privativo?
Sim - 80%
11ª Nas instituições de saúde em que você trabalha, existe algum ambiente específico para informar uma má notícia?
Não - 100%
12ª Conhece algum protocolo relacionado ao assunto?
Não - 75%
18. em sua opinião, o que deve ser feito para me-lhorar a relação entre médico e paciente perante a necessidade do profissional de saúde informar uma má notícia?
“As escolas médicas estão submergindo os es-tudantes em pormenores opressores sobre conhe-cimentos especializados e aplicação de tecnologias sofisticadas, restringindo a aprendizagem de habilida-des médicas fundamentais, o que pode levar a uma fascinação pela tecnologia, tornando o artefato mais importante que o paciente”. Faz-se necessário, por-tanto, introduzir com maior determinação temas de bioética na grade curricular dos cursos médicos e ou-vir, com atenção (Troncon et al.5 1998).
118
Silva NH, Neman FA. Como comunicar más notícias São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 111-20
Relato de Pesquisa/ ReseaRch RePoRtsMedicina
ISSN 2176-9095
13ª Se conhece algum protocolo, você o segue?
Não - 80%
14ª em sua opinião, o que teria que mudar nos atuais protocolos para melhorar a relação do médico para com os pacientes diante da necessidade de informar uma má notícia?
Nada - 50%
15ª Você considera que os médicos que atuam nas instituições de saúde do município de São Paulo estão preparados para passar uma má notícia?
Não - 70%
16ª Você gostaria que os alunos de medicina recebessem maiores orientações sobre o assunto?
Sim - 100%
17ª Você acredita que a falta de humanização na medicina contribuiu para que os cursos médicos tenham sido desprovidos de maiores esclarecimentos sobre o assunto?
Sim - 90%
18ª em sua opinião, o que deve ser feito para melhorar a relação entre médico e paciente diante da necessidade do profissional de saúde de informar uma má notícia?
Introdução do assunto nas universidades - 75%
CoNSIderAçõeSDe acordo com a análise dos gráficos acima, po-
demos refletir sobre a importância do tema “más no-tícias” no cotidiano profissional dos médicos. A falta de conhecimento do assunto, devido à não inclusão de disciplinas relacionadas à humanização nas facul-dades de medicina, faz com que a comunicação entre médico e paciente fique prejudicada. De acordo com Quintana et al.10 (2002), essa problemática é pouco explorada nos currículos de medicina, o que ocasiona uma abordagem inadequada e aumenta desnecessa-riamente o sofrimento do médico e do paciente, em especial daqueles sem expectativa de cura. Ao lado dessas informações, ramos et al.11 (2005) propõe a inclusão formal de vivências durante a graduação que recorram a outras estratégias de ensino, como, por exemplo, o emprego de técnicas psicodramáticas. Já há trabalhos nessa linha, mas são experiências espo-rádicas, sem a força transformadora necessária para aliviar a ansiedade e humanizar o ensino.
os dados obtidos revelam que, apesar de sentir
insegurança e medo da reação do paciente diante da má notícia ou então não conhecer nenhum proto-colo relacionado ao assunto, a maioria dos médicos sente-se preparada para enfrentar essa difícil situa-ção. essa é uma grande dualidade, visto que a falta de aceitação do desconhecimento pode levar à falta de novos aprendizados, menor humanização e, con-sequentemente, um pior atendimento individualizado ao paciente enfermo.
A forma com que os médicos transmitem uma má notícia e o quanto expõem a real situação de saú-de do paciente também merecem destaque, já que a maioria dos profissionais informa de maneira paula-tina e leva em consideração o estado emocional dos indivíduos. em contraste com essas informações, di-versos entrevistados afirmaram conhecer pacientes que receberam a notícia de maneira ríspida e fica-ram “traumatizados” após o fato. As considerações de Premi12 (1993) mostram que a preocupação maior dos pesquisadores está centrada na importância (ou não) de informar o paciente o quanto ele deve saber, mas que pouca atenção tem sido dada à capacitação do médico para enfrentar essas situações.
Perante todas as considerações acima, a huma-nização emerge como uma das principais maneiras de melhorar a relação médico-paciente. o papel do médico nesse contexto é essencial, pois uma relação mais harmoniosa, menos científica e mais humana leva a maior credibilidade na relação com a pessoa enfer-ma.
A seguir, apresentamos uma proposta para orien-tação aos profissionais, com o intuito de apoio nessa experiência.
Necessidades na graduação:1. Introdução do tema “comunicação de más 2. notícias” nas grades curriculares das diversas faculdades de medicina.2- maior divulgação de protocolos relaciona-3. dos ao assunto (Spikes).orientar os alunos de medicina no sentido de 4. maximizar a humanização e melhorar a rela-ção médico-paciente.maior contato dos alunos de medicina com 5. pacientes portadores de doenças graves, sa-lientando a importância do cuidado especial para com esses indivíduos.Necessidades na atividade profissional:6.
119
Silva NH, Neman FA. Como comunicar más notícias São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 111-20
Relato de Pesquisa/ ReseaRch RePoRtsMedicina
ISSN 2176-9095
Conhecer o que é uma má notícia. 7. Ter conhecimento de algum protocolo de 8. orientação, como o protocolo Spikes, para evitar o medo da reação do paciente.Procurar seguir esses protocolos, no intuito 9. de minimizar o sofrimento do paciente.Informar a notícia aos poucos, evitando a “ris-10. pidez” durante a transmissão da informação.Considerar o estado emocional do paciente, 11. ou seja, dar tempo ao paciente para refletir sobre sua atual situação.Demonstrar segurança ao informar a má no-12. tícia.Informar todos os detalhes da doença do in-13. dividuo, bem como sua sobrevida, possíveis tratamentos ou, até mesmo, sua chance de morte.Informar a má notícia em ambiente silencioso 14. e privativo.maior humanização no tratamento dos pa-15.
cientes, ou seja, menor quantidade de termos técnicos e maior empatia e compreensão.Introdução de cursos preparatórios para mé-16. dicos do município de São Paulo sobre o tema más notícias.Adequação das entidades de saúde no intuito 17. de manifestarem o interesse em adaptarem salas específicas para a comunicação das más notícias.
AgrAdeCIMeNtoSAgradeço à professora Fabiana Neman, à qual des-
tino grande parte do crédito deste trabalho. Além disso, confio a meus pais a imensa gratidão de ter a oportunidade de estudar medicina e poder elaborar trabalhos científicos, com o intuito de auxiliar pacien-tes e profissionais de saúde.
este trabalho contou com o apoio financeiro da universidade Cidade de São Paulo.
120
Silva NH, Neman FA. Como comunicar más notícias São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 111-20
Relato de Pesquisa/ ReseaRch RePoRtsMedicina
ISSN 2176-9095
RefeRênciAs
1. Vandekief GK. breaking bad News. American Family Physician, 2001; 64:12.
2. muller oS. breaking bad news to patients - The SPIKeS approach can make this difficult task easier. Postgrad med 2002 Sep; 112(3): 15-6.
3. Alves de lima Ae. Cómo comunicar malas noticias a nuestros pacientes y no morir en intento, rev Argent Cardiol 2003 mayo-jun; 71(3): 217-220.
4. buckman r. breaking bad News: a guide for health care professionals. baltimore: Johns Hopkins university Press; 1992, p. 15.
5. Troncon le, Cianfrone Ar, martin CC. Conteúdos humanísticos na formação geral do médico. In: marcondes e, Gonçalves el. educação médica, São Paulo: Sanvier 1998.
6. lown b. A crise das drogas III: corrupção da ciência. Diagn Tratamento, 2004 out-dez; 9(4): 154-61.
7. moritz rD. Dilemas éticos no final da vida. rev bras Ter Intensiva 2003; 15(1): 3-4.
8. Kubler ross e. Sobre a morte e o morrer, São Paulo: WmF martins Fontes; 1992 p. 274.
9. Ptacek JT, ebenhardt Tl. breaking bad news - A review of the literature. Jama 1996 Aug 14; 276(6): 496-502.
10. Quintana mA, Cecim PS, Henn CG. o preparo para lidar com a morte na formação do profissional de medicina. rev bras educ méd. 2002 out-dez; 26 (3): 204-210.
11. ramos-Cerqueira ATA, lima mCP, Torres Ar, reis JrT, Fonseca NmV. era uma vez... contos de fada e psicodrama auxiliando alunos na conclusão do curso médico. Interfa-ce Comum Saúde educ. 2004 set. 2005 fev; 9(16): 81-89.
12. Premi JN. Communicating bad News. World Health organization. Genebra, 1993.
ISSN 2176-9095
121
Science in Health 2010 set-dez; 1(3): 121-7
ABstRAct
Introduction: Cardiac arrest is considered an emergency and requires immediate assessment and intervention to ensure the survival of the individual risk of death. Meet the BLS protocol and perform each step correctly increase the chance of successful treatment. Objective: To determine the student’s fourth year of undergraduate nursing care in PCR-based protocol BLS. Method: This is a field research approa-ch quantitative exploratory and descriptive. The survey was conducted in a Higher Education Institution in the city of Sao Paulo, with 31 undergraduate students in nursing. To collect data we used a tool such as “check-list”, following the standardization of the Basic Life Support. The techni-que of resuscitation was performed on the training dummy. Results: The results showed deficiencies in the theoretical and practical knowledge of the steps of the BLS. Among the study participants, 55% did not recognize the signs of car-diac arrest, 87% have not sought help, 48% positioned the patient at DDH and rigid, 39% were incorrectly checking pulse and chest compression and 64% did not perform de-fibrillation. Conclusion: The results suggest a greater need of practical learning CPR / BLS by the students during their undergraduate nursing.
DescRiptoRs: Heart arrest • Resuscitation • Nursing • Edu-cation, nursing • Emergencies
AVAlIAÇÃo Do CoNHeCImeNTo Do ProToCo blS Por AluNoS CoNCluINTeS De GrADuAÇÃo em eNFermAGem*
EVAlUATION OF THE KNOWlEDGE OF THE sTUDENTs OF GRADUATION IN NURsING ON THE PROTOCOl bls
* Texto extraído do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC apresentado à Faculdade de enfermagem da universidade Cidade de São Paulo – uNICID em dezembro de 2009 para obtenção do Grau de bacharel em enfermagem
Karina Venâncio*
érika Pensado Bezerra**
Viviane de Lima rocha**
Marcos Antonio da eira Frias***
**** Aluna concluinte do Curso de Graduação em enfermagem da universidade Cidade de São Paulo – uNICID.**** Aluna concluinte do Curso de Graduação em enfermagem da universidade Cidade de São Paulo – uNICID.*** enfermeiro, mestre em enfermagem, Docente do Curso de Graduação em enfermagem da universidade Cidade de São Paulo – uNICID.
Resumo
Introdução: A parada cardiorrespiratória é considerada uma situação de emergência e exige avaliação e intervenção imediata para garantir a sobrevida do indivíduo em risco de morte. Conhecer o protocolo BLS e executar cada etapa corretamente aumentam as chances de sucesso no atendimento. Objetivo: Avaliar o conhecimento do aluno do quarto ano da graduação em enfermagem no atendimen-to de PCR com base no protocolo do BLS. Método: Esta é uma pesquisa de campo de abordagem quantitativa do tipo exploratória e descritiva. A pesquisa foi realizada em uma Instituição de Ensino Superior na Cidade de São Paulo, com 31 alunos de graduação em enfermagem. Para a cole-ta de dados usamos um instrumento do tipo “check-list”, seguindo a padronização do Basic Life Support. A técnica de reanimação foi realizada em manequim de treinamento. Resultados: Os resultados evidenciam deficiências no co-nhecimento teórico-prático dos passos do BLS. Do total de participantes do estudo 55% não reconheceram os sinais de PCR, 87% não solicitaram ajuda, 48% posicionaram a vítima em DDH e superfície rígida, 39% realizaram de forma in-correta a verificação de pulso e compressão torácica e 64% não executaram a desfibrilação. Conclusão: Os resultados encontrados apontam uma necessidade maior do aprendi-zado prático de RCP/BLS pelo aluno durante a graduação em enfermagem.
DescRitoRes: Parada cardíaca • Ressuscitação • Enfermagem • Educação em enfermagem • Emergências.
Relato de Pesquisa/ ReseaRch RePoRtsenfeRMageM
ISSN 2176-9095
Venâncio K, Bezerra EP, Rocha VL, Frias MAE. Avaliação do conhecimento do protoco BLS por alunos concluintes de graduação em enfermagem. São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 121-7
122
Relato de Pesquisa/ ReseaRch RePoRtsenfeRMageM
ISSN 2176-9095
INtroduçãoentende-se por Parada Cardiorrespiratória (PCr)
a interrupção súbita e brusca da circulação sistêmi-ca e respiratória, comprovada pela ausência de pulso central (carotídeo e femoral), e de movimentos venti-latórios (apneia), definindo-se, assim, a ressuscitação cardiopulmonar (rCP) como um conjunto de proce-dimentos realizados após uma PCr, a fim de melho-rar as chances de sobrevivência da vítima (Calil et al.1 2007; Guimarães et al.2 2009).
o pioneiro da rCP no brasil foi o Dr. John Cook lane, em 1960. Quando cursava residência em ci-rurgia, o Dr. lane sofreu influência do Dr. Gordon, um dos pioneiros da reanimação moderna. Foi o Dr. lane quem trouxe ao brasil o curso prático de rCP, e a partir daí publicou os seus primeiros livros sobre reanimação cardiorrespiratória cerebral. Através de palestras e demonstrações em manequins, lane di-fundiu em diversas instituições a finalidade e a técnica do AbC do Suporte básico de Vida (Guimarães et al.3 2009).
o Dr. Ari Timerman, graduado pela Faculdade de medicina de Sorocaba, em 1976 também desenvolveu vários estudos sobre a rCP, e juntamente com o Dr. Fehér, deu início no brasil aos cursos no formato da AHA (Tinerman et al.4 2007).
AHA é uma Sociedade que se reúne a cada 5 anos em Dallas, Texas, estados unidos, para atualizar as di-retrizes da rCP. A última atualização foi em 2005. As modificações das diretrizes visam simplificar o papel dos procedimentos do suporte básico de vida como estratégias fundamentais para melhorar a sobrevivên-cia após a PCr.
o enfermeiro do serviço de emergência, segundo Calil et al.1 (2007), deve ser capacitado a assumir a liderança em situações de rCP, para desenvolver a atividade com habilidade motora e atitude para jul-gamentos e tomada de decisões. Para esses mesmos autores, a capacitação e o conhecimento científico são o diferencial nessa situação.
uma situação de emergência é um momento de estresse para todos os profissionais da área da saúde, por isso a capacitação é necessária para se ter suces-so no atendimento, principalmente quando se trata de uma PCr, por isso, ter domínio dos passos do blS é fundamental.
Para Timerman et al. 4 2007, o Suporte básico de
Vida inclui etapas diferentes que, realizadas de forma disciplinada, visam melhor qualidade de circulação e oxigenação tecidual, oferecendo chance maior de so-brevida a pacientes, muitas vezes, em risco de vida. Na maioria das vezes, o socorro a essas vítimas inicia fora do ambiente hospitalar, devendo-se deflagrar o suporte básico de vida disciplinado e programado.
Sendo assim, este estudo tem como objetivo ava-liar o conhecimento do aluno do quarto ano da gra-duação em enfermagem em relação ao atendimento de uma PCr, com base no protocolo do blS.
MAterIAL e MétodoTipo de pesquisa e local de estudoTrata-se de uma pesquisa de campo de abordagem
quantitativa do tipo exploratória e descritiva.o Projeto de Pesquisa foi submetido à apreciação
do Comitê de Ética e Pesquisa da universidade Cida-de de São Paulo, tendo sido aprovado.
A pesquisa foi realizada em uma Instituição de ensino Superior localizada na Zona leste da Ci-dade de São Paulo, com 31 alunos do último ano da graduação em enfermagem.
Critérios de inclusãoSer aluno regularmente matriculado no último ano
do Curso de Graduação em enfermagem, ter disponi-bilidade e concordar em participar do estudo.
operacionalização da Coleta de Dadosos estudantes foram informados quanto ao obje-
tivo da pesquisa, a forma de participação, a garantia do anonimato e que tinham liberdade total na decisão de participar ou não da pesquisa. Aqueles que op-taram por participar deste estudo confirmaram sua participação assinando o Termo de Consentimento livre e esclarecido.
Após as explicações sobre a pesquisa e assinatu-ra do Termo de Consentimento livre e esclarecido, cada participante foi, então, orientado para executar a manobra de rCP da forma que julgasse correta.
Para a coleta de dados foi elaborado um instru-mento do tipo “check-list” (Anexo I), seguindo a pa-dronização do basic life Support (blS) conforme as diretrizes da American Heart Association.
Para realização da técnica de rCP, foi utilizado um manequim de treinamento específico para esse fim. A
Venâncio K, Bezerra EP, Rocha VL, Frias MAE. Avaliação do conhecimento do protoco BLS por alunos concluintes de graduação em enfermagem. São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 121-7
123
Relato de Pesquisa/ ReseaRch RePoRtsenfeRMageM
ISSN 2176-9095
desinfecção da boca do manequim para realização de respiração boca a boca foi feita com algodão embebi-do em álcool 70% garantindo, assim, total segurança aos participantes do estudo.
A performance dos participantes do estudo na execução de cada item da manobra de rCP foi re-gistrada por um dos pesquisadores no impresso Ins-trumento de Coleta de Dados, nos itens correspon-dentes a: desenvolvimento correto, incorreto ou não executou.
reSuLtAdoS e dISCuSSãoos dados coletados foram analisados em números
absolutos e percentuais e apresentados em gráficos.ressaltamos que na avaliação da performance, a
execução incorreta e/ou a não execução de um dos passos do protocolo têm o mesmo peso em termos de avaliação, ou seja, representam a atuação ineficaz e ineficiente do socorrista no atendimento à vítima em situação de emergência com risco de morte iminen-te; no entanto, entendemos que a execução incorreta mostra que houve uma tentativa de fazer algo.
Para o atendimento de uma vítima em PCr, é ne-cessário seguir as diretrizes estabelecidas pela Inter-national liaision Committee on resuscitation, méto-do conhecido como mnemônico do AbCD.
o AbCD da rCP consiste em quatro partes prin-cipais: promover a Abertura das vias aéreas; restabe-lecer e manter boa respiração; restabelecer e manter a Circulação e fazer a Desfibrilação.
o profissional precisa reconhecer e confirmar a PCr; para que isso aconteça, é necessário fazer a ava-liação rápida do local e da vítima. Antes de iniciar o atendimento, o socorrista deve avaliar se o local da cena é seguro, para também não se tornar uma vítima. Após esse reconhecimento, deve-se tocar o ombro da vítima levemente, mas com firmeza, e perguntar se está tudo bem. Se não há nenhum tipo de resposta, entende-se que a vítima está inconsciente (American Heart Association5 2006, Serrano et al.6 2008).
os resultados do desempenho no quesito reco-nhecimento e identificação de parada cardiorrespira-tória pelos participantes do estudo podem ser obser-vados no Gráfico 1.
GRÁFICO 1: Reconhece os sinais de parada cardiorrespira-tória (PCR). (são Paulo, 2009.)
o GrÁFICo 1 mostra que, do total de 31 (100%) alunos participantes do estudo, 42% (13) executaram corretamente o primeiro passo do protocolo blS, 55% (17) não executaram o procedimento e 3% (01) executou de maneira incorreta. A somatória dos re-sultados não executou e executou incorretamente corresponde a 58% do total.
o fato de 58% da população não ter executado ou ter executado de forma incorreta o primeiro passo do suporte básico de vida (SbV), é motivo de preo-cupação, pois a não identificação dos sinais de PCr por parte do enfermeiro implica em risco de morte do paciente.
Para melhorar a taxa de sobrevida por PCr é im-portante que o enfermeiro reconheça os sinais pre-coces de alerta de um ataque cardíaco, intervenha de maneira imediata, correta e segura. GRÁFICO 2: Solicita ajuda após verificar a responsividade.
(são Paulo, 2009.)
Venâncio K, Bezerra EP, Rocha VL, Frias MAE. Avaliação do conhecimento do protoco BLS por alunos concluintes de graduação em enfermagem. São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 121-7
124
Relato de Pesquisa/ ReseaRch RePoRtsenfeRMageM
ISSN 2176-9095
o segundo passo do SbV foi executado correta-mente por 3% (01) dos sujeitos, 87% (27) não exe-cutaram o procedimento e 10% (03) executaram de maneira incorreta.
Nesse segundo item, 97% da população não apre-sentaram um desempenho adequado; entende-se que, em uma situação real, aumentaria em muito o tempo de chegada da equipe de socorro.
A American Heart Association (AHA5 2006) in-dica uma padronização de condutas que devem ser adotadas na vigência de uma PCr no adulto. o socor-rista que reconhece a situação de emergência deve solicitar rapidamente ajuda da equipe de emergência médica e pedir o desfibrilador externo automático (DeA).
Durante a solicitação da ajuda, solicitar imediata-mente a busca do desfibrilador externo automático (DeA). Caso o profissional esteja sozinho, deve-se incumbir outra pessoa para que faça esse pedido de ajuda. No ambiente hospitalar, de imediato, é feito o pedido do carrinho de atendimento de emergência (American Heart Association5 2006, Serrano et al.6 2008).
GRÁFICO 3: Posiciona a vítima para iniciar a avaliação. (são Paulo, 2009.)
A vítima deve ser mantida em DDH (decúbito dorsal horizontal) sobre uma superfície rígida: isso é necessário para o desempenho máximo da massagem cardíaca (American Heart Association5, 2006; Serra-no et al.6, 2008), de maneira que, durante as manobras de compressão torácica, haja o contra-ponto que ga-rante a efetividade do procedimento.
GRÁFICO 4: Abertura das vias aéreas. (São Paulo, 2009.)
A representação do desempenho no posiciona-mento da vítima mostra que 48% (15) da amostra executaram esse passo de forma correta, 29% (09) não executaram o procedimento e 23% (07) executa-ram de forma incorreta.
o Gráfico 3 mostra que 52% não posicionaram ou posicionaram a vítima de forma incorreta.
No Gráfico 4, se observa que 39% (12) dos sujei-tos executaram corretamente o procedimento, 39% (12) não executaram, e 22% (07) executaram de ma-neira incorreta.
Nesse item, 61% dos pesquisados não posiciona-ram e/ou posicionaram de maneira incorreta a cabeça da vítima.
A posição inadequada da cabeça pode bloquear a via aérea e impedir a ventilação adequada em algumas vítimas não responsivas.
A abertura das vias aéreas é realizada com a ma-nobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo. Para a execução correta desse passo da técnica, o socorrista deve fazer a hiperextensão da cabeça da vítima. A hiperextensão é feita posicionando-se uma mão espalmada na região frontal da vítima e com o dedo indicador e médio da outra mão na região men-toniana a fim de facilitar a inclinação da cabeça para trás. essa manobra alivia a obstrução da via aérea em uma vítima não responsiva (American Heart Associa-tion5 2006, Serrano et al.6 2008).
Após o posicionamento da cabeça da vítima, deve-se avaliar a ventilação. É necessário ver se há eleva-ção e abaixamento do tórax, ouvir se há escape de ar
Venâncio K, Bezerra EP, Rocha VL, Frias MAE. Avaliação do conhecimento do protoco BLS por alunos concluintes de graduação em enfermagem. São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 121-7
125
Relato de Pesquisa/ ReseaRch RePoRtsenfeRMageM
ISSN 2176-9095
durante a exalação e sentir o fluxo de ar (American Heart Association5 2006, Serrano et al.6 2008).
Na ausência de respiração, o profissional deverá realizar duas ventilações de resgate (1 segundo cada), provocando a elevação do tórax: é importante obser-var a elevação do tórax à medida que se vai aplicando a ventilação; se não elevar na primeira ventilação, é necessário repetir a manobra de inclinação cabeça-elevação do mento. Durante as ventilações é preciso fornecer uma quantidade de ar suficiente para se con-seguir elevar o tórax da vítima e para prevenir a dis-tensão gástrica. o ar expirado contém aproximada-mente 17% de oxigênio e 4% de dióxido de carbono, o que é suficiente para fornecer oxigênio para suprir as necessidades da vítima; por isso, o socorrista deve respirar normalmente para aplicar a ventilação. Após as duas ventilações, segue-se para o próximo passo que é iniciar a ventilação da vítima (American Heart Association5 2006, Serrano et al.6 2008).
GRÁFICO 5: Inicia ventilação artificial. (São Paulo, 2009.)
o Gráfico 5 mostra que 32% (10) participantes executaram corretamente a ventilação da vítima, 45% (14) não executaram essa manobra, e 23% (07) exe-cutaram de forma incorreta.
em relação à ventilação artificial, 68% não execu-taram e/ou executaram de maneira incorreta.
Caso sejam aplicadas ventilações muito rápidas ou com muita força, o ar provavelmente irá para o estômago ao invés de ir para os pulmões. essa mano-bra pode causar distensão gástrica e acarretar graves complicações como vômitos, aspiração e pneumonia.
GRÁFICO 6: Realiza compressões torácicas. (são Paulo, 2009.)
No Gráfico 6 referente às compressões torácicas 23% (07) executaram adequadamente, 29% (09) não
executaram o procedimento e 48% (15) executaram incorretamente.
No item correspondente à realização de compres-sões torácicas, 77% não executaram e/ou executaram de maneira incorreta.
Nesse passo ocorre a verificação do pulso caro-tídeo ou femoral. Se não houver pulso, é necessário aplicar ciclos de 30 compressões e duas ventilações: as compressões devem ser fortes e rápidas; a frequ-ência é de 100 compressões por minuto. Para fazer a compressão correta, o socorrista deve localizar o gradeado costal e, a seguir, o apêndice xifoide, de-marcar dois dedos logo acima do apêndice xifoide e posicionar a região hipotenar de uma mão com os dedos estendidos e a outra mão sobreposta a esta no centro do tórax entre os mamilos. manter os bra-ços esticados e posicionar os ombros na direção das mãos, comprimir de 4 a 5 centímetros; ao final de cada compressão, é necessário assegurar-se de que houve o retorno/re-expansão total do tórax. o re-torno completo permite que mais sangue encha o coração entre as compressões torácicas. um ciclo corresponde a uma sequência de 30 compressões e 2 ventilações, e a cada 5 ciclos o socorrista deve veri-ficar o ritmo cardíaco (American Heart Association5 2006, Serrano et al.6 2008).
A identificação da necessidade de desfibrilação foi executada de maneira correta por 10% (03) da amos-tra; 64% (20) não executaram o procedimento e 26%
Venâncio K, Bezerra EP, Rocha VL, Frias MAE. Avaliação do conhecimento do protoco BLS por alunos concluintes de graduação em enfermagem. São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 121-7
126
Relato de Pesquisa/ ReseaRch RePoRtsenfeRMageM
ISSN 2176-9095
(08) executaram de forma incorreta. Quanto ao uso do DeA, 90% não executaram e/ou
executaram de maneira incorreta o procedimento.o intervalo desde o colapso até a desfibrilação é
um dos mais importantes fatores determinantes da sobrevivência a uma PCr.
A desfibrilação precoce é fundamental para as víti-mas de parada cardíaca súbita, pois a fibrilação ventri-cular (FV) é o ritmo inicial mais comum nesses casos (American Heart Association5 2006, Serrano et al.6 2008).
o desfibrilador externo automático (DeA) inter-preta o ritmo cardíaco e informa a necessidade ou não do uso de choques. esse aparelho foi desenvol-vido para que qualquer pessoa possa utilizá-lo em situação de PCr, pois não requer interpretação de traçado eletrocardiográfico para decidir se é ou não necessário o uso terapêutico da corrente elétrica; já os aparelhos convencionais são usados exclusivamen-te no ambiente hospitalar (American Heart Associa-tion5 2006, Serrano et al.6 2008).
CoNCLuSãoCom este estudo, pode-se concluir que, na avalia-
ção da performance dos alunos na execução do blS, 58% da população não executaram ou executaram de forma incorreta o primeiro passo do suporte bási-co de vida; no segundo passo do protocolo, 97% da
população não executaram ou executaram de forma incorreta a solicitação de ajuda; o terceiro passo, posicionamento da vítima, não foi executado ou foi executado de forma incorreta por 52% da amostra; o quarto item, correspondente ao posicionamento da cabeça da vítima, não foi executado ou foi executa-do de forma incorreta por 61% dos pesquisados. em relação ao quinto passo, ventilação artificial, 68% não executaram e/ou executaram de maneira incorreta; o sexto item, realização de compressões torácicas, não foi executado e/ou foi executado de maneira incorre-ta por 77% e no sétimo passo, uso do DeA, 90% não executaram e/ou executaram de maneira incorreta o procedimento.
esses resultados são preocupantes, pois se espera que, ao final do curso, o aluno tenha construído co-nhecimento e desenvolvido habilidades que lhe per-mitam enfrentar de maneira rápida, segura, eficiente e eficaz as situações rotineiras ou não do seu dia-a-dia como profissional.
Permitir que fosse avaliado e divulgado o resultado do desempenho dos futuros profissionais formados nessa Instituição é um ato de coragem e demonstra o amadurecimento pessoal e profissional da Direção do Curso. Além disso, fica evidente a preocupação real com a qualidade do profissional que deixa a universi-dade e leva o nome da Instituição.
entendemos que sempre é tempo de rever e aprender, pois ensinar e aprender é um processo di-nâmico; sendo assim, sugerimos que os alunos con-cluintes sejam submetidos a um treinamento sobre blS antes da conclusão do curso.
entendemos ser relevante investir mais no trei-namento em laboratório com situações controladas, onde o aluno possa ser levado a desenvolver os pro-cedimentos, perceber seu desempenho e refazer a técnica até atingir a perfeição desejada.
esperamos com este estudo contribuir para a re-flexão dos docentes, independente da área de atuação, pois compreendemos que estudos dessa natureza são importantes, uma vez que mostram a compreensão e o desempenho do aluno em relação ao seu fazer como futuro enfermeiro.
GRÁFICO 7: Identifica a necessidade de desfibrilação. (São Paulo, 2009.)
Venâncio K, Bezerra EP, Rocha VL, Frias MAE. Avaliação do conhecimento do protoco BLS por alunos concluintes de graduação em enfermagem. São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 121-7
127
Relato de Pesquisa/ ReseaRch RePoRtsenfeRMageM
ISSN 2176-9095
reFerÊNCIAS 1. Calil, Am, Paranhos WY. o enfermeiro e as situações de emergências. São Paulo:
Atheneu, 2007.
2. Guimarães HP, lopes rD, Flato uAPF, Soares-Feitosa Filho G. ressuscitação cardio-pulmonar: uma abordagem prática / Cardiopulmonar ressuscitation: a pratical review. rev Soc bras Clín méd 2008 maio-jun; 6(3): 94-101.
3. Guimarães HP, lane JC, Flato uAP, Timerman A, lopes rD. A historia da ressuscita-ção cardiopulmonar no brasil. Rev soc brás Clin Med 2009 jul-ago; 7(4): 238-44.
4. Timerman S, Gonzalez mmC, ramires JAF. ressuscitação e emergências cardiovascu-lares: do básico ao avançado. barueri, SP: manole. 2007
5. AHA – American Heart Association. Aspectos mais relevantes das diretrizes da Ame-rican Heart Association sobre ressuscitação cardiopulmonar e atendimento cardiovas-cular de emergência. Curr emerg Cardiovasc Care. [periódico na internet] 2005/2006 [acesso em 2009 aug 10]. 16(4):1-27. Disponível em: http://www.americanheart.org/downloadable/heart/1141072864029CurrentsPortugueseWinter2005-2006.pdf.
6. Serrano Jr, Carlos V, Timerman A, Stefanini e. Tratado de cardiologia Socesp. 2ª ed. São Paulo: manole. 2008.
Anexo I
INSTrumeNTo De ColeTA
Item a ser avaliado C NE I
reconheceu os sinais de PCr
Solicitou ajuda
Posicionou o paciente em uma superfície rígida
Abertura da VA (extensão da cabeça para trás, deslocando a mandíbula para a frente
respiração (Ver, ouvir, sentir)
* não: fazer 2 insuflações pulmonares e profundas, duração 1,5 a 2sg, observando a parede torácica elevar-se com ambu e máscara
- Circulação (verificação de pulso carotídea e femoral)
* não: Iniciar compressões torácicas 30:2 (localizar porção inferior do esterno; posicionar-se verticalmente acima do tórax da vítima com os braços estendidos)
Desfibrilação (se em FV/ TV sem pulso)
* após choque, fazer 5 ciclos de compressões e ventilações antes de nova verificação de pulso
legenda: C = correto; Ne = não executou; I = incorreto
ISSN 2176-9095
128
Science in Health 2010 set-dez; 1(3): 128-35
eFeIToS DA DuPlA TAreFA NA mArCHA De PACIeNTeS HemIPArÉTICoS.
DUAl TAsK EFFECT IN HEMIPARETIC GAIT
Camila torriani-Pasin*
Kátia Lin**
Michelly Arjona**
Priscila Y Silva**
roberta Zancani de Lima**
** Fisioterapeuta especialista em Neurofuncional e Profa Dra da escola de educação Física e esporte da universidade de São Paulo (eeFe-uSP)** Fisioterapeutas graduados pela Fmu – São Paulo – SP
Resumo
Introdução: Alterações cognitivas e/ou motoras na realiza-ção de dupla tarefa podem ser um importante indicador do estado funcional em que se encontra um paciente durante o período de reabilitação. Porém, não há indícios concretos do impacto da natureza da dupla tarefa (demanda cognitiva ou motora) em pacientes com lesões cerebrais vasculares. Objetivo: Investigar a interferência motora-cognitiva em pa-cientes hemiparéticos após Acidente Vascular Encefálico (AVE) com realização de tarefas duplas. Métodos: Foram selecionados 12 pacientes com diagnóstico de AVE, de am-bos os gêneros, entre 40 e 65 anos, e marcha indepen-dente. As tarefas consistiam de 4 testes que envolvem as seguintes atividades: marcha simples, marcha com deman-da cognitiva, marcha com demanda efetora e marcha com demanda combinada (cognitivo-motora), avaliando-se ve-locidade e número de passos, durante um percurso de 10 metros. Resultados: Verificou-se que o desempenho nas 4 tarefas propostas, relacionadas tanto ao número de passos quanto à velocidade média, apresentou-se comprometido no grupo experimental (GE) quando comparado ao grupo controle (GC), sendo que a dupla-tarefa que associou de-manda cognitiva e motora impactou ainda mais sobre o GE de forma negativa, em ambos os parâmetros avaliados. Não houve diferença no desempenho de pacientes com lesão encefálica à direita e esquerda, nesta amostra. Conclusão: A realização de dupla-tarefa para o paciente com lesão ence-fálica encontra-se comprometida, sendo que as tarefas que associam caráter cognitivo e motor repercutem em pior desempenho.
DescRitoRes: Fisioterapia • Marcha • Acidente Cerebrovas-cular • Reabilitação • Paresia
ABstRAct
Introduction: Cognitive and/or motor modification in per-formance of dual task could be an important indicator of functional situation of a patient during the rehabilitation period. However there is no concrete evidence from the impact of the sort of dual task (cognitive or motor demand) in patients with cerebrovascular injuries. Purpose: Investiga-ting the motor-cognitive interference in stroke hemiparetic patients during the performance of dual tasks. Method: 12 patients with the diagnosis of stroke were selected, both gender, age between 40 and 65 years old and indepen-dent gait. The tasks consisted of 4 tests which included the following activities: simple gait, gait with cognitive demand, gait with effecter demand and gait with combined demand (cognitive-motor demand), assessing gait speed and number of steps, during a route of 10 meters. Results: It was verified that the performance in the four suggested tasks, related to the numbers of steps as well as to the gait speed, was damaged in experimental group (EG) when compared to control group (CG), once dual task that associated cognitive and motor demand caused impact in EG in a very negative way in both assessed parameters. There was no differen-ce in performance of patients with right or left cerebral dysfunction, in this sample. Conclusion: The performance of dual tasks for the stroke patient is damaged, and the tasks which associate cognitive and motor structure reverberate in a worse performance.
DescRiptoRs: Physical therapy • Gait • Stroke • Rehabilita-tion • Paresis
Relato de Pesquisa / ReseaRch RePoRtsfisioteRaPia
ISSN 2176-9095
Torriani-Pasin C, Lin K, Arjona M, Silva PY, Lima RZ. Efeitos da dupla tarefa na marcha de pacientes hemiparéticos. São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 128-35
129
Relato de Pesquisa/ReseaRch RePoRtsfisioteRaPia
ISSN 2176-9095
INtroduçãoo Acidente Vascular encefálico (AVe) é definido
pela organização mundial de Saúde como uma síndro-me de rápido desenvolvimento, com sinais clínicos de perturbação focal ou global da função cerebral, com mais de 24 horas de duração, podendo levar ao óbito, sendo de suposta origem vascular (Wolfe1, 2000).
os sinais e sintomas do AVe variam de acordo com a localização e a extensão da hemorragia ou is-quemia, podendo haver hemiplegia completa contra-lateral com alteração da fala, diminuição da sensibili-dade e desvio conjugado dos olhos, déficit sensitivo, sobreposto ao déficit motor contralateral, vertigens, desequilíbrio, afasia, alterações cognitivas, perceptu-ais e/ou alterações visuais (Chaves2 2000).
Nesse contexto, cabe afirmar que, após uma lesão cerebral, alguns indivíduos podem apresentar dificul-dades na realização de habilidades motoras e cogniti-vas, bem como para a aquisição de novas habilidades (Caldas3 2000). essa dificuldade deve-se, em grande parte, à alteração na capacidade de aprendizagem, relacionada por muitas vezes com a topografia lesio-nal do AVe em território de artéria cerebral medial e anterior (bond e morris4 2000).
Nesse contexto, já que a capacidade de aprendi-zagem motora pode estar afetada após o AVe, uma das habilidades que, por conseqüência, também pode estar comprometida é a capacidade de desempenhar atividades combinadas, também denominadas de du-pla tarefa.
A dupla-tarefa é um método que tem sido utiliza-do para determinar a demanda atencional de tarefas particulares, sendo que seu desempenho, conhecido como desempenho simultâneo, envolve a execução de uma tarefa primária, que é o foco principal de atenção, e uma tarefa secundária, executada conco-mitantemente (Teixeira e Alouche5 2007). Segundo bond e morris4 (2000), no paciente neurológico essa capacidade de realização de dupla-tarefa encontra-se prejudicada.
Para Schmidt e Wrisberg6 (2001), a capacidade de atenção no ser humano, além de ser limitada, apre-senta-se de forma seriada em relação à natureza da tarefa executada, pois normalmente focaliza-se pri-meiro a atenção em uma atividade para depois haver possibilidade de direcionar atenção para duas tarefas ao mesmo tempo. Sendo assim, parece ser uma tarefa muito complexa tentar processar qualquer combina-
ção dessas modalidades de informação, simultanea-mente.
Segundo Teixeira e Alouche5 (2007), em circuns-tâncias normais, a realização concomitante de tarefas motoras e cognitivas é comum e, nessas situações, as atividades motoras são desempenhadas automatica-mente, ou seja, não requerem recursos atencionais conscientes. esse estágio autônomo do desempenho de uma habilidade motora é alcançado a partir de um processo de aprendizagem motora no qual a prática e sua variabilidade levam à formação de programas de ação que permitem aumentar o repertório funcional do ser humano.
essa capacidade funcional encontra-se extrema-mente limitada em sujeitos pós-AVe, limitando a ha-bilidade de realizar atividades funcionais como andar e autocuidar-se (Horváth et al.7 2001). A habilidade de andar é um fator primordial para determinar se o paciente irá retornar à fase anterior de produtividade após o AVe (Von Schroeder et al.8 1995).
Para Shumway-Cook e Woollacott9 (2003), du-rante a marcha, ao percorrer um ambiente complexo ou cheio de objetos, informações sensoriais são so-licitadas para ajudar no controle e na adaptação do andar. Nesse sentido, o comportamento locomotor inclui também a capacidade de iniciar e terminar a locomoção, ajustar e adaptar o andar de maneira a evitar obstáculos e alterar a velocidade e a direção de acordo com o ambiente. Além dessa demanda, a marcha geralmente contextualiza-se como tarefa pri-mária, já que quando se analisa o andar nas atividades diárias, este sempre está associado a uma tarefa se-cundária, como falar, carregar objetos ou associado a processos mentais internos. esse acoplamento de tarefa primária e secundária é aprendido e adquirido ao longo da vida com a prática e a experiência (bond e morris4 2000).
Durante o processo de aquisição de uma habilida-de motora, o córtex é totalmente exigido enquanto o processo de aquisição consolida-se. Após a auto-matização, os movimentos passam a ocorrer na área subcortical (núcleos da base, cerebelo e tálamo) dei-xando a área cortical livre para processar informa-ções mais complexas. ou seja, a automatização torna possível a execução de duplas tarefas (bond e morris4 2000).
Caso haja um prejuízo do desempenho da tarefa primária na execução da dupla tarefa, pode-se afir-
Torriani-Pasin C, Lin K, Arjona M, Silva PY, Lima RZ. Efeitos da dupla tarefa na marcha de pacientes hemiparéticos. São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 128-35
130
Relato de Pesquisa/ReseaRch RePoRtsfisioteRaPia
ISSN 2176-9095
mar que não há automatização desta tarefa primá-ria, e essa piora no desempenho é denominado de consequência da atividade dupla (Teixeira e Alouche5 2007). esse prejuízo na tarefa primária e/ou na tarefa secundária ocorre porque as duas tarefas competem por demandas similares para o seu processamento.
Sabendo-se do papel fundamental da ativação da área motora suplementar (mAS) e do córtex motor primário (CmP) durante a execução de um ato motor, bem como da necessidade da área frontal do cérebro para viabilizar a construção e execução de uma ação, supõe-se que, para viabilizar o desempenho de uma tarefa com demanda motora e cognitiva haverá acio-namento e maior conexão cerebral entre essas áreas e as demais, fato este que pode tornar-se prejudicado após uma lesão encefálica (Camicioli et al.10 1998).
Segundo Yang et al.11 (2007), para os indivíduos com alguma lesão neurológica o ato de realizar duas tarefas diferentes simultaneamente ocasiona pior de-sempenho após um AVe, quando comparado com idosos saudáveis e, ainda, quando indivíduos com AVe realizam alguma tarefa cognitiva simultaneamente com a marcha, ocorre um decréscimo na velocidade, bem como maior desequilíbrio durante a marcha.
Nesse contexto, a literatura não apresenta indícios concretos da repercussão de tarefas com demandas motoras e cognitivas associadas em pacientes com le-são cerebral após um AVe.
Assim, o objetivo deste estudo é investigar os efeitos da realização de dupla tarefa com demandas cognitivas, motoras e/ou cognitivo-motoras durante a macha em paciente pós-AVe.
MétodoSA. localo estudo foi realizado na clínica de fisioterapia do
Centro universitário Fmu, local onde os pacientes foram selecionados.
b. CasuísticaForam selecionados para o grupo experimental
(Ge) 12 pacientes com idade entre 40 a 65 anos, com história de lesão encefálica unilateral, único episódio de AVe, que possuíam o diagnóstico funcional de he-miparesia e lesão em território de artéria cerebral média ou anterior, apresentando marcha indepen-dente sem uso de auxílio externo, com pontuação no mini exame do estado mental superior a 23 pon-
tos, com capacidade cognitiva para realizar as tare-fas a serem analisadas e que não possuíam alterações músculo-esqueléticas, reumatológicas e cardiorrespi-ratórias. o grupo controle (GC) constituiu-se de 12 sujeitos saudáveis com idade entre 40 e 65 anos.
os pacientes que apresentaram marcha dependen-te de recursos externos e alterações cognitivas que comprometessem a compreensão dos testes propos-tos fizeram parte do grupo de exclusão.
o estudo foi aprovado pelo Comitê Ético Interno da Instituição, e foram respeitados os aspectos éticos concernentes à resolução de nº 196 de 10 de outu-bro de 1996, que delimita diretrizes e normas regula-mentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. A coleta de dados iniciou-se após assinatura de termo de Consentimento livre e esclarecido, contendo ex-plicações detalhadas sobre o estudo e sua finalidade.
C. materiaisDurante o procedimento foram utilizados os se-
guintes materiais: calculadora convencional, um aven-tal com bolsos bilaterais, uma bola de pingue-pongue e um pedômetro Tech line.
D. DelineamentoApós a seleção dos sujeitos foi realizada a avaliação
da velocidade da marcha de forma auto-selecionada em uma passarela de 10 metros, sem nenhuma tare-fa concorrente, por três vezes consecutivas, a fim de garantir uma média dos valores (Tarefa 1). o método de avaliação foi utilizar a velocidade como uma medida isolada do andar funcional, uma vez que ela é simples, rápida, composta das variáveis temporoespaciais, sen-do a avaliação primordial para a análise da marcha hu-mana (Horváth et al.7 2001; Titianova et al.12 2005). essa mensuração da velocidade de andar auto-selecionada pelo paciente, independentemente do tipo de super-fície, é fundamental, pois representa uma pontuação acumulativa da qualidade da confiança e da capacidade exibidas pelo paciente durante o andar.
Sequencialmente foi avaliada a marcha no mesmo espaço de 10 metros com a atividade concorrente de demanda cognitiva por três vezes consecutivas, a fim de garantir uma média dos valores (Tarefa 2), na qual o paciente deveria memorizar uma sequência de 5 números por 1 minuto e repeti-la verbalmente, en-quanto realizava a marcha.
Após essa etapa, avaliou-se a marcha com a ati-vidade concorrente de demanda motora por três
Torriani-Pasin C, Lin K, Arjona M, Silva PY, Lima RZ. Efeitos da dupla tarefa na marcha de pacientes hemiparéticos. São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 128-35
131
Relato de Pesquisa/ReseaRch RePoRtsfisioteRaPia
ISSN 2176-9095
vezes consecutivas, a fim de garantir uma média dos valores (Tarefa 3). Para isso, enquanto o paciente re-alizava a marcha de 10 metros, devia pegar uma bola de pingue-pongue situada em um bolso, sendo que havia bolsos bilateralmente, e transferi-la para o ou-tro. Por fim, foi avaliada a atividade concorrente de demandas cognitivas e motoras associadas, por três vezes consecutivas, a fim de garantir uma média dos valores, na qual o paciente, durante a marcha, devia repetir verbalmente a mesma sequência numérica vis-ta anteriormente e ao mesmo tempo digitá-la em uma calculadora (Tarefa 4).
As 4 tarefas foram realizadas aleatoriamente de forma que suas execuções eram ordenadas diferen-temente para cada sujeito. os dados foram avaliados por meio das seguintes medidas quantitativas: veloci-dade e número de passos nas quatro situações avalia-das, tanto na avaliação do GC quanto no Ge.
e. Análise estatística
A análise estatística foi realizada com base nos Sof-twares: SPSS V11.5, minitab 14 e excel XP.
Para a análise, foram utilizados os testes de mann-Whitney e Igualdade de Duas Proporções. Por fim, na complementação da análise descritiva, fez-se uso da técnica de Intervalo de Confiança para a média. A análise dos dados contemplou avaliação intergrupo (Grupos: GC x Ge em cada tarefa) e intragrupo (GC e Ge nas quatro tarefas)
Foi definido para este trabalho um nível de signifi-cância de 0,05 (5%) e todos os intervalos de confiança foram construídos com 95% de confiança estatística.
ressalta-se que foram utilizados testes e técnicas estatísticas não paramétricas, porque as condições para a utilização como a normalidade e homogenei-dade das variâncias não foram encontradas neste con-junto de dados.
Nº Passos média medianaDesvio Padrão
CV Tamanho p-valor
Tarefa 1. marchaGC 12,75 12 2,18 17,1% 12
<0,001*GE 27,17 23,5 9,20 33,9% 12
Tarefa 2. marcha com Demanda Cognitiva
GC 12,50 12 2,68 21,4% 12<0,001*
GE 28,00 23,5 9,69 34,6% 12
Tarefa 3. marcha com Demanda motora
GC 13,67 14 2,15 15,7% 12<0,001*
GE 33,50 26,5 16,70 49,8% 12
Tarefa 4. marcha com Demanda Cognitivo-motora
GC 13,50 12,5 3,15 23,3% 12<0,001*
GE 35,50 29,5 17,21 48,5% 12
Tabela 1 - Dados relativos ao número de passos nas 4 tarefas para GC e GE.
legenda: CV: coeficiente de variação; GC: grupo controle; Ge: grupo experimental
Velocidade de marcha média medianaDesvio Padrão
CV Tamanho p-valor
Tarefa 1. marchaGC 1,30 1,25 0,12 9,2% 12
<0,001GE 0,61 0,64 0,26 42,4% 12
Tarefa 2. marcha com Demanda Cognitiva
GC 1,05 1,06 0,19 17,9% 12<0,001
GE 0,59 0,66 0,22 38,1% 12
Tarefa 3. marcha com Demanda motora
GC 1,04 1,00 0,19 18,2% 12<0,001
GE 0,50 0,55 0,23 46,5% 12
Tarefa 4. marcha com Demanda Cognitivo-motora
GC 0,97 1,00 0,15 15,9% 12<0,001
GE 0,41 0,46 0,23 55,6% 12
Tabela 2 - Dados relativos à velocidade média nas 4 tarefas para GC e GE.
legenda: CV: coeficiente de variação; GC: grupo-controle; Ge: grupo experimental
Torriani-Pasin C, Lin K, Arjona M, Silva PY, Lima RZ. Efeitos da dupla tarefa na marcha de pacientes hemiparéticos. São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 128-35
132
Relato de Pesquisa/ReseaRch RePoRtsfisioteRaPia
ISSN 2176-9095
reSuLtAdoSNa Tabela 1 apresenta-se a análise intergrupo, re-
ferente à comparação do GC e Ge, quanto ao de-sempenho durante as 4 tarefas relacionadas à variável número de passos.
A seguir, na Tabela 2, apresenta-se a comparação entre o GC e Ge no que se refere à variável velo-cidade média de marcha durante as execução das 4 tarefas.
Nota-se que existe diferença estatisticamente sig-nificante (p<0,001) entre o GC e Ge tanto para o número de passos quanto para a velocidade média de
Gráfico 1. Valores de média do número de passos realizados pelo GC e Ge nas 4 tarefas testadas.
marcha durante a execução das 4 tarefas.A seguir, ilustra-se a análise intragrupo para cada
variável mensurada.Analisando o Gráfico 1, considerando-se que
quanto menor o número de passos melhor a execu-ção da tarefa realizada, pode-se observar que no GC as tarefas de melhor desempenho foram as da marcha (Tarefa 1) e a de marcha com demanda cognitiva (Ta-refa 2), seguidas da tarefa cognitivo-motora (Tarefa 4) e por último a com demanda motora (Tarefa 3). No Ge, a ordem relativa ao melhor desempenho foi a de marcha (Tarefa 1) e marcha com demanda cognitiva
Gráfico 2. Valores de média da velocidade média realizados pelo GC e GE nas 4 tarefas testadas.
Torriani-Pasin C, Lin K, Arjona M, Silva PY, Lima RZ. Efeitos da dupla tarefa na marcha de pacientes hemiparéticos. São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 128-35
133
Relato de Pesquisa/ReseaRch RePoRtsfisioteRaPia
ISSN 2176-9095
(Tarefa 2), seguidas pela marcha com demanda moto-ra (Tarefa 3) e, por último, com a demanda cognitivo-motora (Tarefa 4), apresentando pior valor.
Considerando-se que quanto maior a velocidade média melhor a realização da tarefa (Von Schroeder et al.8, 1995), no Gráfico 2 pode-se notar que para o GC a melhor performance ocorre na tarefa de marcha (Tarefa 1), seguida pela marcha com deman-da cognitiva (Tarefa 2), e por último com demanda motora (Tarefa 3) e cognitivo-motora (Tarefa 4), que apresentaram mesmo valor. No Ge, a tarefa com de-manda cognitiva (Tarefa 2) apresentou melhor resul-tado, seguido pela tarefa apenas de marcha (Tarefa 1), pela marcha com demanda motora (Tarefa 3) e por último pela marcha com demanda cognitivo-motora (Tarefa 4).
em relação à comparação entre as 4 tarefas no GC (Gráfico 1, 2) observou-se que o fato de desem-penhar dupla tarefa, tanto de caráter cognitivo quan-to motor impactou de forma pouco significativa em relação ao número de passos, porém, em relação à velocidade nota-se que a realização de tarefa concor-rente impactou de forma mais significativa.
Já no Ge pode-se notar que o desempenho men-surado por meio da velocidade nas 4 tarefas apre-sentou-se de modo semelhante tanto para o número de passos quanto para a velocidade. Portanto, assim como nos sujeitos-controle, os pacientes hemiparé-ticos apresentam pior desempenho durante a com-binação de tarefa com demandas cognitivo-motoras associadas.
realizou-se uma análise comparativa dos resulta-dos de cada tarefa considerando-se o lado da lesão encefálica (5 pacientes lesão à direita e 5 à esquerda). em ambos os parâmetros de marcha avaliados, não houve diferença estatisticamente significante entre o desempenho de pacientes com lesão no hemisfério direito e esquerdo em nenhuma das 4 tarefas testa-das, e obteve-se o mesmo resultado quando compa-rados os gêneros masculino e feminino (8 e 4 sujeitos, respectivamente).
dISCuSSãoo alvo deste estudo é investigar os efeitos da dupla
tarefa com demanda cognitiva e motora no desempe-nho da marcha de pacientes hemiparéticos pós-AVe.
Nota-se, neste estudo, que, em relação à veloci-dade média e ao número de passos, todas as tarefas
apresentaram diferença estatisticamente significante, sendo que o GC apresentou maior velocidade média e menor número de passos quando comparado com o Ge. Durante a realização da dupla tarefa, ambos os grupos apresentaram desempenho prejudicado.
Nesse contexto, para Titianova et al.12 (2005), a velocidade da marcha afeta parâmetros espaciais e temporais tanto em sujeitos saudáveis quanto em pa-cientes, sugerindo que o déficit da marcha poderia ser detectado e observado em relação a essa medida. Portanto, pode-se indicar que o Ge apresentou uma marcha mais comprometida, ou seja, houve deterio-ração da tarefa primária quando acoplada a tarefas secundárias, em relação ao GC.
Segundo Camicioli et al.10 (1998), indivíduos saudá-veis apresentam dificuldades ao realizar a dupla tarefa durante a marcha no que se refere à quantidade de passos, mas, quando comparados a pacientes neuro-lógicos, esse prejuízo é muito menor, o que corrobo-ra os resultados encontrados.
No presente estudo, os pacientes hemiparéticos pós-AVe, não apresentaram disponibilidade total para realizar uma segunda tarefa concomitante à marcha, já que a tarefa central, no caso a marcha, mesmo sen-do uma habilidade extremamente praticada antes do evento vascular e inerente ao ser humano, ainda de-manda muita atenção de tais pacientes, não favore-cendo a disponibilidade de atenção necessária para a combinação de uma segunda tarefa.
Com respeito a lesões neurológicas, o´Shea et al.13 (2002) relatam que pacientes com doença de Parkin-son apresentam menor número de passos e menor velocidade quando executam dupla tarefa, fato este que também pode ser verificado no presente estudo com a população AVe. Assim, apesar da topografia le-sional ser distinta em pacientes hemiparéticos e com Parkinson, pode-se notar que tais comprometimen-tos neurológicos incapacitam a habilidade de realizar tarefas concorrentes, justificando-se algumas incapa-cidades funcionais apresentadas pelos mesmos.
Voelcker-rehage et al.14 (2006) realizaram um tra-balho e encontraram pouca diferença no desempenho entre idosos e jovens saudáveis, quando executaram isoladamente tarefas cognitivas e motoras, porém, quando, associadas em dupla tarefa, apresentaram grandes diferenças, sendo os idosos mais prejudica-dos na execução de tarefas concomitantes.
Neste estudo, o Ge apresentou diferenças estatis-
Torriani-Pasin C, Lin K, Arjona M, Silva PY, Lima RZ. Efeitos da dupla tarefa na marcha de pacientes hemiparéticos. São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 128-35
134
Relato de Pesquisa/ReseaRch RePoRtsfisioteRaPia
ISSN 2176-9095
ticamente significantes em relação ao GC, indepen-dentemente se em única tarefa ou dupla tarefa. Com isso, verifica-se que, além do fator idade, a lesão en-cefálica provavelmente agrava ainda mais a execução de dupla tarefa. Além disso, de forma semelhante aos achados de Voelcker-rehage et al.14 (2006), no pre-sente estudo o GC também apresentou desempenho inferior ao realizar dupla tarefa.
Segundo Cockburn et al.15 (2003), os efeitos da interferência cognitivo-motora são mais evidentes durante a marcha do que na performance cognitiva, sendo que as atividades de vida diárias incorporam componentes tanto motores quanto cognitivos, fican-do praticamente impossível distingui-los. esse fato sa-lienta a necessidade de comparação do desempenho de tais pacientes em tarefas com demandas predo-minantemente cognitivas, motoras e cognitivo-moto-ras.
em um estudo realizado por roerdink et al.16 (2006), verificou-se que pacientes pós-AVe, quando executam tarefa cognitiva, apresentam deterioração do controle postural (mensurado pelo deslocamento do centro de gravidade), diminuindo a estabilidade lo-cal. Além disso, a realização de dupla tarefa faz com que os pacientes aumentem a dimensão do seu centro de gravidade, prejudicando, também, o desempenho de tarefas cognitivas e do controle postural.
Segundo Yang et al.11 (2007), as habilidades de an-dar e executar dupla tarefa são muito importantes para os programas de reabilitação, pois fazem parte de muitas atividades da vida diária. Assim, faz-se ne-cessária a avaliação do desempenho de dupla tarefa em pacientes neurológicos para que tais habilidades possam ser mensuradas, treinadas e novamente men-suradas, visando determinar a capacidade de aprendi-zagem de dupla tarefa e a efetividade do programa de fisioterapia na reinserção social dos pacientes.
Para o Ge, a tarefa que propiciou desempenho pior
foi a com demanda cognitivo-motora, que, segundo Cockburn et al.15 (2003), demanda maior acionamen-to e conexão cerebral, aumentando a complexidade da tarefa, sendo os efeitos da tarefa concorrente mais evidentes. essa pode ser a razão pela qual a tarefa cognitivo-motora foi a que mais apresentou-se pre-judicada no Ge.
Já para o GC, a tarefa de pior desempenho foi com demanda motora, o que pode estar relacionado ao fato de a tarefa não apresentar nenhum desafio e ser menos interessante aos indivíduos, o que pode ter resultado em um desempenho inferior quando com-parado com as outras tarefas.
Por meio da análise dos resultados do presente estudo, pode-se observar que o desempenho de du-pla tarefa com demanda cognitiva, quando comparada com demanda motora e/ou demanda cognitivo-moto-ra, apresentou menor significância devido ao fato de os indivíduos selecionados não apresentarem déficit cognitivo ou também por não haver uma dificuldade acentuada na tarefa cognitiva apresentada. Sendo as-sim, sugere-se que, para os próximos estudos, sejam investigadas tarefas com demandas e níveis de com-plexidade diferentes para avaliar se realmente essa é a tarefa com menor dificuldade quando comparada com outras tarefas concorrentes.
CoNCLuSãoConclui-se que a realização de dupla tarefa para o
paciente com lesão encefálica encontra-se compro-metida, e as tarefas que associam caráter cognitivo e motor contribuem para um pior desempenho na marcha desses pacientes.
A realização da dupla tarefa encontra-se compro-metida no Ge para número de passos e velocidade, ou seja, há impacto negativo da associação de tarefa cognitiva com a marcha.
Torriani-Pasin C, Lin K, Arjona M, Silva PY, Lima RZ. Efeitos da dupla tarefa na marcha de pacientes hemiparéticos. São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 128-35
135
Relato de Pesquisa/ReseaRch RePoRtsfisioteRaPia
ISSN 2176-9095
RefeRênciAs
1. Wolfe CD. The impact of stroke. br med bull. 2000;56(2):275-86.
2. Chaves, mlF. Acidente vascular encefálico: conceituação e fatores de risco. rev bras Hipertens. 2000 out-dez; 7(4): 372-82.
3. Caldas AC. A herança de Franz Joseph Galh: o cérebro ao serviço do comportamento humano. Portugal: me Graw – Hill; 2000.
4. bond Jm, morris m. Goal-directed secondary motor tasks: their effects on gait in sub-jects with Parkinson’s disease. Arch Phys med rehabil. 2000 Jan; 81(1):110-6.
5. Teixeira Nb, Alouche Sr. o desempenho da dupla tarefa na doença de Parkinson. Rev bras Fisioter 2007 amr-abr, 11(2): 127-32.
6. Schmidt rA, Wrisberg CA. Aprendizagem e performance motora: uma abordagem da aprendizagem baseada no problema. editora Artmed, 2 ed. Porto alegre: Artmed 2001.
7. Horváth m, Tihanyl T, Tihanyl J. Kinematic and Kinetic analyses of gait patterns in he-miplegic patients. Phys educ Sport 2001; 1 (8): 25-35.
8. Von Schroeder HP, Coutts rD, lyden PD, billings e, Nickel Vl. Gait parameters follo-wing stroke: a practical assessment. J rehabil res Dev 1995 Feb; 32(1): 25-31.
9. Shumway–Cook A, Woollacott mH. Controle motor: teoria e aplicações práticas. São Paulo: manole, 2003.
10. Camicioli rm, oken bS, Sexton G, Kaye JA, Nutt JG. Verbal Fluency Task Affects Gait in Parkinson`s Disease With motor Freezing. J Geriatr Psychiatry Neurol. 1998; 11(4): 181-5.
11. Yang Yr, Chen YC, lee CS, Cheng SJ, Wang rY. Dual-task-related gait changes in individuals with stroke. Gait and Posture. 2007 Feb, 25(2): 185-90.
12. Titianova eb, mateev PS, Peurala SH, Sivenius J, Tarkka Im. Footprint peak time and functional ambulation profile reflect the potential for hemiparetic gait recovery. brain Inj. 2005 Aug 10; 19(8): 623-31.
13. o´Shea S, morris me, Iansek r. Dual task interference during gait in people witch pa-rkinson disease: effects of motor versus cognitive secundary tasks. Physic Ther. 2002 Sep, 82 (9): 888, 897.
14. Voelcker-rehage C; Stronge AJ, Alberts Jl. Age-related differences in working me-mory and force control under dual-task conditions. Neuropsychol Dev Cogn b Aging Neuropsycol Cogn. 2006 Sep-Dec; 13 (3-4): 366-84.
15. Cockburn J, Haggard P, Cock J, Fordham C. Changing patterns of cognitive-motor interference (CmI) over time during recovery from stroke. Clin rehabil. 2003 mar; 17(2): 167-73.
16. roerdink m, De Haart m, Daffershofer A, Donker SF, Geurts AC, beek PJ. Dynamical structure of center-of-pressure trajectories in patients recovering from stroke. exp brain res. 2006 Sep; 174(2): 256-69.
ISSN 2176-9095
136
Science in Health 2010 set-dez; 1(3): 136-44
lIDerANÇA: umA relAÇÃo eNTre PreDISPoSIÇÃo bIolóGICA, INTelIGÊNCIA emoCIoNAl e DIFereNCIAÇÃo SeXuAl.
lEADERsHIP: A RElATIONsHIP AMONG bIOlOGICAl PREDIsPOsITION, EMOTIONAl INTEllIGENCE AND sExUAl DIFFERENTIATION.
Camila Paschoal Bezerra*
Wilson emanuel Fernandes dos Santos**
** Administradora pela universidade Cidade de São Paulo (uNICID), atua na Ibm brasil - GTS om&D Team..** Docente do curso de Administração da uNICID, Administrador e Sociólogo pela universidade de São Paulo (uSP), possui mestrado Profissional (mbA)
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e especialização em Gestão bancária pela uNICID, atualmente é mestrando no Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, letras e Ciências Humanas da universidade de São Paulo (uSP) e desenvolve pesquisas na área de Gestão de Pessoas, especial-mente relacionadas às características do trabalho nas organizações contemporâneas.
coMunicação cuRta/shoRt coMMunicationadMinistRação
Resumo
O presente artigo tem por objetivo evidenciar a relação existente entre a predisposição biológica para o desenvolvi-mento das habilidades relacionadas à “inteligência emocio-nal” e os componentes envolvidos na caracterização com-portamental da liderança, com a finalidade de demonstrar que, em se tratando de aspectos biológicos como uma das variáveis que interferem diretamente na criação dessas habi-lidades, o sexo feminino apresenta características cerebrais anatômicas, morfológicas e neurais que permitem uma efi-caz articulação da liderança através de seus componentes. A pesquisa foi realizada nas fronteiras interdisciplinares da Ad-ministração e da Psicologia, por meio de pesquisa bibliográ-fica baseada tanto em artigos científicos, revistas científicas e periódicos reconhecidos e validados em sua devida área de atuação, como em pesquisas previamente divulgadas, procurando-se estabelecer conexões claras entre o geren-ciamento dos componentes comportamentais e as habilida-des do cérebro e, posteriormente, a configuração de perfil de liderança. Com base no evidenciamento e caracteriza-ção desses componentes e habilidades e de sua associação com a configuração ao perfil de liderança estabelecido, po-derá ser observado como resultado a constatação de que, sendo a inteligência um potencial biopsicológico, flexível e inicialmente influenciado por características anatômicas, morfológicas e neurais, podemos identificar relações entre a predisposição de qualquer indivíduo do sexo feminino e o desenvolvimento de características específicas e decisivas para o surgimento de habilidades envolvidas na construção da liderança. Compreender os aspectos relacionados à li-derança permite maior clareza quanto às possibilidades de gerenciamento e definição de objetivos e trajetórias por parte das corporações, bem como um melhor e mais coeso gerenciamento de suas equipes.
DescRitoRes: Liderança • Inteligência emocional • Diferen-ciação sexual.
ABstRAct
The present article has for objective to evidence the ex-istent relationship among the biological predisposition for the development of the abilities related to the “emotional intelligence” and the components involved in the behav-ior characterization of the leadership, with the purpose of demonstrating that, in if treating of biological aspects as one of the variables that they interfere directly in the creation of those abilities, the feminine sex presents anatomical, mor-phologic cerebral and neural characteristics that allow an effective articulation of the leadership through your com-ponents. The research was accomplished in the borders of the Administration and of the Psychology, through biblio-graphical research based so much on scientific goods, scien-tific magazines and recognized newspapers and validated in your owed area of performance, as in researches previously published, trying to settle down clear connections between the administration of the behavior components and the abilities of the brain and, later, the configuration of leader-ship profile. With base in the evidence and characterization of those components and abilities and of your association with the configuration to the established leadership profile, it can be observed as result the verification that, being the intelligence a biological and psychological potential, flexible and initially influenced by characteristics anatomical, mor-phologic and neural, we can identify relationships among the predisposition of any individual of the feminine sex and the development of specific and decisive characteristics for the appearance of abilities involved in the construction of the leadership. To understand the aspects related to the leadership allows larger clarity with relationship to the ad-ministration possibilities and definition of objectives and paths on the part of the corporations, as well as a best and more united administration of your teams.
KeywoRDs: Leadership • Emotional intelligence • Sexual dif-ferentiation.
ISSN 2176-9095
Bezerra CP, Santos WEF. Liderança: Uma relação entre predisposição biológica, inteligência emocional e diferenciação sexual.São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 136-44
137
coMunicação cuRta/shoRt coMMunicationadMinistRação
ISSN 2176-9095
1. INtroduçãoAs considerações aqui propostas são baseadas no
conceito da liderança de acordo com a Ciência da Administração. o contexto deste artigo apresenta as relações existentes entre as habilidades presentes para que uma liderança efetivamente ocorra tanto para o sucesso do funcionário como para o êxito das equipes e da organização em questão.
A partir disso, procura-se estabelecer a relação entre a predisposição biológica e a conseguinte pos-sibilidade de desenvolvimento das características que definem o que é liderança. estudos relacionados à dife-renciação sexual (ou seja, as diferentes características anatômicas, morfológicas e funcionais que ocorrem entre homens e mulheres devido à sua constituição biológica) também são fontes para a construção des-te artigo. Tais diferenças se encontram nos mais va-riados órgãos e tecidos do corpo humano, definindo diferenças básicas entre os sexos. Justamente pelo fato de que a diferenciação sexual ocorre em todos os tecidos do corpo humano, é vital entendermos o funcionamento do cérebro feminino e como este gerencia as habilidades cognitivas que irão definir e compor a liderança.
As habilidades cognitivas demonstradas neste ar-tigo são as habilidades definidas como inteligência emocional e seu entendimento é também de funda-mental importância para a construção e compreensão deste artigo.
mais do que isso, compreender os aspectos rela-cionados à liderança é também conhecer e entender o comportamento humano e, dessa forma, propiciar a utilização dessas informações, tanto no desenvolvi-mento do potencial humano nas organizações como do delineamento de estratégias organizacionais.
2. MétodoSDesenvolve-se a pesquisa pelo método analítico,
iniciando-se pela definição conceitual geral dos ter-mos fundamentais dos elementos discutidos (a lide-rança, o comportamento abordado pela inteligência emocional e a predisposição biológica do cérebro feminino em relação ao comportamento de lideran-ça em questão), seguida pelo desenvolvimento da compreensão do conteúdo de cada componente que caracteriza tais elementos. Por fim, estabelece-se a relação entre esses elementos a partir de seus com-ponentes caracterizadores.
A pesquisa foi fundamentada em investigação teó-rica e de resultados empíricos de pesquisas já publi-cadas, a partir de bibliografia e artigos científicos em periódicos especializados e reconhecidos internacio-nalmente.
3. reSuLtAdoS3.1 A lIDerANÇA e SeuS ComPoNeNTeS“As pessoas são capazes de realizar feitos incrí-
veis. mas é preciso saber conduzi-las e estimulá-las por meio da liderança e da motivação” (chiavenato, 2007, p. 172). Através dessa afirmação, Chiavenato, autor brasileiro na área de administração de empre-sas e recursos humanos, e o atual conselheiro no Conselho regional de Administração do estado de São Paulo (CrA-SP), descortina os caminhos rumo a um tema de importância vital para a continuidade das organizações e o desenvolvimento da gestão de pessoas: a liderança.
Foco de pesquisas no mundo todo, a compreensão da liderança é, para a visão da ciência da Administra-ção, simultaneamente a compreensão do comporta-mento dos indivíduos e da influência interpessoal sob a ótica das estratégias das organizações.
em se tratando do conceito de liderança, pode-mos afirmar que liderança é a influência interpessoal exercida numa situação e dirigida através do proces-so de comunicação humana à consecução de um de diversos objetivos específicos (chiavenato, 1983).
Seguindo essa mesma abordagem, temos que “li-derança é um relacionamento de influência de pen-samentos, crenças e comportamentos. É um rela-cionamento de visão, valores e responsabilidades compartilhadas” (drucker, 2004, p. 59). Também po-demos considerar que “a liderança é, antes de qual-quer coisa, a capacidade de inspirar as pessoas” (cor-tella; mussak, 2009, p. 15).
Considerando que a liderança é uma influência in-terpessoal, é fundamental também compreendermos o conceito de influência: “A influência é uma força psicológica, uma transação interpessoal na qual uma pessoa age de modo a modificar o comportamento de uma outra, de algum modo intencional” (chiavena-to, 1983, p. 126).
Para que a influência interpessoal característica da liderança efetivamente ocorra, é fundamental que o líder seja capaz de identificar os conflitos existentes em seu grupo ou time, compreendendo as necessida-
Bezerra CP, Santos WEF. Liderança: Uma relação entre predisposição biológica, inteligência emocional e diferenciação sexual.São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 136-44
138
coMunicação cuRta/shoRt coMMunicationadMinistRação
ISSN 2176-9095
des por eles apresentadas e assegurando a compreen-são dos objetivos do time, grupo ou da organização, por parte de todos.
essa capacidade do líder em influenciar pessoas e identificar antecipadamente conflitos em prol de um objetivo em comum requer significativa e corre-ta aplicação de habilidades, como o autocontrole e equilíbrio que, por sua vez, são pontos-chaves para a construção e solidificação da chamada estabilidade emocional: estabilidade emocional é associada em manter-se equilibrado sob pressão, estar apto para a resolução de conflitos e ser capaz de digerir feed-backs negativos, tudo para a promoção da eficácia do time (hogan et al., 1994). De fato, estabilidade emo-cional e compreensão de conflitos permitem que a organização esteja mais bem preparada para o alcance de seus objetivos.
o alcance de objetivos a partir da ação coletiva e sinergia de esforços é uma das evidências de que a interdependência entre os seres humanos é natu-ral para sua sobrevivência. Sendo o homem um ser eminentemente social, o estabelecimento de rela-ções sociais é uma necessidade básica e a liderança é um dos aspectos relacionados a essa convivência social. Por ser fruto de uma relação social, a liderança é fundamentalmente dirigida através do processo de comunicação. logo, a comunicação é de crucial im-portância para a construção e conseguinte efetividade da liderança.
o processo da comunicação no âmbito da lideran-ça também se manifesta como chave para a transmis-são e compreensão dos planos de uma organização. “um executivo eficaz se certifica de que todos enten-dam tanto seus planos de ação quanto a informação de que necessita” (drucker, 2004, p. 59).
Além disso, as relações humanas no ambiente das organizações configuram-se como um elemento fundamental para a solidificação de uma cultura de respeito entre os funcionários e de credibilidade nas equipes. essa atitude de respeito deve estar, portanto, presente de forma constante no ambiente corporati-vo e “deve basear-se no princípio do reconhecimento de que os seres humanos são entes possuidores de uma personalidade própria que merece ser respeita-da” (balcão; cordeiro, 1967, p. 38).
essa atitude de respeito para com os demais é ba-seada na compreensão de suas características e ne-cessidades peculiares e “implica uma compreensão
sadia de que toda pessoa traz consigo, em todas as situações, necessidades materiais, sociais ou psicoló-gicas, que procura satisfazer e que motivam e diri-gem o seu comportamento neste ou naquele sentido” (balcão; cordeiro, 1967, p. 38).
Isso significa dizer que o desenvolvimento de re-lações humanas é também dependente do fator de reconhecimento e compreensão do líder para com cada pessoa da sua rede social em seu time e na orga-nização da qual faz parte.
Considerando os pontos elucidados até o presen-te momento, a liderança é definida e caracterizada por um conjunto de 5 (cinco) componentes princi-pais: capacidade de influenciar pessoas; capacidade de motivar (inspirar) pessoas; capacidade de desenvolvi-mento de relações humanas (sadias e através de co-municação eficaz); equilíbrio (autodisciplina) e capa-cidade de manutenção de relacionamentos humanos previamente estabelecidos (através da antecipação e resolução de conflitos). esses cinco componentes extraídos do conceito de liderança, a partir da ciên-cia da Administração podem ser relacionados com os conceitos e componentes fundamentais da chamada “inteligência emocional”.
3.2 A INTelIGÊNCIA emoCIoNAl e SuA re-lAÇÃo Com A lIDerANÇA
Inicialmente definida em artigos publicados em 1990, pelos psicólogos Jack mayer da universidade de New Hapshire, e Peter Salovey da universidade de Yale, o termo “inteligência emocional” refere-se ao “conjunto de habilidades através das quais as pessoas lidam com suas próprias emoções e com as emoções dos outros” (salovey; mayer, 1990, p. 443).
o conceito de inteligência emocional foi populari-zado pelo psicólogo Daniel Goleman, em seus livros emotional Intelligence e Working With emotional Intelligence, entre outras publicações, em que ex-pande a noção de inteligência emocional para incluir um conjunto de habilidades não cognitivas. Goleman afirma e descreve os cinco principais componentes da inteligência emocional: autoconhecimento ou au-todisciplina, equilíbrio ou autoconsciência, motivação, empatia e habilidades sociais (goleman, 1998).
Para Goleman (1998), os cinco componentes da inteligência emocional podem ser separados em dois blocos principais, o bloco definido como “habilidades de autogerenciamento”, composto por autoconhe-
Bezerra CP, Santos WEF. Liderança: Uma relação entre predisposição biológica, inteligência emocional e diferenciação sexual.São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 136-44
139
coMunicação cuRta/shoRt coMMunicationadMinistRação
ISSN 2176-9095
cimento, equilíbrio e motivação, e o bloco definido como “a habilidade em se relacionar com os outros”, composto pelos dois últimos componentes: a empatia e habilidades sociais. As cinco habilidades são mostra-das na tabela abaixo:
Podemos observar que as habilidades definidas
uma inteligência que revela aspectos introspectivos de reflexão e autocompreensão manifestados na inter-pretação de sentimentos e emoções, relacionando-se a linguagens que servem de base para entender e exe-cutar comportamentos (brennand; vasconcelos, 2005, p. 19).
observando o trecho acima, é possível relacionar a capacidade de gerenciamento dessa habilidade com a interpretação de comportamentos humanos, fator fundamental para o sucesso de uma liderança eficaz. “Para constatá-la, é necessário examinar sua expres-sividade a partir da linguagem, da música ou de outra forma de expressão que torne possível a observação de sua manifestação” (gardner, 1987, p. 25). em se tratando de aspectos biológicos e do gerenciamento dessa habilidade pelo cérebro humano, o lobo frontal apresenta-se como responsável tanto pelo desenvol-vimento da habilidade em questão como responsável por seu gerenciamento saudável: “um dano na região dos lobos frontais provavelmente produz irritabilida-de ou euforia” (gardner, 1987, p. 25).
Gur et al. afirmam que:[...] diferenças sexuais em volumes regionais nos lobos frontais, em que as regiões orbitais frontais apresenta-ram-se relativamente mais largas em mulheres do que em homens.” esses pesquisadores afirmam ainda que, “de fato, volumes frontais reduzidos foram associados com distúrbios de personalidade antissocial (2002, p. 1000).
Tomando por base a afirmação de Gardner an-teriormente mencionada, bem como a pesquisa re-alizada pelos pesquisadores norteamericanos, po-demos observar que o funcionamento emocional e implicações comportamentais são processados nos lobos frontais no cérebro que, por sua vez, ao apresentar-se menor relaciona-se a distúrbios antis-sociais. levando-se em conta que esta região cere-bral é maior nas mulheres e que a compreensão de comportamentos está totalmente relacionada a essa região cerebral, podemos, portanto, afirmar que os aspectos biológicos cerebrais femininos ligados aos volumes regionais nos lobos frontais produzem uma predisposição para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à inteligência intrapessoal, fundamental para o desenvolvimento da autodisciplina, bem como para a caracterização da liderança.
Habilidades
Habilidade de autogerenciamento
Habilidades em se relacionar com os outros
Autoconhecimento (ou autoconsciência)
empatia
equilíbriohabilidades sociais
motivação
pela ciência da Administração como sendo essenciais para a caracterização da liderança, e as habilidades definidas pela Ciência da Psicologia (aqui representa-das por Goleman, Salovey e mayer), também como sendo necessárias para a composição da liderança, convergem.
3.3 o GereNCIAmeNTo DA INTelIGÊNCIA emoCIoNAl Pelo CÉrebro FemININo
uma vez analisado o conceito de liderança segundo a ciência da Administração, bem como as habilidades envolvidas para sua caracterização e sua associação com a inteligência emocional é fundamental a eviden-ciação da constituição de cada uma dessas cinco habi-lidades previamente mencionadas e o gerenciamento de cada uma delas pelo cérebro humano.
3.3.1 Autoconhecimento (autoconsciência)o Autoconhecimento ou autoconsciência é a
base ou pré-requisito para a existência da inteligência emocional: “A inteligência emocional parte desse pré-requisito. Pessoas que dispõem de alto nível de au-toconhecimento conhecem suas próprias fraquezas e não têm medo de falar sobre elas” (goleman, 1998).
Além de servir de base para o desenvolvimento das outras habilidades componentes da inteligência emocional, essa habilidade também é componente da inteligência intrapessoal.
o autoconhecimento é parte integrante da chamada inteligência intrapessoal. A inteligência intrapessoal é
Tabela I – blocos de habilidades da inteligência emocional.
Fonte: Goleman (1998)
Bezerra CP, Santos WEF. Liderança: Uma relação entre predisposição biológica, inteligência emocional e diferenciação sexual.São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 136-44
140
coMunicação cuRta/shoRt coMMunicationadMinistRação
ISSN 2176-9095
3.3.2 equilíbrio (autodisciplina)A inteligência relacionada ao equilíbrio considera
que os indivíduos possuidores dessa habilidade sejam capazes de “compreender as expectativas sociais en-volvidas em suas ações” (salovey; mayer, 1990, p. 443). Ainda segundo os pesquisadores norteamericanos, “a inteligência autorreguladora é de importância primá-ria para os indivíduos emocionalmente inteligentes. (…) é o controle de impulsos emocionais inaceitá-veis segundo a visão pública” (salovey; mayer, 1990, p. 443).
Gur et al. constataram que:Nós constatamos que as mulheres (…) apresentam vo-lume orbital aumentado com relação ao próprio volu-me da amígdala comparado ao de homens, suportando a hipótese de que as mulheres possuem maior volu-me de tecido disponível para a regulação de entrada da amígdala. essa descoberta possivelmente explica as diferenças relacionadas ao gênero no que diz respeito ao comportamento emocional, particularmente agres-sividade (2002, p. 999).
essa descoberta é extremamente importante quando estamos estudando os fatores relacionados às condições que possibilitam a predisposição biológi-ca para a liderança.
Gur et al. ainda constatam que:enquanto fatores ambientais e culturais certamente contribuem para a diferenciação sexual com relação à agressividade, a existência de tais diferenças neuroana-tômicas evidenciadas na estrutura cerebral relaciona-das à regulação emocional justifica esforços sistemáti-cos para relacionar o comportamento emocional com substratos neurais.Isso significa dizer que, devido ao tamanho e volu-
me de sua amígdala, de forma geral, as mulheres têm menor tendência à agressividade ou comportamentos que demonstrem agressividade. De forma geral, po-demos dizer que esse fato contribui significativamen-te para o desenvolvimento da capacidade autorregu-ladora por parte da mulher, auxiliando no processo de controle de impulsos e, consequentemente, auxi-liando no processo de desenvolvimento do equilíbrio enquanto componente da inteligência emocional e consequentemente da liderança (2002, p. 1000).
3.3.3 motivação“A motivação diz respeito à dinâmica do compor-
tamento das pessoas. motivar significa estimular as
pessoas a fazer algo ou a se comportar rumo a deter-minada direção” (chiavenato, 2007, p. 172).
Ainda segundo o autor, esse fator é não somente algo importante, como também vital para o desenvol-vimento e eficácia da liderança, uma vez que “se há um atributo que todos os líderes eficazes possuem, é a motivação” (chiavenato, 2007, p. 172).
os estudos, aqui pesquisados também evidencia-ram a conexão entre motivação, times e desempe-nho:
A motivação para que membros do time performem coletivamente é proveniente do uso simbólico de técni-cas de administração pelo líder. Técnicas simbólicas de administração como o uso de estórias, discursos inspi-racionais (…) irão efetivamente estimular os indivíduos de forma a inspirá-los a performar de acordo com os valores do time e comportamentos-alvo definidos. [...] através da resolução de conflitos e encorajamento de interações de apoio entre os membros, o líder cria um ambiente de sustentação para os membros. esse ambiente fornece aos membros do time certa substân-cia de segurança emocional e fornece a base para o es-forço coordenado (ashforth; humphrey, 1995, p. 97).
observando o fato de que Ashforth e Humphrey afirmam que o uso de técnicas de administração, como o uso de discursos e estórias, influencia direta-mente na capacidade de motivar as pessoas, podemos automaticamente ligar a habilidade em motivar pesso-as com a habilidade linguística e verbal.
Com base no levantamento dos atributos envol-vidos na sustentação da motivação, temos que, “mu-lheres performam melhor em atividades de reconhe-cimento emocional rápido, e são mais expressivas” (ashtana; mandal, 1998, p. 182). A atividade de reco-nhecimento emocional rápido está associada com a capacidade de compreensão de emoções e seu pro-cessamento no cérebro. A expressividade está rela-cionada ao gerenciamento de atributos e técnicas que induzem a manifestações, reflexões e formulações ligadas à áreas da comunicação e articulação linguís-tica.
Segundo Sosik e megerian (1999, p.20), os chama-dos líderes transformacionais apresentam determi-nadas características que lhes permitem desenvolver sua inteligência emocional. entre essas características, citam que a “motivação é atingida através do geren-ciamento de conflitos entre membros de um time por seu líder, de forma a nutrir e solidificar as relações
Bezerra CP, Santos WEF. Liderança: Uma relação entre predisposição biológica, inteligência emocional e diferenciação sexual.São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 136-44
141
coMunicação cuRta/shoRt coMMunicationadMinistRação
ISSN 2176-9095
entre os membros” (sosik; megerian, 1999).Quanto aos líderes transformacionais, temos que:Comparadas com líderes masculinos, as líderes femi-ninas são (a) mais transformacionais (...) líderes trans-formacionais definem objetivos futuros, desenvolvem planos para o atingimento desses objetivos e inovam, mesmo quando a organização está genericamente apre-sentando sucesso (earli; carli, 2003, p. 817-818).
Assim como:[...] seja transformacional ou socializada, a liderança é direcionada rumo ao serviço de interesses coletivos, em que os líderes reconhecem a necessidade de com-preensão e demonstram respeito por seus seguidores, intencionando motivá-los através do uso da razão e atrativos emocionais (avolio; bass, 1995, p. 200).
Howard Gardner, psicólogo e professor da Har-vard Graduate School of education, afirma que os líderes “devem ter liderança linguística, pois contar suas histórias e confrontá-las com as demais é muito importante” (gardner, 1987, p. 253).
A inteligência linguística, “potencial que revela a capacidade do indivíduo de aprender noções dos có-digos linguísticos, guardá-los na memória e aplicá-los criativamente” (brennand; vasconcelos, 2005, p. 19) é fator fundamental para a confirmação de uma lide-rança eficaz.
A inteligência linguística “traduz o valor da compe-tência de escrever, interpretar e aplicar palavras em situações de comunicação e se revela no domínio da palavra, tanto representada por códigos escritos mar-cados em papéis e pedras, quanto na expressão oral da fala” (brennand; vasconcelos, 2005, p. 19).
A inteligência linguística é evidenciada por Gard-ner como “um potencial que não depende de nenhum órgão sensorial especificamente; depende da comple-xidade de como é disposta no cérebro” (gardner, 1987, p. 50).
o resultado quanto ao estudo da produção oral pode ser acompanhado abaixo:
A produção oral é uma função fortemente esquerdo-dominante e que fundamenta-se sobre áreas do lóbulo frontal. (…). São importantes para o acesso às palavras apropriadas e o som da oratória.Trabalhos recentes também identificaram um circuito senso-motor responsável pela oratória no lóbulo tem-poral posterior esquerdo e sistemas de produção do mesmo. este circuito está envolvido no desenvolvimen-to da locução e é responsável por suportar a memória
verbal de curto prazo. (carey, 1990, p. 31).
Gur et al. constatam:Diferenças sexuais (…) foram reportadas na morfolo-gia do corpo caloso. Pelo fato do corpo caloso consistir em fibras de conexão mielínicas, o volume mais denso de corpo caloso presente nas mulheres foi interpreta-do como responsável por prover melhor comunicação entre os hemisférios cerebral e consequentemente, menor necessidade de especialização funcional dos dois hemisférios.[...] os resultados anatômicos sugerem algum parale-lo entre diferenças sexuais em cognição e diferenças na massa cinzenta devido ao fato de ambos, mulheres e seu lado hemisférico esquerdo, responsável pela lin-guagem, possuírem uma maior porcentagem de massa cinzenta; e mulheres superam os homens em atividades relacionadas à linguagem (2000, p. 999).
3.3.4 empatiaA empatia é particularmente importante hoje,
como componente da liderança, devido a, pelo me-nos, três razões: aumento no uso de times, rápido crescimento da globalização e a crescente necessida-de na retenção de talentos (goleman, 1998).
Fundamental para as organizações, o desenvolvi-mento de times torna-se fator decisivo para o suces-so das mesmas:
Times são caldeirões de emoções borbulhantes. Nor-malmente, são responsáveis pelo atingimento de um consenso – difícil suficiente entre duas pessoas e muito mais difícil conforme o número de pessoas aumenta. [...] o líder de um time deve ser capaz de perceber e compreender os pontos de vista de todos os envolvi-dos.[...] estimular as pessoas a falarem mais abertamente sobre suas frustrações, compreendendo o fundo emo-cional do time (goleman, 1998, p. 71).
os efeitos da globalização quanto ao desenvolvi-mento dos negócios em escala mundial também se definem como fator essencial para o sucesso das or-ganizações:
Globalização é outra razão pelo aumento da impor-tância de empatia pelos líderes de negócios. o diálogo ‘cross-cultural’ pode levar facilmente a mal-entendidos. A empatia é um antídoto. Pessoas que a possuem estão alerta às sutilidades na linguagem corporal; são capazes de ouvir a mensagem por trás das palavras ditas. Além disso, possuem um conhecimento mais amplo tanto da existência como da importância das diferenças culturais
Bezerra CP, Santos WEF. Liderança: Uma relação entre predisposição biológica, inteligência emocional e diferenciação sexual.São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 136-44
142
coMunicação cuRta/shoRt coMMunicationadMinistRação
ISSN 2176-9095
e étnicas (Goleman, 1998, p. 75).
Sabbatini considera:um estudo dirigido pelo Dr. Godfrey Pearlson, da uni-versidade John Hopkins, estados unidos, demonstrou que duas áreas nos lobos frontais e temporais relacio-nados à linguagem (conhecidos como áreas de broca e Wernicke, em homenagem a seus descobridores) são significativamente maiores nas mulheres, fornecendo assim um motivo biológico para a notória superiorida-de mental das mulheres relacionada à linguagem (2000, s/n).
essa constatação é de fundamental importância para a compreensão, desenvolvimento, manutenção e coordenação de novas linguagens e relacionamen-tos já existentes: por meio da utilização eficaz da linguagem e da compreensão, as diferenças culturais e étnicas advindas da globalização podem manter-se sólidas, intactas e com seu valor preservado.
A retenção de talentos e o papel da empatia tam-bém foram alvo dos estudos de Goleman:
A empatia interpreta um papel chave na retenção de talentos, particularmente na economia da informa-ção de hoje. líderes sempre necessitaram de empatia para desenvolver e manter boas pessoas, mas hoje as apostas são mais altas. Quando boas pessoas saem, elas levam consigo o conhecimento da empresa (go-leman, 1998).
Quando consideramos a retenção de talentos, a empatia apresenta-se como base para o desenvol-vimento de práticas que sustentam e garantem não somente o desenvolvimento da carreira do funcio-nário, como também o desenvolvimento da própria organização.
Nesse cenário é que mentorização e coaching entram. Tem sido repetidamente demonstrado que, coaching e mentorização compensam não apenas na performance, mas também no aumento de satisfação com relação ao trabalho e diminuição do turnover. mas o que fazem com que mentorização e coaching funcionem melhor é a natureza do relacionamento. mentores sensacionais entram na cabeça das pessoas que eles estão mentorizando. eles percebem como efetivamente fornecer feedback. eles sabem quando estimular para melhorar a performance e quando se-gurar. Através da forma pela qual eles motivam seus protegidos, eles demonstram a empatia em ação (go-leman, 1998).
Gur et al. afirmam que:[...] as implicações comportamentais relacionadas às regiões frontal e orbital relativamente mais largas nas mulheres justificam investigações adicionais baseadas na evidência do papel crítico do córtex frontal orbital no comportamento social, funcionamento emocional e habilidades cognitivas de ordem maior, como argumen-tação lógica e tomada de decisão (2002, p. 1002).
3.3.5 Habilidade socialPessoas com habilidade social (…) trabalham a
partir da consciência de que nada que seja importante é realizado de forma sozinha (goleman, 1998).
Goleman ainda afirma que pessoas com habilida-de social: estão aptas para gerenciar times (…) bem como apresentam capacidade de persuasão excelente. estão orientadas a encontrar soluções. líderes pre-cisam gerenciar efetivamente seus relacionamentos; nenhum líder é uma ilha. Afinal de contas, o trabalho do líder é conseguir que as coisas sejam feitas através de outras pessoas, e as habilidades sociais permitem que isso seja possível (...). A habilidade social permite que os líderes insiram sua inteligência emocional no ambiente de trabalho (goleman, 1998).
Gur et al. constatam:Diferenças relacionadas ao sexo têm sido observadas em medidas neurocomportamentais e estudos neuro-anatômicos. Homens e mulheres diferem quanto ao processamento de emoções, incluindo percepção, ex-periência e expressão (…) (2002, p. 1003).
ruderman et al. constatam:Não importa o quão forte sejam as habilidades intelec-tuais ou técnicas; os gerentes que se importam pouco em serem cooperativos e contribuem pouco com os membros do grupo, e que não são capazes de suportar pressão, que explodem facilmente e direcionam suas frustrações nos outros membros, e que não são capa-zes de entender ou apreciar os sentimentos dos outros estão seriamente fadados ao desastre (2001, p. 10).
4. dISCuSSãoCom base nas pesquisas e observações evidencia-
das anteriormente, pode-se afirmar que a constitui-ção do cérebro feminino tendencia o surgimento e o desenvolvimento de habilidades relacionadas à com-preensão, processamento e formação do discurso e locução, desenvolvimento verbal, escrito e linguísti-co, características essas que podem ser empregadas
Bezerra CP, Santos WEF. Liderança: Uma relação entre predisposição biológica, inteligência emocional e diferenciação sexual.São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 136-44
143
coMunicação cuRta/shoRt coMMunicationadMinistRação
ISSN 2176-9095
para a resolução de conflitos, melhor capacidade de compreensão e identificação de comportamentos e emoções, expressividade, solidificação de relaciona-mentos e desenvolvimentos de discursos inspiracio-nais, habilidades estas favoráveis ao estabelecimento de um ambiente organizacional que inspire segurança e seja, consequentemente, motivador.
Após a evidenciação de uma proximidade entre o gerenciamento de habilidades (que caracterizam o que é liderança pela ciência da Administração) pelo cérebro e a forma de gerenciamento dessas mesmas habilidades pelo cérebro feminino, pode-se estabele-cer as seguintes constatações:
Tal qual afirma Gardner, a inteligência humana é um “potencial biopsicológico” (gardner, 1987, p. 47). Não menos importante é mencionar que diversas va-riáveis influenciam o desenvolvimento de habilidades cognitivas e, consequentemente, interferem na cria-
ção de um ambiente propício para o desenvolvimento da liderança, como os aspectos estruturais, sociais e culturais.
No entanto, ao estudar-se uma dessas variáveis separadamente - a predisposição biológica -, torna-se possível identificar relações entre a predisposição dos indivíduos do sexo feminino e o desenvolvimento de características específicas e decisivas para o sur-gimento de habilidades envolvidas na construção da liderança.
Compreender os aspectos relacionados à lideran-ça, como suas características principais e sua relação com o êxito dos funcionários, times e organizações, permite maior clareza e gerenciamento de habilida-des e objetivos por parte de gerentes e corporações, bem como desenvolvimento de habilidades específi-cas e essenciais para a liderança tanto para o sucesso do funcionário como o da própria organização.
RefeRênciAs
ASHForTH, b. C.; HumPHreY, r. H. emotions in the workplace: a reappraisal. Hu-mans Relations. v. 48, n. 2, p. 97-125, 1995.
ASHTANA, H. S.; mANDAl, m. K. Hemifacial asymmetry in emotion expressions. Behavior Modification. united States. v. 22, n.2, p. 177-183, Apr 1998.
AVolIo, b. J.; bASS, b. m. Individual consideration viewed at multiple levels of analysis: a multi-level framework for examining the diffusion of transformational leadership. The leadership Quarterly. v. 6, n. 2, p. 199-218, 1995.
bAlCÃo, Y. F.; CorDeIro, l. o comportamento humano na empresa. 2.ed. rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1967.
breNNAND, e. G. G.; VASCoNCeloS, G. C. o conceito de potencial múltiplo da inteligência de Howard Gardner para pensar dispositivos pedagógicos multimidiáticos. Ciências & Cognição. rio de Janeiro, v. 5, n. 2, p. 19-35, 2005.
CAreY, J. brain facts: a primer on the brain and nervous system. Washington, DC: Society for Neuroscience, 1990. V.2, p.31.
CHIAVeNATo, I. empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
______. Introdução à teoria geral da administração. 3.ed. São Paulo: mcGraw-Hill, 1983.
______. Teoria geral da administração. 7.ed. São. Paulo: Campus, 2004.
CorTellA, m. S.; muSSAK, e. liderança em foco. 2.ed. São. Paulo: Papirus, 2009.
Bezerra CP, Santos WEF. Liderança: Uma relação entre predisposição biológica, inteligência emocional e diferenciação sexual.São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 136-44
144
coMunicação cuRta/shoRt coMMunicationadMinistRação
ISSN 2176-9095
DruCKer, P.F. What makes an effective executive. Harvard business Press. California uSA, v. 82, n. 6, p. 58-63, Jun 2004.
eAGlY, A.; CArlI, l. The female leadership advantage: An evaluation of the evidence. The leadership Quarterly. v. 14, p. 807-834, 2003.
GArDNer, H. estructuras de la mente. 2.ed. Ciudad de mexico: Fondo de Cultura Eco-nómica, 1987.
GolemAN, D. Que hace a un líder?. Harvard business Review. united States, v. 82, n. 1, p. 72-80, 1998.
_____. Working with emotional intelligence. 1.ed. New York: bantam books, 1998.
Gur, r.C.; GuNNING-DIXoN, F.; bIlKer, W.b.; Gur, r.e. Sex differences in tem-poro limbic and frontal brain volumes of healthy adults. Cerebral Cortex. united Sta-tes, v. 12, n. 9, p. 998-1003, Sep 2002.
Gur, r.C.; TureTSKY, b.I.; mATSuI, m.; YAN, m.; et al. Sex differences in brain gray and white matter in healthy young adults: correlations with cognitive performance. The Journal of Neuroscience. united States, v. 19, n. 10, p. 4065-4072, 1999.
HoGAN, r.; CurPHY, G.J.; HoGAN, J. What we know about leadership: effective-ness and personality. American Psycologist, v. 49, n. 6, p. 493-504, Jun 1994.
ruDermAN, m.; HANNuN, K.; leSlIe, J.; STeeD, J. leadership skills and emotional intelligence. leadership in Action. v. 21, n. 5, p. 6-10, 2001.
SAbATINNI, rm.e. existem diferenças cerebrais entre os homens e as mulheres? Re-vista Cérebro e Mente, São Paulo. Disponível em: <http://www.cerebromente.org.br>. Acesso em: 12 set 2009.
SAloVeY, P.; mAYer, J. What is emotional intelligence. 1.ed. New York: basic books, 1990.
SoSIK, J. J.; meGerIAN, l. e. understanding leader emotional intelligence and perfor-mance. Group and organization management. v. 24, n. 3, p. 367-390, 1999.
ISSN 2176-9095
145
Science in Health 2010 set-dez; 1(3): 145-60
muCoSITe No PACIeNTe em TrATAmeNTo De CÂNCer
MUCOsITIs RElATED-CANCER TREATMENT
Ana Paula Pinho*
José Carlos Misorelli**
roberto Montelli**
Sergio emerici Longato***
*** Professora da Disciplina de Gestão do Curso de medicina da universidade Cidade de São Paulo*** médicos do Hospital Santa Ana - Santana de Parnaíba*** médico estagiário do Hospital Santa Ana - Santana de Parnaíba
Resumo
O aumento da intensidade da quimioterapia e radiotera-pia no tratamento do câncer tem elevado a incidência de efeitos colaterais, em especial da mucosite bucal. Através de revisão bibliográfica procurou-se atualizar informações quanto à definição, características clínicas, incidência, etio-logia, patofisiologia, morbidade associada, prevenção e tra-tamento dessa manifestação clínica. Estudos atuais definem a mucosite bucal como uma inflamação e ulceração doloro-sa bastante frequente na mucosa bucal apresentando for-mação de pseudomembrana. Sua incidência e severidade são influenciadas por variáveis associadas ao paciente e ao tratamento a que ele é submetido. A mucosite é conse-quência de dois mecanismos maiores: toxicidade direta da terapêutica utilizada sobre a mucosa e mielossupres-são gerada pelo tratamento. Sua patofisiologia é compos-ta por quatro fases interdependentes: fase inflamatória/vascular, fase epitelial, fase ulcerativa/bacteriológica e fase de reparação. É considerada fonte potencial de infecções com risco de morte, sendo a principal causa de interrup-ção de tratamentos antineoplásicos. Algumas intervenções mostraram-se potencialmente efetivas para sua prevenção e tratamento. Entretanto, faz-se necessária a realização de novos estudos clínicos mais bem conduzidos para obtenção de melhor evidência científica acerca do agente terapêutico de escolha para o controle da mucosite bucal, permitindo a realização da quimioterapia e radioterapia do câncer em parâmetros ideais.
DescRitoRes: Mucosite • Quimioterapia • Radioterapia • Tratamento.
ABstRAct
The increasing intensity of radiation therapy and chemo-therapy in the management of cancer has increased the incidence of adverse effects, especially oral mucositis. A bibliographical review was conducted on the definition of oral mucositis, its clinical findings, the incidence, its etio-logy, the pathofisiology, associated morbidity, prevention and treatment. Current studies define oral mucositis as a very frequent and painful inflammation with ulcers on the oral mucosa that are covered by a pseudo membrane. The incidence and severity of lesions are influenced by patient and treatment variables. Oral mucositis is a result of two major mechanisms: direct toxicity on the mucosa and mye-losuppression due to the treatment. Its pathofisiology is composed of four interdependent phases: an initial inflam-matory/vascular phase; an epithelial phase; an ulcerative/bacteriological phase; and a healing phase. It is considered a potential source of life-threatening infection and often is a dose-limiting factor in anticancer therapy. Some interven-tions have been shown to be potentially effective to prevent and treat oral mucositis. Further intensive research throu-gh well-structured clinical trials to obtain the best scienti-fic evidence over the standard therapy of oral mucositis is necessary to attain ideal parameters for radiotherapy and chemotherapy.
DescRiptoRs: Mucositis • Drug therapy • Radiotherapy • Therapeutics
Mini Revisão/Mini ReviewMedicina
ISSN 2176-9095
Pinho AP, Misorelli JC, Montelli R, Longato SE. Mucosite no paciente em tratamento de câncer.São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 145-60
146
Mini Revisão/Mini ReviewMedicina
ISSN 2176-9095
o ProBLeMA dA MuCoSIte No CâNCerAs mucosas servem como importante mecanismo
de proteção. essas camadas brandas, lisas e úmidas de células epiteliais e tecido conjuntivo revestem as passagens e cavidades do organismo que têm conta-to direto ou indireto com o meio externo. As mu-cosas intactas dos tratos gastrintestinal, urogenital e respiratório têm funções de proteção, sustentação, absorção de nutrientes e secreção de muco, enzimas e sais.
o revestimento mucoso é autorrenovante. As células-tronco, que formam uma membrana basal, so-frem replicação e diferenciação formando as diversas células da superfície epitelial. essas células vivem cer-ca de 3 a 5 dias, resultando em renovação do reves-timento epitelial externo a cada 7 a 14 dias (Sonis et al.1, 2004). esse padrão de proliferação celular deixa a mucosa extremamente vulnerável a fontes de irri-tação, traumatismos ou lesão celular, como a causada pelos efeitos citotóxicos do tratamento do câncer. o resultado é a mucosite, temo geral que se refere à inflamação da mucosa.
INCIdÊNCIA No CâNCerA mucosite oral, denominada às vezes de esto-
matite, é uma das formas mais comuns e molestas da mucosite no indivíduo com câncer. essa resposta inflamatória e ulcerativa da mucosa oral decorre dos efeitos fisiológicos de múltiplos agressores, como o câncer e seu tratamento. De todas as pessoas com diagnóstico recente de câncer, 40% virão a apresen-tar complicações orais relacionadas à doença ou a seu tratamento; dessas complicações, a mais comum é a mucosite. (rubstein et al.2, 2004)
A mucosa oral, revestimento úmido e contínuo da boca, desempenha importante função de pro-teção. essa membrana epitelial é parte integrante da defesa de primeira linha do organismo contra o meio ambiente. A mucosa junta-se à pele e ao re-vestimento do trato gastrintestinal para formar uma barreira completa contra microrganismos externos. As alterações da integridade do revestimento muco-so proporcionam porta de entrada para microrganis-mos, causando infecção localizada com potencial de disseminar-se através da corrente sanguínea. Assim, a cavidade oral pode servir de porta de entrada para infecções sistêmicas potencialmente letais. (rubstein
et al.2, 2004) essa possibilidade aumenta no indivíduo com comprometimento imunológico decorrente do tratamento do câncer. A capacidade de combater in-fecções nesse indivíduo é limitada pela diminuição do número de neutrófilos decorrente dos efeitos cito-tóxicos do tratamento do câncer nas células-tronco da medula óssea. Assim, a flora endógena normal da boca, que inclui bactérias gram-positivas e gram-ne-gativas, fungos e vírus, pode infectar as áreas onde a integridade da mucosa está comprometida. As infec-ções localizadas podem transmitir-se com facilidade pela corrente sanguínea através dos ricos leitos capi-lares que perfundem a mucosa, acarretando septice-mia. De fato, em estudos tem-se observado relação entre septicemia e infecções orais até em 54% dos in-divíduos neutropênicos. (Hadon et al.3, 1996) em uma instituição, a tendência ascendente a bacteriemia por gram-positivos mostrou relação significativa com o aumento da mucosite oral. (Samerfield et al.4, 2000)
IMPACto NA QuALIdAde de VIdAA mucosa oral também recebe e transmite es-
tímulos táteis, função que confere à boca um papel importante na sensação e nutrição. A mucosite pode alterar os receptores gustativos, causando sensação de gosto desagradável, conhecida como disgeusia, ou ausência da sensação gustativa, denominada ageusia.
A mucosite oral quase sempre acompanha-se de dor oral. A dor decorre de exposição do revestimen-to do epitélio, ulceração e edema. os neurotransmis-sores liberados no processo da resposta inflamatória estimulam o vasto leito de fibras nociceptivas da mu-cosa. A dor oral resultante dificulta a alimentação, a fala e a deglutição.
São manifestações e consequências da mucosite oral a ulceração, a xerostomia ou boca seca, a ageu-sia, a dor, as infecções, o sangramento e a alteração do estado nutricional. As abordagens gerais desses sintomas discutem-se em detalhes em outros capítu-los. A mucosite não constitui um simples fenômeno, mas pode encarar-se como componente de um com-plexo sintomático bastante intrincado. À medida que se acrescentam outros sintomas, aumentam a inten-sidade e a duração da mucosite. o impacto negativo da mucosite no conforto, na capacidade de alimentar-se e comunicar-se e no bem-estar geral do indivíduo pode diminuir significativamente a qualidade de vida.
Pinho AP, Misorelli JC, Montelli R, Longato SE. Mucosite no paciente em tratamento de câncer.São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 145-60
147
Mini Revisão/Mini ReviewMedicina
ISSN 2176-9095
Fator de risco mecanismo de Ação estratégias de Prevenção
Idade
Crianças
• Não está bem esclarecido o aumento da prevalência, mas pode dever-se à imaturidade da resposta imunológica, ao aumento da proliferação celular, e à maior prevalência de malignidades hematológicas
• Higiene oral frequente e cuidadosa
Idosos• Alterações degenerativas: diminuição do fluxo
salivar, diminuição da queratinização da mucosa e aumento da prevalência de gengivite
• Higiene oral frequente e cuidadosa • Hidratação adequada • umectantes bucais • evitar traumatismos • Tratamento dentário da gengivite
exposição a álcool e tabaco
• Irritação crônica da mucosa• evitar ou limitar bebidas alcoólicas e produtos de tabaco, especialmente durante o tratamento
má higiene oral• o aumento de detritos favorece a infecção• Falta de estimulação para melhorar a circulação
• Higiene oral frequente e cuidadosa, incluindo escovação da língua e das gengivas
Terapêutica com oxigênio
• A umidade retirada da mucosa para o oxigênio causa secura do revestimento mucoso
• umidificar o oxigênio• umectantes orais• Hidratação adequada
Aspiração oral ou nasogástrica
• A sonda e o processo de aspiração causam rupturas traumáticas da integridade da mucosa
• minimizar a frequência e a duração das aspirações
Alterações do padrão respiratório
• A taquipneia e a respiração oral ressecam a mucosa• Higiene oral frequente e cuidadosa• umidificador de ambiente
Certas drogasAnticolinérgicos e anti-histamínicosFenitoínaCorticosteroides
• Diminuem o fluxo salivar• Hiperplasia gengival• Colonização com fungos
• Higiene oral frequente e cuidadosa• Se possível, evitar essas drogas
Dentaduras mal ajustadas
• A movimentação irrita a mucosa e rompe a integridade
• realinhar as dentaduras• remover as dentaduras à noite e usá-las
somente para alimentar-se, até ocorrer a cura
Alimentos quentes, ácidos ou condimentados
• os irritantes térmicos e químicos inflamam e traumatizam a mucosa
• Alimentos leves e macios• evitar alimentos ácidos, apimentados e
condimentados• Deixar os alimentos quentes esfriarem
antes de ingeri-los
mau estado nutricional
• os açúcares refinados aumentam as cáries dentárias
• A má nutrição calórico-proteica retarda a cura• As deficiências de vitaminas causam complicações
orais
• minimizar os açúcares refinados• Dieta cotidiana bem balanceada, incluindo frutas, verduras, grãos e fontes de proteínas• Suplementação vitamínica diária
Desidratação• A extração de líquidos da mucosa e dos lábios
como mecanismo de proteção acarreta secura e fissuras
• Ingestão líquida diária mínima de 2000 ml
Fatores que Aumentam o risco de mucosite oral no Indivíduo com Câncer
Pinho AP, Misorelli JC, Montelli R, Longato SE. Mucosite no paciente em tratamento de câncer.São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 145-60
148
Mini Revisão/Mini ReviewMedicina
ISSN 2176-9095
etIoLogIA e FISIoPAtoLogIAFatores de riscoA mucosite oral constitui problema comum e
significativo no indivíduo com câncer. A etiologia da mucosite relaciona-se quer ao câncer em si, quer aos efeitos diretos e indiretos dos tratamentos do câncer. essas causas primárias intensificam-se em al-guns indivíduos pela existência de uma variedade de fatores que aumentam o risco de complicações orais. (Keefe5, 2006)
CâncerA mucosa oral pode ser agredida por uma varie-
dade de entidades mórbidas. os tumores orais, por exemplo, comprometem a integridade da mucosa e, com freqüência, inflamam-se e infectam-se. (Keefe5, 2006) o tipo predominante é o epitelioma espino-celular, responsável por 90% das neoplasias orais. (Keefe et al.6, 2006) os carcinomas orais, na maioria, diagnosticam-se em estádios avançados e, com freqü-ência, manifestam-se como massas ulceradas e necró-ticas. No indivíduo com leucemia, os infartos decor-rentes da infiltração de células malignas nos capilares podem acarretar exfoliação da mucosa. É frequente o indivíduo com síndrome da imunodeficiência adqui-rida (AIDS) apresentar lesões orais de sarcoma de Kaposi ou de linfoma não-Hodgkin, duas neoplasias comuns nessa população. (Peterson et al.7, 2006)
As neoplasias orais são responsáveis por menos de 5% de todos os tumores; as causas mais comuns de mucosite oral são os tratamentos do câncer, como a quimioterapia, a radioterapia e o transplante de me-dula óssea.
QuimioterapiaAcredita-se que a quimioterapia tenha efeito es-
tomatotóxico direto e indireto. o efeito direto na mucosa oral dá-se em nível celular. o processo de renovação epitelial constante torna a mucosa muito vulnerável aos efeitos dos antineoplásicos. (Jones et al.8, 2006) muitas dessas drogas causam destruição de células em reprodução ativa, por interferirem no DNA, no rNA ou na síntese de proteínas. São par-ticularmente sensíveis aos efeitos citotóxicos diretos dos antineoplásicos as regiões de proliferação acele-rada, como, por exemplo, as células-tronco da muco-sa oral. Decorrem redução da produção, diminuição da diferenciação e aceleração do destacamento das
células epiteliais, levando ao desnudamento da mu-cosa. (Antony et al.9, 2006) uma vez rompida a con-tinuidade do revestimento epitelial, a sequência de destruição tecidual, inflamação e infecção acarretam mucosite dolorosa e debilitante. (von bultzingslowen et al.10, 2006)
Acredita-se que o efeito indireto das drogas qui-mioterápicas ocorra ao ser suprimida a função da me-dula óssea durante o nadir do tratamento, momento em que são mais baixos os números de plaquetas e granulócitos em decorrência do efeito citotóxico das drogas nas células precursoras da medula óssea. Nesse momento o indivíduo está imunossuprimido e extremamente suscetível a infecções. As pesqui-sas indicam que o aumento da estomatotoxicidade associa-se à diminuição dos números de granulócitos que ocorre durante o nadir. Acredita-se assim que a estomatotoxicidade indireta seja mediada através da supressão da resposta imunológica. (von bultzingslo-wen et al.10, 2006)
Antimetabólitos
Citarabina5-Fluorouracil
FloxuridinaHidroxiureia
6-mercaptopurinametotrexato6-Tioguanina
Fármacos que Interagem com o DNA
Actinomicina DAmsacrina
Cloridrato de procarbazinaDaunomicina
Doxorrubicinaetoposido
Idarrubicinamitomicina Cmitoxantronamitramicina
Sulfato de bleomicina
Fármacos que Interagem com a Tubulina
DocetaxelPaclitaxel
Sulfato de vinblastinaSulfato de vincristina
Quimioterápicos com Alto Potencial de Causarem esto-matite
Pinho AP, Misorelli JC, Montelli R, Longato SE. Mucosite no paciente em tratamento de câncer.São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 145-60
149
Mini Revisão/Mini ReviewMedicina
ISSN 2176-9095
Como nem todas as drogas quimioterápicas cau-sam mucosite, é importante identificar as drogas es-pecíficas incluídas no esquema de tratamento.
As drogas de potencial estomatotóxico mais alto são os antimetabólitos, certos fármacos que intera-gem com o DNA, especialmente os antibióticos anti-neoplásicos, e os fármacos que interagem com a tu-bulina. (barasch et al.11, 2006)
A mucosite causada pela quimioterapia pode ser profunda. o padrão da mucosite varia, tanto com o esquema farmacológico quanto com o indivíduo. A inflamação decorrente da estomatotoxicidade direta pode ocorrer pela primeira vez na faixa de 2 a 14 dias a partir do momento da administração da droga. A intensidade e a duração variam não somente com os tipos de drogas mas também com a posologia e a fre-quência de administração. A intensidade da mucosite aumenta com doses mais altas de drogas citotóxicas; até mesmo drogas que em geral não são estomato-tóxicas (como a ciclofosfamida, por exemplo) podem causar dano celular à mucosa em altas doses. A dura-ção da mucosite pode prolongar-se com a administra-ção frequente, pois não há tempo para recuperação celular e cura.
Na maioria dos casos, administram-se combina-ções de drogas, e tem havido pouca pesquisa para descrever sistematicamente os padrões de resposta em protocolos variados. Como se descreveu ante-riormente, a resposta inflamatória causa diminuição do paladar, dor e dificuldade de engolir. em geral a resposta intensifica-se quando o indivíduo entra no nadir do tratamento. Sobrevêm ulceração, inflama-ção grave, infecção e sangramento em decorrência da perda da integridade mucosa, da destruição celular, da neutropenia e da trombocitopenia. A localização cronológica e a duração do nadir variam com o pro-tocolo farmacológico, sendo frequente a quimiotera-pia de combinação acarretar períodos prolongados de imunossupressão devido à imbricação do nadir de uma droga com o de outra.
radioterapiaA radioterapia constitui tratamento localizado do
câncer. A mucosite decorre da aplicação de radiação na região da cabeça e do pescoço quando a boca ou as glândulas salivares estão incluídas no campo de tra-tamento. Sobrevém resposta inflamatória em decor-rência da destruição das células mucosas ou glandu-
lares, influenciada pela profundidade de penetração, pelo total de Gy aplicados, e pelo número e frequên-cia de tratamentos (migliorati et al.12, 2006). o surgi-mento, a intensidade e a duração da mucosite variam de indivíduo para indivíduo, mas as mais das vezes o quadro tem início na segunda semana de radioterapia, ou após uma dose de cerca de 2000 cGy. A mucosa no campo de tratamento apresenta-se de início tu-mefacta e eritematosa, e à medida que o tratamento prossegue torna-se exposta, ulcerada e coberta de exsudato (Jones et al.8, 2006). São comuns a dor e o ardor, agravados por irritantes como alimentos ácidos ou condimentados. A mucosite persiste por várias se-manas após concluídos os tratamentos. É frequente ocorrerem infecções secundárias, especialmente can-didíase, que prolongam a duração da mucosite.
A mucosite pode complicar-se com o declínio dra-mático da produção salivar quando se irradiam to-das as glândulas salivares maiores. A diminuição do fluxo salivar – xerostomia - é de rápida instalação, sobrevindo em geral durante a primeira semana de tratamento. A xerostomia pode ser progressiva e ir-reversível, com declínio de cerca de 95% da produção salivar em 3 anos após o tratamento (mcGuire et al.13, 2006) A xerostomia persistente torna-se efeito cola-teral danoso, já que. sem adequada e agressiva higiene oral e prevenção de cáries, observa-se uma escalada das cáries dentárias.
A radioterapia do câncer oral também causa perda do paladar por danificar as microvilosidades e a su-perfície exterior das células gustativas. A instalação é rápida e progressiva, ocorrendo ageusia ou cegueira oral após 3000 cGy. A acuidade gustativa em geral melhora no prazo de 2 a 4 meses do tratamento, em-bora em alguns indivíduos ocorra diminuição perma-nente da percepção gustativa.
Terapêutica de transplante de medula ósseaAté 70% dos indivíduos transplantados com me-
dula óssea apresentam complicações orais decorren-tes da natureza agressiva e sinérgica das terapêuticas purgativas pré-transplante (mcGuire et al.14, 2006). utilizam-se antes do transplante esquemas de altas doses de antineoplásicos e irradiação corporal total na tentativa de destruir todas as células neoplásicas e induzir aplasia da medula óssea. Alguns dias após o início do tratamento, surgem placas esbranquiça-das, eritema, atrofia e aumento da vascularidade, que
Pinho AP, Misorelli JC, Montelli R, Longato SE. Mucosite no paciente em tratamento de câncer.São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 145-60
150
Mini Revisão/Mini ReviewMedicina
ISSN 2176-9095
se intensificam progressivamente durante o período pós-transplante. As ulcerações ocorrem, na maioria, em áreas não-queratinizadas, como a língua e a muco-sa jugal e labial (mcGuire et al.14, 2006). A terapêutica imunossupressora após o transplante e o surgimento da doença enxerto versus hospedeiro (DeVH) pro-longam e agravam as complicações orais. São comuns as infecções bacterianas, fúngicas e viróticas. em de-corrência da irradiação, sobrevém xerostomia, pre-sente durante todo o período pós-transplante. A dor que se associa à mucosite atinge seu pico cerca de 2 semanas após o transplante, quando em geral a cavi-dade oral está infectada e ulcerada.
Na DeVH crônica, a mucosa torna-se cronica-mente irritada, mosqueada e friável. Há episódios intermitentes de inflamação aguda, frequentemente associada a infecções bacterianas, fúngicas e viróticas. A xerostomia persiste, e o risco de cáries é alto.
Terapêutica multímodaAs causas da mucosite, na maioria dos indivíduos
com câncer, são multifatoriais. A terapêutica moder-na do câncer é multímoda - combinam-se tratamen-tos para produzir o máximo efeito citotóxico. Infe-lizmente, esse efeito estende-se às células normais, como as da mucosa, acarretando profundos efeitos na mucosa oral. o câncer e seus tratamentos múlti-plos interagem com os fatores de risco presentes no indivíduo com câncer. o resultado é exemplificado pelo desafio de se cuidar do indivíduo com tumor oral invasivo que tem história de abuso de álcool, é fumante, tem má higiene bucal e está em terapêutica com oxigênio. A terapêutica multímoda do câncer, consistindo em cirurgia extensa e combinação de ra-dioterapia e quimioterapia, traumatiza a mucosa (lada et al.15, 2006). As sequelas de xerostomia, ulceração, dor e incapacidade de alimentar-se desencadeiam um círculo vicioso e persistente de intensa inflamação e infecção.
AvaliaçãoA avaliação completa e sistemática da boca deve
fazer parte da avaliação abrangente de todos os in-divíduos com câncer. A avaliação sistemática requer equipamento e técnica apropriados.
A mucosa oral normal e sadia é rósea, úmida, limpa e intacta. Podem ocorrer: alterações da cor, como palidez, eritema de vários graus, placas esbran-
Avaliação oral
1. reunir o equipamento:
boa fonte de luz•
luvas não estéreis•
gaze•
abaixador de língua•
espelho dentário (opcional)•
2. lavar as mãos.
3. Calçar as luvas não estéreis.
4. retirar todos os aparelhos dentários. Indagar quanto a ajuste de dentaduras e a alguma área machucada ou dolorosa.
5. Indagar sobre alterações da voz, do paladar, da capa-cidade de alimentar-se ou engolir, e desconforto.
6. efetuar sistematicamente cada um dos procedimen-tos abaixo, usando luz direta para observar umidade, cor, integridade e limpeza:
a. observar o exterior dos lábios.
b. Puxar o lábio inferior para baixo e levantar o lábio superior a fim de observar os dentes e o reves-timento mucoso do vestíbulo externo. (Nota: verificar a cor e o brilho dos dentes, e a presença de detritos ou cáries.)
c. Instruir a pessoa a abrir a boca para poder obser-var o palato mole e o palato duro.
d. usar um dedo para deslocar e examinar a mucosa do interior das bochechas.
e. observar a quantidade e a qualidade da saliva. (Nota: a saliva normal é rala e aquosa.)
f. examinar o topo da língua. A seguir, solicitar à pes-soa que dobre a língua para cima até o palato para se poder observar o lado de baixo da língua.
g. usar a gaze para deslocar a língua para cada lado a fim de observar as faces laterais da língua.
h. Solicitar à pessoa que respire fundo para poder se observar a orofaringe, a parte posterior da língua e a úvula. Se essa técnica não permitir visualização adequada, usar o abaixador de língua suavemente e usar o espelho dentário para melhor visualiza-ção.
7. Com base nos resultados desta avaliação, pontuar cada categoria no instrumento de avaliação.
Guia Clínico: Procedendo à Avaliação oral
Pinho AP, Misorelli JC, Montelli R, Longato SE. Mucosite no paciente em tratamento de câncer.São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 145-60
151
Mini Revisão/Mini ReviewMedicina
ISSN 2176-9095
quiçadas, ou lesões ou úlceras discrômicas; altera-ções da umidade, que se refletem em textura e brilho alterados, aumento ou diminuição da quantidade de saliva, e modificação da qualidade e tenacidade das secreções; alterações da limpeza, representadas por acúmulos de detritos e películas, maus odores e mu-danças da cor dos dentes; alterações da integridade, como rachaduras, fissuras, úlceras, vesículas, ou le-sões isoladas, agrupadas, em placas, confluentes ou generalizadas; alterações da percepção, como dimi-nuição ou ausência do paladar; rouquidão ou diminui-ção do tom audível e da força da voz; dificuldade de engolir, que pode ser precursora de esofagite; e dor, ardor ou sensação de picada.
o profissional de enfermagem deve procurar des-crever com precisão a qualidade das alterações. o resultado da avaliação deverá ser uma lista específica de diagnósticos de enfermagem ou problemas cola-borativos que estão ligados à possível etiologia.
os resultados dessa avaliação física devem então abordar-se no contexto de uma avaliação abrangen-te, incluindo a triagem dos fatores de risco. o plano de assistência deve guiar-se pelos problemas reais ou potenciais.
um guia de avaliação do tipo do Guia de Avaliação Física da Cavidade oral proporciona um instrumen-to para a quantificação da intensidade da mucosite e também para a avaliação da limpeza e umidade orais.
Categoria Pontuação 1 2 3 4
lábios 1 2 3 4 lisos, róseos, úmidos e intactos
ligeiramente vincados e secos; uma ou mais áreas avermelhadas
Secos e um tanto edematosos; pode haver uma ou duas vesículas isoladas; linha ou demarcação inflamatória
muito secos e edematosos; todo o lábio inflamado; vesículas ou ulcerações generalizadas
Gengiva e mucosa oral
1 2 3 4 lisas, róseas, úmidas e intactas
Pálidas e ligeiramente secas; uma ou duas lesões isoladas, vesículas ou áreas avermelhadas
Secas e um tanto edematosas; eritema generalizado; mais que duas lesões isoladas, vesículas ou áreas avermelhadas
muito secas e edematosas; toda a mucosa muito vermelha e inflamada; múltiplas úlceras confluentes
língua 1 2 3 4 lisa, rósea, úmida e intacta
ligeiramente seca; uma ou duas áreas avermelhadas isoladas; papilas proeminentes, particularmente na base
Seca e um tanto tumefacta; eritema generalizado, mas com a ponta e as papilas mais vermelhas; uma ou duas lesões isoladas ou vesículas
muito seca e edematosa; espessa e tumefacta; toda a língua muito inflamada; pon-ta muito vermelha e demarcada com pe-lículas; múltiplas ve-sículas ou úlceras
Dentes 1 2 3 4 limpos, sem detritos
mínimo de detritos, na maioria entre os dentes
Quantidade moderada de detritos aderentes à metade do esmalte visível
Dentes cobertos de detritos
Saliva 1 2 3 4 Delgada, aquosa, abundante
Aumento da quantidade
Saliva escassa, que pode estar um tanto mais espessa que o normal
Saliva espessa e filamentosa, viscosa ou mucosa
PoNTuAÇÃo De DISFuNÇÃo orAl
Sem disfunção: 5 Disfunção leve: 6–10 Disfunção moderada: 11–15
Disfunção grave: 16–20
ToTAl _____________
Guia da Avaliação Física da Cavidade oral: Pontuações Numéricas e Descritivas
Fonte: beck Sl, Yasko, Jm. Guidelines for oral Care (ed 2). Crystal lake, Il. Sage, 1993. reproduzido com autorização
Pinho AP, Misorelli JC, Montelli R, Longato SE. Mucosite no paciente em tratamento de câncer.São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 145-60
152
Mini Revisão/Mini ReviewMedicina
ISSN 2176-9095
o profissional de enfermagem pode utilizar tal instrumento para documentar padrões e avaliar al-terações que possam ocorrer em consequência do tratamento do câncer ou de intervenções. Podem-se utilizar para descrever a intensidade da disfunção oral a pontuação numérica e os critérios descritivos ver-bais (como ‘moderado’, por exemplo).
Avaliação DiagnósticaA extensão da avaliação diagnóstica depende do
potencial de impacto da mucosite. No indivíduo imu-nocompetente, a abordagem de primeira linha é a te-rapêutica empírica com cuidadosa avaliação da melho-ra. No indivíduo imunocomprometido, é crítica para o diagnóstico acurado a cultura, já que a neutropenia pode impedir a manifestação habitual da inflamação mesmo nas infecções mais comuns. em particular as infecções fúngicas e herpéticas podem não se manifes-tar da forma clássica e facilmente passarem desperce-bidas (bensadoun et al.16, 2006) A cultura é o único meio preciso de diagnosticar a presença de infecção e identificar o microrganismo causador. Indica-se cultu-ra da cavidade oral em caso de rotura da integridade da mucosa, como uma lesão, vesícula ou úlcera; na presença de mucosite generalizada moderada (pontu-ação de 11 a 15); ou na presença de exsudato.
Podem também ajudar, no diagnóstico de infec-ções, alterações de sinais vitais como elevação de tem-peratura e aumento de frequência cardíaca, e achados laboratoriais como anormalidades do hemograma completo (com contagem diferencial de leucócitos). No indivíduo normal, a infecção pode ser indicada
pelo desvio da contagem diferencial manifestando-se através do aumento do número e da percentagem de granulócitos imaturos. No paciente imunocompro-metido, essa tendência pode não evidenciar-se devido ao baixo número de leucócitos. A neutropenia grave (número absoluto de neutrófilos por mm3 inferior a 500) indica risco extremamente alto de infecção. As lesões orais localizadas podem, nesse indivíduo, evo-luir para sepse sistêmica potencialmente letal.
Graus de Toxicidade No âmbito dos ensaios clínicos oncológicos, há
critérios estabelecidos para monitorar os graus de toxicidade (brennam et al.17, 2006). Tais critérios de gradação constituem apenas um indicador grosseiro do grau de toxicidade, e têm sido alvo de críticas de-vido à inconsistência das variáveis em cada um dos níveis. os guias de avaliação oral geram pontuação numérica que pode traduzir-se em pontuação de in-tensidade da disfunção oral - leve, moderada e grave. Tais pontuações podem projetar-se em gráfico a fim de avaliar os padrões de mucosite com o tempo.
Conduta nos sintomasHá muitas abordagens de tratamento da mucosi-
te; nenhum fármaco único demonstrou ser mais efi-caz. Não é surpresa a conduta na mucosite variar de instituição para instituição (Trotti et al.18, 2003). o clínico deve personalizar os cuidados para com cada indivíduo baseando-se numa visão dual, qual seja, dos problemas reais e potenciais identificados pela avalia-ção e pelos objetivos da assistência. Apresentam-se,
ProblemA: muCoSITe, potencial ou real
meTA: mANTer A lImPeZA e PreVeNIr INFeCÇÕeS
meTA: mANTer A INTeGrIDADe e PromoVer A CurA DA muCoSA
escovar os dentes com escova de cerdas de nylon macias e dentifrício fluoretado com bicarbonato de sódio • no prazo de 30 minutos após as refeições e na hora de deitar-se. A escovação antes das refeições pode esti-mular o apetite.
limpar e massagear a língua e a mucosa oral com escova de cerdas macias e dentifrício com bicarbonato de • sódio após escovar ou retirar dentaduras. Pode-se utilizar um aplicador com ponta esponjosa para limpar os dentes e a língua caso a escovação cause desconforto ou sangramento.
enxaguar a boca com 30 ml de salina, sal e bicarbonato, água da torneira ou peróxido de hidrogênio a 1,5% • por 1 a 2 minutos. Caso se utilize salina ou peróxido, enxaguar com água para intensificar a limpeza mecânica e minimizar o sabor residual.
Diretrizes Clínicas de Prevenção e Conduta na Mucosite Oral
Pinho AP, Misorelli JC, Montelli R, Longato SE. Mucosite no paciente em tratamento de câncer.São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 145-60
153
Mini Revisão/Mini ReviewMedicina
ISSN 2176-9095
retirar e escovar as dentaduras no prazo de 30 minutos após as refeições e na hora de deitar-se, depois deixá-• las de molho em peróxido de hidrogênio a 1,5% por vários minutos.
Passar fio dental uma vez por dia após a escovação. Não passar fio dental se ele causar dor, se o número de • plaquetas por mm3 for inferior a 40 000, ou se o número de leucócitos por mm3 for inferior a 1500.
usar de especial cautela para evitar aspiração em caso de comprometimento do reflexo nauseoso.•
Consumir dieta de alto teor protéico com suplementos vitamínicos.•
Aplicar produtos para proteção da mucosa e promoção da cura, como, por exemplo, substratos de antiácidos • ou sucralfato.
manter ingestão ótima de líquidos e nutrientes evitando alimentos irritantes.•
Verificar com o médico e nutricionista a necessidade de nutrição entérica ou parenteral.•
ProblemA: XeroSTomIA, potencial ou real
meTA: umIDIFICAr A CAVIDADe orAl
Aplicar umectante (como, por exemplo, gel de petrolato) com frequência nos lábios e na mucosa. usar lu-• brificante hidrossolúvel (como, por exemplo, gel K-Y ou mouth-moisturizer) no interior da boca se a pessoa estiver usando oxigênio ou se houver perigo de aspiração.
Salvo contraindicação, tomar 300- ml de líquido por dia.•
Aplicar frequentemente aerossol, solução ou esfregaço de saliva sintética.•
usar goma de mascar ou balas sem açúcar para estimular o fluxo salivar.•
Verificar com o médico a necessidade de epilocarpinol.•
usar umidificador de ambiente.•
Caso a xerostomia se prolongue, instituir profilaxia de cáries com fluoreto/ clorexidina diariamente.•
Nota: Não usar esfregaços de limão ou glicerina, pois são secantes e irritantes.
ProblemA: Dor relACIoNADA À muCoSITe
meTA: PromoVer bem-eSTAr e mINImIZAr A Dor
usar anestésicos tópicos, como, por exemplo, benzocaína ou diclonina, antes das refeições e conforme neces-• sário para o controle da dor.
evitar irritantes, como o álcool e o tabaco, por exemplo.•
usar analgésicos para o controle da dor: 1,5 h antes das refeições; em intervalos regulares nas 24 horas se a • dor for constante.
evitar alimentos que causem irritação térmica, mecânica ou química.•
ProblemA: INFeCÇÃo relACIoNADA À muCoSITe
meTA: TrATAr A INFeCÇÃo
monitorar a temperatura do paciente a cada 4 horas e comunicar toda elevação acima de 38o C.•
utilizar antibióticos, antifúngicos e antiviróticos, tópicos ou sistêmicos, de acordo com a prescrição.•
Nota: É crítica no indivíduo imunocomprometido a realização de cultura oral para identificar o microrganismo causa-dor.
Pinho AP, Misorelli JC, Montelli R, Longato SE. Mucosite no paciente em tratamento de câncer.São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 145-60
154
Mini Revisão/Mini ReviewMedicina
ISSN 2176-9095
assim, diretrizes específicas para prevenir e abordar problemas relacionados à mucosite oral no contexto de cinco possíveis problemas e metas.
esta apresentação difere das diretrizes baseadas na intensidade da mucosite e destina-se a facilitar a elaboração de um plano de assistência para ir ao en-contro da resposta única do indivíduo ao câncer e seu tratamento.
Higiene oralA melhor forma de se obter higiene oral efetiva é
escovando, enxaguando, passando fio dental e umidi-ficando.
A escovação requer a utilização de uma escova es-treita de cerdas de nylon macias e uma técnica efetiva de aplicação de movimentos curtos, horizontais ou circulares, com pressão suave na junção entre dentes e gengivas (Cella et al.19, 2003). As superfícies oclu-sais são massageadas com movimentos mais longos; a língua é suavemente escovada para estimular a cir-culação e remover detritos. A Associação Dentária Americana recomenda creme dental fluoretado para prevenir cáries dentárias. os cremes dentais de bicar-bonato são limpadores efetivos, ajudam a dissolver o muco e reduzem a acidez decorrente da inflamação.
o fio dental melhora o processo de limpeza ao re-mover detritos localizados entre os dentes. enrola-se fio dental, encerado ou não, ao redor dos dedos, se-gura-se com firmeza e força-se suavemente para cima e para baixo nas superfícies entre os dentes desde a linha da gengiva até a extremidade de cada dente.
São enxaguantes recomendados a água, salina, sal e bicarbonato, e peróxido de hidrogênio de meia po-tência (Keefe5, 2006). Devem-se evitar enxaguantes
bucais comerciais, por conterem altas percentagens de álcool, que pode irritar e ressecar a mucosa (Cle-eland et al.20, 2003). A água e a salina são soluções neutras não irritantes que proporcionam enxágue mecânico. Sal e bicarbonato (mistura de água, sal e bicarbonato de sódio) têm ainda a vantagem de dimi-nuírem a acidez, tendo demonstrado eficácia compa-rável à do peróxido de hidrogênio de meia potência (Dodd et al.21, 2004)
múltiplos estudos têm falado a favor da utilização de peróxido de hidrogênio (eilers e epstein22, 2004; elting et al.23, 2004). que não somente tem efeito limpador mecânico como também quimicamente te-rapêutico. A peroxidase salivar libera o oxigênio do peróxido, causando reação borbulhante que solta o muco e os detritos. o peróxido de hidrogênio exer-ce ainda efeito antimicrobiano. A utilização de peróxi-do, no entanto, tem sido objeto de certa controvérsia no que diz respeito à sua segurança (miakoswski et al.24, 2004). Não se documentaram efeitos danosos do peróxido de hidrogênio a 1,5% em indivíduos com mucosite. Fazem-se necessárias mais pesquisas para avaliar a segurança e a eficácia do peróxido.
A clorexidina pode ser benéfica se a meta for evi-tar infecções. Atua contra numerosas bactérias e fun-gos. A preparação disponível comercialmente nos es-tados unidos contém 9,6% de álcool e causa sensação de picada e ardor. outro importante efeito colateral da clorexidina é a coloração acastanhada dos dentes; essas manchas podem ser removidas com oxidantes e abrasivos. São inconsistentes os achados de pesquisa relacionada à clorexidina (Ilman et al.25, 2005; Kin et al.26, 2005). que embora possa reduzir os potenciais patógenos não tem mostrado eficácia claramente do-
ProblemA: SANGrAmeNTo DeCorreNTe DA muCoSITe
meTA: CoNTrolAr o SANGrAmeNTo
monitorar os sinais vitais a cada 4 horas.•
Avaliar a função plaquetária mediante hemograma completo.•
Inspecionar a mucosa e comunicar todo sangramento.•
enxaguar a boca com água gelada e/ou aplicar pressão a uma área de sangramento descontrolado utilizando • um pedaço de gaze embebida em água gelada ou um saquinho de chá molhado e congelado.
Verificar com o médico a necessidade de trombina ou ácido aminocaproico. (usar com cautela em pessoas • com trombocitopenia, pois pode ocorrer coagulação intravascular disseminada.)
Fonte: beck Sl, Yasko, Jm. Guidelines for oral Care (ed 2). Crystal lake, Il. Sage, 1993.
Pinho AP, Misorelli JC, Montelli R, Longato SE. Mucosite no paciente em tratamento de câncer.São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 145-60
155
Mini Revisão/Mini ReviewMedicina
ISSN 2176-9095
cumentada na redução da mucosite. 25,26,27,28.
o fluoreto atua diminuindo a desmineralização e aumentando a remineralização das lesões dentárias. embora haja controvérsias quanto ao valor dos en-xágues diários com fluoreto no adulto, é essencial a aplicação diária de fluoreto tópico na pessoa em alto risco de vir a apresentar cáries dentárias em decor-rência de irradiação das glândulas salivares. os en-xágues com clorexidina podem aumentar os efeitos protetores do fluoreto nesses pacientes de alto risco (Peterson e Sonis29, 2004)
Há várias formas de se intensificar a umidade da mucosa oral. É essencial a hidratação adequada me-diante ingestão frequente de líquidos. Chupar balas ou mascar goma sem açúcar estimula o fluxo salivar. Devem-se aplicar com frequência, especialmente à noite, umectantes como manteiga de cacau, gel de petrolato, bálsamos em bastão ou lubrificantes aquo-sos nos lábios. As pesquisas documentam a eficácia dos produtos de saliva sintética (Sonis et al.30, 2006) Aerossóis, soluções e esfregaços contendo saliva ar-tificial são agentes neutros que mimetizam a viscosi-dade e o teor mineral da saliva; é necessário aplicá-los com frequência, por terem efeito de curta duração. A pilocarpina é um sialagogo, que atua por estimulação direta das células das glândulas salivares. Graças aos resultados de ensaios clínicos, essa droga colinérgica tem hoje aprovação para ser usada na xerostomia de-corrente de radiação (mcGuire31, 2003; Stokman et al.32, 2003).
INterVeNçõeS ProtetorASPodem também utilizar-se, na prevenção e no tra-
tamento da mucosite, intervenções visando proteger as células da mucosa. uma dessas abordagens é a crioterapia, utilizando sucção de fragmentos de gelo por 5 minutos antes e 25 minutos depois da adminis-tração de fluorouracil em bolus. A intenção é minimi-zar os efeitos citotóxicos do fluorouracil na mucosa por redução da circulação durante os períodos de pico dos níveis sanguíneos. A eficácia dessa interven-ção demonstrou-se em vários ensaios clínicos.33,34,35 embora o risco pareça ser baixo, há indicação de pes-quisas adicionais.
outra forma de intervenção é a aplicação tópica de substratos de antiácidos ou suspensão de sucral-fato, sal de alumínio básico usado no tratamento de úlceras gástricas. Acredita-se que o sucralfato atue
formando cobertura de proteção sobre as proteínas de superfície danificadas da mucosa. Pode também aumentar a produção local de prostaglandina e2, in-tensificando o fluxo sanguíneo e a produção de muco (kouvaris et al.36, 2002). Sua utilização em indivíduos com mucosite tem sido apoiada por relatos de es-tudos de casos. em ensaio clínico randomizado em crianças, o sucralfato associou-se a diminuição não-significativa da incidência de mucosite. A dor foi sig-nificativamente menor no grupo de sucralfato (ben-Josef et al.37, 2002). Pesquisas subsequentes falam a favor dos efeitos analgésicos do sucralfato, mas os achados relativos à sua eficácia na redução da muco-site são conflitantes.38,39,40,41
o uso de fatores de crescimento hematológicos tornou-se abordagem padrão na assistência ao pa-ciente em quimioterapia com alto potencial de causar mielossupressão. No momento, a maioria das evi-dências não falam a favor da utilização de fatores de crescimento na prevenção da mucosite (migliorati et al.12, 2006).
estão hoje em investigação numerosas outras abordagens para proteger a mucosa. São intervenções de interesse as vitaminas tópicas, as prostaglandinas, as bandagens orais e o alopurinol tópico.
Conduta nas Complicações da mucositeSão complicações comuns associadas à mucosite a
dor, a infecção e o sangramento. A conduta em cada um desses problemas pode ser de natureza local ou sistêmica.
os anestésicos locais (como, por exemplo, a ben-zocaína a 20% ou a lidocaína viscosa) e as misturas contendo tais anestésicos (como orabase, por exem-plo) produzem redução temporária da dor. A dor-mência resultante também diminui a percepção gusta-tiva e térmica. está hoje em investigação a capsaicina oral em forma de balas para o tratamento da dor oral (braun et al.42, 2002). As bandagens orais (como, por exemplo, orahesive) e as formulações de gel que se solidifica formando cobertura oclusiva (como, por exemplo, Zilactin e oratect) proporcionam alívio sig-nificativo da dor, com duração até de 6 horas (Sonis43, 2004). Constitui abordagem sistêmica de conduta na dor aguda e persistente associada à mucosite a admi-nistração contínua de analgésicos no decorrer das 24 horas. recomendam-se na mucosite moderada com-binações de drogas opiáceas e não opiáceas, como
Pinho AP, Misorelli JC, Montelli R, Longato SE. Mucosite no paciente em tratamento de câncer.São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 145-60
156
Mini Revisão/Mini ReviewMedicina
ISSN 2176-9095
acetaminofeno com codeína. Quando não há alívio da dor, ou a mucosite é grave, pode ser necessário administrar doses orais de liberação prolongada ou infusões intravenosas contínuas de morfina até que ocorra a cura.
As infecções da cavidade oral podem ser de origem bacteriana, fúngica ou virótica, devendo selecionar-se os antibióticos de acordo com o microrganismo cau-sador. Podem-se aplicar os antibióticos topicamente em pomadas (como, por exemplo, a bacitracina ou o aciclovir), bastões ou pastilhas (como, por exem-plo, a nistatina) ou tabletes (como, por exemplo, o clotrimazol). Podem indicar-se também antibióticos sistêmicos sensíveis, especialmente no indivíduo imu-nocomprometido. No indivíduo soropositivo para herpes simples e em alto risco de imunossupressão, como, por exemplo, antes de um transplante de me-dula óssea, recomenda-se a utilização profilática do antivirótico aciclovir (meropol et al.44, 2003). Tem-se relatado também nessa população a utilização profilá-tica de antifúngicos.
o risco de sangramento secundário à mucosite é especialmente alto no indivíduo com baixo número de plaquetas (<50 000/mm3). Pode-se obter o con-trole local do sangramento aplicando-se pressão com gaze embebida em água gelada ou irrigações com água gelada. A vasoconstrição promove a hemostasia. Po-dem-se utilizar trombina tópica ou xarope de ácido aminocapróico para promover a coagulação (Spiel-berg et al.45, 2004). A terapêutica sistêmica limita-se a transfusões de plaquetas.
À medida que aumenta a intensidade da mucosite, torna-se cada vez mais provável que seja necessário incluir no plano de assistência uma ou mais dessas intervenções; a frequência de intervenções, ade-mais, deve aumentar em relação com a intensidade. A omissão de cuidados, mesmo por algumas horas, pode anular esforços terapêuticos anteriores. Se a mucosite for leve, recomenda-se higiene oral a cada 2 a 4 horas. Com o aumento da intensidade, podem-se indicar cuidados de hora em hora. É de especial im-portância prosseguir com os cuidados orais durante a noite a fim de manter os progressos feitos durante o dia.
Conduta Dentáriarecomenda-se assistência odontológica profis-
sional, incluindo exame, raios X, limpeza, remoção
de placas e aplicação tópica de fluoreto, pelo menos uma vez por ano. exame e profilaxia dentária antes do início do tratamento do câncer podem diminuir a possibilidade de complicações orais e melhorar a pro-babilidade de o paciente vir a tolerar doses ótimas de tratamento. São essenciais o tratamento de cáries e doença periodôntica e a extração de dentes propen-sos a problemas antes de começar tratamentos de câncer como quimioterapia ou radioterapia de cabeça e pescoço. uma vez iniciada a terapêutica, a neutrope-nia e a trombocitopenia constituem contraindicações à manipulação dentária. uma vez concluída a radiote-rapia e diminuídos os efeitos colaterais orais agudos, o dentista deve acompanhar o paciente a cada 4 a 8 semanas nos primeiros 6 meses (Aisa et al.46, 2006).
educação do PacienteA educação do paciente deve levar em conta a im-
portância da saúde e higiene oral, e identificar as pos-síveis causas de disfunções orais. Com o surgimento da mucosite, as abordagens de natureza preventiva devem expandir-se de forma a incluir intervenções que mantenham a integridade e promovam a cura, promovam bem-estar, combatam infecções e contro-lem sangramentos.
AvaliaçãoA avaliação da assistência decorre da verificação
contínua da resposta do indivíduo ao tratamento. A utilização consistente de um guia de avaliação nu-mérica proporciona forma definitiva de monitorar a resposta. Também os progressos no sentido de se atingirem as metas da assistência devem monitorar-se e documentar-se.
CoNCLuSãoA mucosite oral constitui sintoma complexo e
significativo no indivíduo com câncer. A abordagem sistemática de avaliação oral facilita a detecção pre-coce e a contínua avaliação das complicações orais. A indicação de culturas no indivíduo imunossuprimido deve-se ao fato de que as manifestações típicas da infecção podem não ocorrer. A prevenção e a con-duta requerem plano de assistência personalizado e abrangente envolvendo o indivíduo e o prestador de assistência na manutenção da higiene oral e no com-bate a problemas como xerostomia, infecções, san-gramento e dor.
Pinho AP, Misorelli JC, Montelli R, Longato SE. Mucosite no paciente em tratamento de câncer.São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 145-60
157
Mini Revisão/Mini ReviewMedicina
ISSN 2176-9095
RefeRênciAs:
1. Sonis ST,elting lS,Keefe D, et al. Perspectives on cancer therapy-induced mucosal injury: pathogenesis, measurement, epidemiology, and consequences for patients. Can-cer. 2004 may; 100( 9 suppl): 1995-2025.
2. rubenstein eb,Peterson De,Schubert m, et al. Clinical practice guidelines for the pre-vention and treatment of cancer therapy-induced oral and gastrointestinal mucositis. Cancer. 2004 may; 100( 9 suppl): 2026-46
3. Hadorn DC,baker D,Hodges JS,Hicks N. rating the quality of evidence for clinical practice guidelines. J Clin epidemiol. 1996 Jul; 49(7):749-54.
4. Somerfield m,Padberg J,Pfister D, et al. ASCo clinical practice guidelines: process, progress, pitfalls, and prospects. Classic Pap Curr Comments. 2000; 4: 881-6.
5. Keefe Dm. mucositis guidelines: what have they achieved, and where to from here? Support Care Cancer. 2006 Jun; 14(6):489-91.
6. Keefe Dm,Peterson De,Schubert mm. Developing evidence-based guidelines for mana-gement of alimentary mucositis: process and pitfalls. Support Care Cancer. 2006 Jun; 14(6): 492-98.
7. Peterson De,Keefe Dm,Hutchins rD,Schubert mm. Alimentary tract mucositis in can-cer patients: impact of terminology and assessment on research and clinical practice. Support Care Cancer. 2006 Jun; 14(6): 499-504.
8. Jones JA,Avritscher eb,Cooksley CD,michelet m,bekele bN,elting lS. epidemiology of treatment-associated mucosal injury after treatment with newer regimens for lym-phoma, breast, lung, or colorectal cancer. Support Care Cancer. 2006 Jun; 14(6): 505-515.
9. Anthony l,bowen J,Garden A,Hewson I,Sonis S. New thoughts on the pathobiology of regimen-related mucosal injury. Support Care Cancer. 2006 Jun; 14(6): 516-8.
10. von bultzingslowen I,brennan mT,Spijkervet FK, et al. Growth factors and cytokines in the prevention and treatment of oral and gastrointestinal mucositis. Support Care Cancer. 2006 Jun; 14(6): 519-27.
11. barasch A,elad S,Altman A,Damato K,epstein J. Antimicrobials, mucosal coating agents, anesthetics, analgesics, and nutritional supplements for alimentary tract mucositis. Su-pport Care Cancer. 2006; 14: 528-532.
12. migliorati CA,oberle-edwards l,Schubert m. The role of alternative and natural agents, cryotherapy, and/or laser for the management of alimentary mucositis. Support Care Cancer. 2006 Jun; 14(6): 533-40.
13. mcGuire Db,Correa meP,Johnson J,Wienandts P. The role of basic oral care and good clinical practice principles in the management of oral mucositis. Support Care Cancer. 2006 Jun; 14(6): 541-7.
14. mcGuire Db,Johnson J,migliorati C. Promulgation of guidelines for mucositis manage-ment: educating health care professionals and patients. Support Care Cancer. 2006 Jun; 14(6): 548-57.
Pinho AP, Misorelli JC, Montelli R, Longato SE. Mucosite no paciente em tratamento de câncer.São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 145-60
158
Mini Revisão/Mini ReviewMedicina
ISSN 2176-9095
15. lalla rV,Schubert mm,bensadoun rJ,Keefe D. Anti-inflammatory agents in the manage-ment of alimentary mucositis. Support Care Cancer. 2006 Jun; 14(6): 558-65.
16. bensadoun rJ,Schubert mm,lalla rV,Keefe D. Amifostine in the management of ra-diation-induced and chemo-induced mucositis. Support Care Cancer. 2006 Jun; 14(6): 566-72.
17. brennan mT,bultzingslowen I,Schubert mm,Keefe D. Alimentary mucositis: putting the guidelines into practice. Support Care Cancer. 2006 Jun; 14(6): 573-9.
18. Trotti A,Colevas AD,Setser A, et al. Common Terminology Criteria for Adverse events version 3.0: development of a comprehensive grading system for the adverse effects of cancer treatment. Semin radiat oncol. 2003 Jul; 13(3): 176-81.
19. Cella D,Pulliam J,Fuchs H, et al. evaluation of pain associated with oral mucositis during the acute period after administration of high-dose chemotherapy. Cancer. 2003 Jul; 98(2):406-12.
20. Cleeland CS,bennett GJ,Dantzer r, et al. Are the symptoms of cancer and cancer tre-atment due to a shared biologic mechanism? A cytokine-immunologic model of cancer symptoms. Cancer. 2003 Jun 1: 97(11):2919-25.
21. Dodd mJ,miaskowski C,lee KA. occurrence of symptom clusters. J Natl Cancer Inst monogr. 2004; (32): 76-8.
22. eilers J,epstein Jb. Assessment and measurement of oral mucositis. Semin oncol Nurs. 2004 Feb; 20(1):22-9.
23. elting lS,Sonis ST,Keefe Dm. Treatment-induced gastrointestinal toxicity in patients with cancer. Proc Am Soc Clin oncol. 2004; 536-41
24. miaskowski C,Dodd m,lee K. Symptom clusters: the new frontier in symptom mana-gement research. J Natl Cancer Inst monogr. 2004; (32): 17-21.
25. Illman J,Corringham r,robinson D Jr, et al. Are inflammatory cytokines the common link between cancer-associated cachexia and depression? J Support oncol. 2005 Jan-Feb: 3(1):37-50.
26. Kim HJ,mcGuire Db,Tulman l. Symptom clusters: concept analysis and clinical implica-tions for cancer nursing. Cancer Nurs. 2005 Jul-Aug; 28(4):270-82 quiz 283-4.
27. Sonis ST,Peterson De,mcGuire Db,Williams DA, eds. mucosal injury in cancer pa-tients: new strategies for research and treatment. J Natl Cancer Inst monogr. 2001; (29): 1-54.
28. Keefe Dm. Gastrointestinal mucositis: a new biological model. Support Care Cancer. 2004; 12(1):6-9.
29. Peterson De,Sonis ST. executive summary. J Natl Cancer Inst monogr. 2004; 32: 3-5.
30. Sonis S,elting l,Keefe D. burden of illness and economic impact of mucosal injury (muI) in solid tumour - a multinational prospective observational study design. mASCC abs-tract. Support Care Cancer. 2006; 14: 633. Abstract 16-101.
Pinho AP, Misorelli JC, Montelli R, Longato SE. Mucosite no paciente em tratamento de câncer.São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 145-60
159
Mini Revisão/Mini ReviewMedicina
ISSN 2176-9095
31. mcGuire Db. barriers and strategies in implementation of oral care standards for can-cer patients. Support Care Cancer. 2003 Jul; 11(7): 435-441.
32. Stokman mA,Spijkervet FK,burlage Fr, et al. oral mucositis and selective elimination of oral flora in head and neck cancer patients receiving radiotherapy: a double-blind randomised clinical trial. br J Cancer. 2003 Apr 7; 88(7):1012-6.
33. el-Sayed S,Nabid A,Shelley W, et al. Prophylaxis of radiation-associated mucositis in conventionally treated patients with head and neck cancer: a double-blind, Phase III, randomized, controlled trial evaluating the clinical efficacy of an antimicrobial lozenge using a validated mucositis scoring system. JClin oncol. 2002 oct; 20(19): 3956-63.
34. Dodd mJ,miaskowski C,Greenspan D, et al. radiation-induced mucositis: a randomized clinical trial of micronized sucralfate versus salt and soda mouthwashes. Cancer Invest. 2003; 21(1):21-33.
35. ben-Josef e,Han S,Tobi m, et al. Intrarectal application of amifostine for the prevention of radiation-induced rectal injury. Semin radiat oncol. 2002 Jan; 12(1 suppl 1):81-5.
36. Kouvaris J,Kouloulias V,Kokakis J, et al. Cytoprotective effect of amifostine in radiation-induced acute mucositis: a retrospective analysis. onkologie. 2002 Aug; 25(4); 364-9.
37. ben-Josef e,Han S,Tobi m, et al. A pilot study of topical intrarectal application of ami-fostine for prevention of late radiation rectal injury. Int J radiat oncol biol Phys. 2002 Aug; 53(5):1160-4.
38. Athanassiou H,Antonadou D,Coliarakis N, et al. Protective effect of amifostine during fractionated radiotherapy in patients with pelvic carcinomas: results of a randomized trial. Int J radiat oncol biol Phys. 2003 Jul; 56(4):1154-60.
39. Kouvaris J,Kouloulias V,malas e, et al. Amifostine as radioprotective agent for the rectal mucosa during irradiation of pelvic tumors. A Phase II randomized study using various toxicity scales and rectosigmoidoscopy. Strahlenther onkol. 2003 mar; 179(3):167-74.
40. lorusso D,Ferrandina G,Greggi S, et al. Phase III multicenter randomized trial of ami-fostine as cytoprotectant in first-line chemotherapy in ovarian cancer patients. Ann oncol. 2003 Jul; 14(7): 1086-93.
41. epstein Jb,Silverman S Jr,Paggiarino DA, et al. benzydamine HCl for prophylaxis of radiation-induced oral mucositis: results from a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Cancer. 2001 Aug; 92(4): 875-85.
42. braun S,Hanselmann C,Gassmann mG, et al. Nrf2 transcription factor, a novel target of keratinocyte growth factor action which regulates gene expression and inflammation in the healing skin wound. mol Cell biol. 2002 Aug; 22(15): 5492-505.
43. Sonis ST. The pathobiology of mucositis. Nat rev Cancer. 2004 Apr; 4(4):277-84.
44. meropol NJ,Somer rA,Gutheil J, et al. randomized Phase I trial of recombinant human keratinocyte growth factor plus chemotherapy: potential role as mucosal protectant. J Clin oncol. 2003 Apr 15; 21(8):1452-8.
Pinho AP, Misorelli JC, Montelli R, Longato SE. Mucosite no paciente em tratamento de câncer.São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 145-60
160
Mini Revisão/Mini ReviewMedicina
ISSN 2176-9095
45. Spielberger r,Stiff P,bensinger W, et al. Palifermin for oral mucositis after intensive therapy for hematologic cancers. N engl J med. 2004 Dec; 351(25): 2590-8.
46. Aisa Y,mori T,Kudo m, et al. oral cryotherapy for the prevention of high-dose mel-phalan-induced stomatitis in allogeneic hematopoietic stem cell transplant recipients. Support Care Cancer. 2006 Apr; 14(4):392-5.
ISSN 2176-9095
161
Science in Health 2010 set-dez; 1(3): 161-9
Mini Revisão/Mini-ReviewMedicina ISSN 2176-9095
FISIoPAToloGIA Do TrANSTorNo AFeTIVo bIPolAr
PATHOPHysIOlOGy OF bIPOlAR DIsORDER
Ana Paula Pinho*
Joao Paulo Simoes domeni**
Vitor Marcelo Cortat Coca**
Sergio emerici Longato**
** Professora da Disciplina de Gestão do Curso de medicina da universidade Cidade de São Paulo** Alunos do Curso de medicina da universidade Cidade de São Paulo
Resumo
O distúrbio bipolar é um transtorno afetivo que se caracte-riza por altas taxas de suicídio e o prejuízo no desempenho das funções do dia-a-dia. Vários eventos podem levar a essa patologia, mas os mecanismos exatos ainda são desconhe-cidos. No transtorno bipolar, há uma rápida alternância de humor, acompanhada por sintomas maníaco-depressivos. Considerando tais questões, esta revisão teve como objeti-vo reunir informações sobre o transtorno bipolar, incluindo as hipóteses já existentes sobre a causa da doença, bem como de seus sintomas.
DescRitoRes: Mitocôndrias - Transtorno bipolar
ABstRAct
Bipolar disorder is a devastating major mental illness asso-ciated with higher rates of suicide and work loss. This disor-der presents many causes but the exact mechanisms under-lying its pathophysiology are still not understood. Affected patients present mood alterations characterized by depres-sive and manic episodes. The main symptoms are excessi-ve excitement, insomnia, appetite disorder, psychotics and suicidal tendencies. This article aims to review information about bipolar disorder and its pathophysiology. Besides, the etiology and main symptoms are discussed.
DescRiptoRs: Mitochondria - Bipolar disorder
Pinho AP, Domeni JPS, Coca VMC, Longato SE. Fisiopatologia do transtorno afetivo bipolarSão Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 161-9
162
Mini Revisão/Mini-ReviewMedicina
ISSN 2176-9095
Introduçãoo transtorno afetivo bipolar (TAb) é uma doença
crônica que afeta cerca de 1,6% da população (blazer1 2000, murray e lopes2 19997) e tem sido demons-trado que o TAb é um transtorno heterogêneo, com uma ampla variação de sintomatologia e curso (Acke-nheil3 2001).
Apesar dos avanços nos métodos de pesquisa em psicobiologia e do atual conhecimento sobre os me-canismos de ação dos estabilizadores de humor, a fisiopatologia do TAb está ainda distante de ser com-pletamente entendida. As teorias iniciais a respeito da fisiopatologia do TAb focaram-se particularmente no sistema de neurotransmissão das aminas biogênicas (ressler4 1999).
As manifestações comportamentais e fisiológicas do TAb são complexas e indubitavelmente mediadas por uma cadeia de circuitos neurais interconectados; logo, não é surpreendente que os sistemas cerebrais que receberam maior atenção nos estudos neuro-biológicos dos transtornos de humor tenham sido os monoaminérgicos, visto serem extensivamente dis-tribuídos nos circuitos límbico-estriado-córtex pré-frontal, regiões que controlam as manifestações com-portamentais dos transtornos de humor (brunello e Tascedda5 2003). Inicialmente, hipotetizou-se que a depressão e a mania resultariam de uma diminuição no transporte de transmissores no neurônio pré-si-náptico e/ou nas vesículas sinápticas.
As vesículas sinápticas, servindo como sistemas de “tampão”, não seriam capazes de exercer sua função plenamente, e um déficit tanto quanto um superflu-xo do neurotransmissor não seria satisfatoriamente contrabalançado.
uma resultante de maior flutuação do transmissor na fenda sináptica poderia, portanto, ser responsável pela flutuação do humor (blazer1 2000). entretanto, modelos de TAb focados em um único sistema de neurotransmissor ou neuromodulador não conse-guem explicar suficientemente as diversas apresenta-ções clínicas desse transtorno.
Diferentes estudos têm demonstrado que a re-gulação do humor envolve uma interação de múlti-plos sistemas e que a maioria dos fármacos efetivos provavelmente não atua sobre um sistema de neu-rotransmissão particular isoladamente, mas modula o balanço funcional entre os diversos sistemas que
interagem Chen et al.6 1999). Interações complexas entre sistemas neurais se-
mi-independentes, funcionando harmonicamente, são necessárias para a manutenção do apetite, do sono, da estabilização do peso e do interesse na atividade se-xual, funções neuro-vegetativas geralmente alteradas nos transtornos de humor (Davidson et al.7 2002).
De fato, estudos pós-mortem demonstraram di-minuição significativa de células gliais no córtex pré-frontal e sistema límbico e de células neuronais no córtex pré-frontal e hipocampo de indivíduos com TAb, (rajoska8 2002) corroborando os achados de alterações anatômicas e funcionais observados nos estudos de neuroimagem (Strakowisk et al.9 2000)
Além disso, estudos farmacológicos evidenciaram atividade neuroprotetora dos estabilizadores de hu-mor diante de uma série de modelos de neuroto-xicidade (Chuang et al.10 2002) e pesquisas recentes identificaram que a ação terapêutica desses fármacos envolve a regulação de diversos sistemas de sinaliza-ção intracelulares, segundos mensageiros e regulação da expressão gênica (li et al.11 2002).
Neurobiologia da regulação do humoro processo de geração de estados afetivos com-
plexos, isto é, a resposta sentimental e comporta-mental diante de diferentes estímulos (eventos es-tressantes) envolve:
1) a identificação do significado emocional do es-tímulo (estresse),
2) a produção de um estado afetivo específico em resposta ao estímulo e
3) a regulação da resposta afetiva e comportamen-tal, que envolve a modulação dos processos 1 e 2, passos necessários para a obtenção de uma resposta contextualmente apropriada (Phillips et al.12 2003).
estudos de estimulação e de neuroimagem funcio-nal em animais e humanos, incluindo pacientes com lesões cerebrais focais, demonstraram que a amígda-la, o córtex insular e o núcleo caudado participam do processo de identificação do significado emocional do estímulo (passo 1), enquanto que o córtex pré-frontal ventrolateral, o córtex orbitofrontal, o cór-tex insular, o giro cingulado anterior, a amígdala e o estriado participam da resposta afetiva diante dos estímulos (passo 2).
A regulação afetiva e comportamental, por sua vez
Pinho AP, Domeni JPS, Coca VMC, Longato SE. Fisiopatologia do transtorno afetivo bipolarSão Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 161-9
163
Mini Revisão/Mini-ReviewMedicina
ISSN 2176-9095
(passo 3), é desempenhada pelo córtex pré-frontal dorsolateral e dorsomedial, pelo hipocampo e pelo giro cingulado anterior dorsal. .( Davidson et al.7 2002, Phillips et al.12 2003)
estudos que avaliaram o desempenho de pacientes bipolares em tarefas cognitivas demonstraram preju-ízo nos testes de atenção e de memória de trabalho, além de dificuldade de reconhecimento de expres-sões faciais de medo, tristeza e alegria e tendência a perceber estímulos neutros como particularmente negativos (Phillips et al.13 2003).
esses achados são apoiados pelos estudos pós-mortem, que demonstraram diminuição significativa do número e densidade de células neuronais no cór-tex pré-frontal subgenual, dorsolateral e hipocampo8 e pelos estudos neurofuncionais, que observaram al-terações no metabolismo da amígdala, do córtex in-sular, orbitofrontal e cingulado anterior dorsal e na cabeça do caudado (Phillips et al.13 2003).
em conjunto, esses estudos sugerem que sintomas como labilidade afetiva, ciclagem depressão/mania e distratibilidade, comumente associados ao TAb, po-dem estar associados a essas alterações em regiões cerebrais envolvidas no processamento das emo-ções.
NeurotrANSMISSoreSSistema serotoninérgicoA serotonina (5-HT) modula diferentes atividades
neuronais e, desse modo, diversas funções fisiológi-cas e comportamentais, como controle de impulsos, agressividade e tendências suicidas (Shiah e Yathan14 2000).
Dessa forma, a diminuição da liberação e da ati-vidade da 5-HT podem estar associadas a algumas anormalidades como ideação suicida, tentativas de suicídio, agressividade e distúrbios do sono, achados frequentes nos transtornos bipolares (Ackenheil3 2001).
Desde a década de 70, Prange et al.15 (1974) su-geriram a participação da 5-HT na fisiopatologia do TAb, formulando a hipótese permissiva, na qual um déficit na neurotransmissão serotoninérgica central permitiria a expressão tanto da fase maníaca, quanto da depressiva; contudo, tais fases difeririam em rela-ção aos níveis de catecolaminas (noradrenalina e do-pamina) centrais, que estariam elevadas na mania e
diminuídas na depressão.Além disso, foi demonstrada diminuição dos níveis
de ácido 5-hidroxi-indolacético (5-HIAA), principal metabólito da serotonina, no liquido cefalo-raqueano de pacientes maníacos e deprimidos em comparação a controles normais, sugerindo que tanto a mania quanto a depressão estão associadas a uma redução na função serotoninérgica central.
um estudo pós-mortem de cérebros de pacientes com TAb também constatou níveis significativamen-te menores de 5-HIAA no córtex frontal e parietal, comparados com controles, fornecendo mais uma evidência para a hipótese de diminuição na ativida-de serotoninérgica central em transtornos bipolares (Young et al.16 1994)
estudos de desafio neuroendócrino, quando ana-lisados em conjunto, sugerem que a atividade pré-si-náptica da serotonina no SNC está diminuída, ao pas-so que a sensibilidade dos receptores pós-sinápticos está aumentada na mania (Shiah e Yathan14 2000).
2. Sistema dopaminérgicoum dos achados mais consistentes em relação ao
papel da dopamina na neurobiologia do TAb é o fato de agonistas dopaminérgicos diretos e indiretos simu-larem episódios de mania ou hipomania em pacientes com transtorno bipolar subjacente ou predisposição ao mesmo.1,5 Ackenheil3 (2001) sugeriu que, embo-ra os resultados não tenham sido consistentes, uma maior atividade dopaminérgica induzida por aumento da liberação, diminuição da capacidade de tampona-mento pelas vesículas sinápticas ou pela maior sensi-bilidade dos receptores dopaminérgicos pode estar associada ao desenvolvimento de sintomas maníacos, enquanto a diminuição da atividade dopaminérgica es-taria associada à depressão.
3. Sistema noradrenérgicoestudos descrevem uma subfunção desse sistema
nos estados depressivos. Nesses estados, um menor débito de noradrenalina e uma menor sensibilidade dos receptores α 2 são relatados, em contraste com uma tendência de maior atividade da noradrenalina em estados maníacos (Ackenheil3 2001).
Nesse sentido, baumann et al.17 (1999) observa-ram que indivíduos com TAb apresentaram um maior número de células pigmentadas no locus ceruleus, em
Pinho AP, Domeni JPS, Coca VMC, Longato SE. Fisiopatologia do transtorno afetivo bipolarSão Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 161-9
164
Mini Revisão/Mini-ReviewMedicina
ISSN 2176-9095
comparação com pacientes unipolares. Além disso, (Shiah e Yatham.14 2000) sugeriram que uma função serotoninérgica central diminuída, associada a uma função noradrenérgica aumentada, poderia estar en-volvida na gênese da mania.
Sistema GAbAérgicoDados clínicos indicam que um decréscimo na
função GAbAérgica acompanha os estados maníacos e depressivos, e que agonistas do GAbA possuem propriedades antidepressivas e antimaníacas (Petty18 1995) baixos níveis de GAbA foram encontrados no plasma de pacientes bipolares em depressão e mania (Petty et al.19 1993).
Sistema glutamatérgicoA participação desse sistema na etiologia do TAb
tem sido constatada por meio da ação dos estabiliza-dores do humor sobre a neurotransmissão glutama-térgica. o ácido valproico aumenta a concentração de glutamato em culturas de neurônios e cérebros de animais e também estimula a liberação de glutama-to no córtex cerebral do rato. Consequentemente, o aumento do glutamato pode induzir cronicamente mecanismos que mantêm o balanço do glutamato na sinapse por meio de um feedback negativo (li et al.11 2002). o ácido valproico também modula respostas fisiológicas mediadas por receptores N-metil-D-as-partato (NmDA), a-amino-3-hydroxy-5-metil-4-iso-xazol-ácido propiônico (AmPA) e ácido kaínico (KA) (lenox e Frazer20 2002).
A carbamazepina, por outro lado, suprime a libe-ração de glutamato, reduz a despolarização produ-zida por NmDA e bloqueia a elevação dos níveis de cálcio intracelular induzida por receptores NmDA e KA. o lítio agudamente aumenta as concentrações de glutamato na sinapse, cronicamente causando up-regulation da atividade do transportador.
Hipotetiza-se que, eventualmente, ocorra estabi-lização da neurotransmissão excitatória com o uso crônico de lítio (li et al.11 2002). Além disso, estudos recentes utilizando a técnica de espectroscopia por ressonância magnética demonstraram in vivo que pa-cientes bipolares apresentam aumento significativo da concentração de glutamina/glutamato no córtex pré-frontal dorsolateral e giro do cíngulo (michael et al.21 2003, Dager et al.22 2004)
Sinalização intracelular Apesar da gama de alterações observadas no nível
dos neurotransmissores e da interação desses com seus receptores, tem-se demonstrado que anormali-dades em rotas de sinalização intracelular estão dire-tamente relacionadas a uma série de alterações nos sistemas de neurotransmissão (manji e lenox23 2000, bezchlibnyk e Young24 2002). De fato, funções cere-brais de maior complexidade como o comportamen-to, o humor e a cognição são criticamente dependen-tes dos processos de transdução de sinal para o seu funcionamento adequado.
Além disso, enquanto os efeitos bioquímicos do tratamento de transtornos do humor sobre os neu-rotransmissores na junção sináptica são imediatos (horas), a resposta clínica ocorre mais tardiamente (dias-semanas), salientando a importância central dos eventos intracelulares, envolvendo a regulação da ex-pressão gênica e a plasticidade celular na regulação do humor (manji e lenox23 2000, bezchlibnyk e Young24 2002, Ghaemi et al.25 1999).
Proteínas G (proteínas ligantes de GTP) são mo-léculas que traduzem o sinal de um receptor trans-membrana a ela acoplado para os segundos mensa-geiros intracelulares. A especificidade da interação do receptor com uma proteína G em particular determi-na a natureza do mecanismo efetor ao qual o recep-tor ativado estará acoplado. As proteínas G realizam a transdução de sinal de mais de 80% das moléculas extracelulares de sinalização, incluindo hormônios, neurotransmissores e neuromoduladores. logo, são interessantes candidatas para anormalidades envol-vendo a comunicação entre múltiplos sistemas neu-rais (Gould e manji26 2002).
Dois estudos iniciais demonstraram um aumento dos níveis da proteína G estimulatória (G) no córtex frontal, temporal e occipital de indivíduos com TAb, (Young et al.27 1991, Young et al.28 1993) enquanto outro estudo demonstrou um aumento da atividade da G, quando estimulada por agonista (Friedman e Wang29 1996) em um estudo mais recente, foi de-monstrado um aumento significativo da G entre os pacientes que não estavam em uso de lítio, mas não houve diferenças entre o total dos pacientes e os vo-luntários normais, sugerindo uma possível ação do lí-tio na atividade da G (Dowlatshahi et al.30 1999) Além disso, estudos com marcadores periféricos também demonstraram alterações dos níveis de G em pa-
Pinho AP, Domeni JPS, Coca VMC, Longato SE. Fisiopatologia do transtorno afetivo bipolarSão Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 161-9
165
Mini Revisão/Mini-ReviewMedicina
ISSN 2176-9095
cientes com TAb, (Spleiss et al.31 1998, Avissar et al.32 1997, mitchel et al.33 1997) sugerindo que alterações dessa proteína podem estar envolvidas na fisiopato-logia do TAb.
rota de sinalização da adenilato ciclaseA adenilato ciclase é uma enzima que converte o
ATP no segundo mensageiro AmP cíclico (AmPc). A proteína Gs está envolvida na estimulação da adenila-to ciclase, ao passo que a proteína Gi inibe essa enzi-ma, sendo que a maioria dos receptores que regulam a ação do AmPc o fazem através do seu efeito em uma dessas proteínas G.
um efeito central do AmPc é a ativação da proteí-na quinase A (PKA), uma enzima que regula canais iô-nicos, elementos do citoesqueleto e fatores de trans-crição, constituindo, desse modo, um passo crítico nas modificações neurobiológicas duradouras. um dos fatores de transcrição fosforilados e modulados pela PKA é a AmPc response element binding protein (Creb), que regula numerosos processos neuronais, incluindo excitação, desenvolvimento e apoptose de neurônios e plasticidade sináptica (Walton e Dragu-now34 2000)
estudos pós-mortem e com células periféricas têm demonstrado, com consistência, aumento da ativida-de da adenilato ciclase, AmPc e da PKA em pacientes com TAb.35-36 Além disso, estudos farmacológicos têm demonstrado que o lítio, ácido valpróico e a car-bamazepina possuem ação regulatória nessa via de sinalização (lenox e Frazer20 2002).
rota de sinalização do fosfatidilinositolA ativação de um receptor acoplado à cascata do
fosfatidilinositol (PIP2) estimula uma proteína efetora chamada fosfolipase C, que induz a formação de dois importantes segundos-mensageiros: o diacilglicerol (DAG) e o inositol-1,4,5-trifosfato (IP3). A DAG, por sua vez, ativa a proteína quinase C (PKC), envolvida em processos celulares incluindo secreção, exocito-se, expressão gênica, modulação da condução iônica, proliferação celular e down-regulation de receptores extracelulares. o IP3 regula a liberação das reservas de cálcio intracelular armazenadas no retículo endo-plasmático. o cálcio liberado interage com numerosas proteínas celulares, incluindo um grupo de recepto-res sensíveis ao cálcio intracelular denominado cal-
modulinas (Cam), que ativam proteínas quinases de-pendentes de calmodulina (CamK), levando à ativação de canais iônicos, moléculas sinalizadoras, apoptose e fatores de transcrição (Gould e manji26 2002)
brown et al.37 (1993) observaram níveis aumenta-dos de PIP2 em plaquetas de bipolares maníacos. esse achado também foi observado na fase depressiva, (So-ares et al.38 2001) enquanto outros estudos encon-traram níveis diminuídos após tratamento com lítio. (Soares et al.39 2000, Soares et al.40 1999) Da mesma forma, estudos pós-mortem e com células periféricas evidenciaram um aumento dos níveis de PKC em indi-víduos com TAb (Wang e Friedman41 1996, Wang et al.42 1999) e subsequente diminuição pelo tratamento com o lítio (manji et al.43 1993). De fato, a ação do lítio nessa via de sinalização foi demonstrada em dois estudos com espectroscopia por ressonância magné-tica (erm), que demonstraram que o lítio diminui sig-nificativamente os níveis de myo-inositol, diminuindo, assim, a atividade dessa via de sinalização (moore et al.44 1999, Davanzo et al.45 2001).
utilizando a técnica de erm, nosso grupo recente-mente demonstrou que bipolares em episódio maní-aco apresentam níveis significativamente aumentados de myo-inositol no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, em comparação a voluntários normais.
regulação da expressão gênica e neuroproteçãoA regulação das diversas cascatas de sinalização
intracelular modula os fatores de transcrição gênica, proteínas que se ligam a genes específicos no DNA, induzindo a formação de novas proteínas envolvidas na plasticidade celular. Dessa forma, alterações em qualquer nível da cascata podem provocar a morte celular através da formação de proteínas pró-apop-tóticas ou da diminuição dos fatores de proteção/sobrevivência celular, como as neurotrofinas e pro-teínas estabilizadoras do citoesqueleto.
estudos farmacológicos demonstraram com con-sistência que o lítio aumenta a sobrevivência celular em uma série de modelos de neurotoxicidade.10 mais especificamente, o lítio promoveu aumento significa-tivo da expressão da bcl-2 e do bDNF, proteínas en-volvidas com neuroproteção (Chen e Chuang46 1999, Hashimoto et al.47 1997) e inibição da atividade da GSK3-b, uma proteína associada à apoptose, (Hong et al.48 1997) enquanto o ácido valproico e, mais recen-
Pinho AP, Domeni JPS, Coca VMC, Longato SE. Fisiopatologia do transtorno afetivo bipolarSão Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 161-9
166
Mini Revisão/Mini-ReviewMedicina
ISSN 2176-9095
RefeRênciAs
1. blazer DG. mood disorders: epidemiology. In: Sadock bJ, Sadick VA,editors. Kaplan & Sadock’s comprehensive textbook of psychiatry. 7th ed. Philadelphia: lippincott Willia-ms & Wilkins, c2000. p. 1298-308.
2. murray CJ, lopez AD. Global mortality, disability, and the contribution of risk factors: Global burden of Disease Study. lancet. 1997 may; 349(9063):1436-42.
3. Ackenheil m. Neurotransmitters and signal transduction processes in bipolar affective disorders: a synopsis. J Affec Disord. 2001 Jan; 62(1-2):101-11.
4. ressler KJ, Nemeroff Cb. role of norepinefrine in the pathophysiology and treatment of mood disorders. biol Psychiatry. 1999 Nov; 46(9):1219-33.
5. brunello N, Tascedda F. Cellular mechanisms and second messengers:relevance to the psychopharmacology of bipolar disorders. Int J Neuropsychopharmacol. 2003 Jun; 6(2):181-9.
6. Chen G, Hasanat KA, bebchuk Jm, moore GJ, Glitz D, manji HK.regulation of signal transduction pathways and gene expression by mood stabilizers and antidepressants. Psychosom Med. 1999 Sep-oct; 61(5):599-617.
7. Davidson rJ, lewis DA, Alloy lb, Amaral DG, bush G, Cohen JD, et al.Neural and behavioral substrates of mood and mood regulation. biol Psychiatry. 2002 Sep 15; 52(6):478-502.
8. rajkowska G. Cell pathology in bipolar disorder. bipolar Disord. 2002 Apr; 4(2):105-16.
9. Strakowski Sm, Delbello mP, Adler C, Cecil Dm, Sax KW. Neuroimaging in bipolar disorder. bipolar Disord. 2000 Sep; 2(3 Pt 1):148-64.
10. Chuang Dm, Chen rW, Chalecka-Franaszek e, ren m, Hashimoto r, Senatorov V, et al. Neuroprotective effects of lithium in cultured cells and animal models of diseases. bipolar Disord. 2002 Apr; 4(2):129-36.
11. li X, Ketter TA, Frye mA. Synaptic, intracellular and neuroprotective mechanisms of anticonvulsants: are they relevant for the treatment and course of bipolar disorders? J Affect Disord. 2002 may; 69(1-3):1-14.
12. Phillips ml, Drevets WC, rauch Sl, lane r. Neurobiology of emotion perception I: The neural basis of normal emotion perception. biol Psychiatry. 2003 Sep1; 54(5):504-14.
temente, a lamotrigina, também demonstraram efei-to inibitório na atividade da GSK3-b (li et al.49 2002) Além disso, a regulação da estabilidade do rNAm du-rante a fase de transcrição gênica e formação de no-vas proteínas é um fator essencial na resposta celular em situações de estresse. Nesse sentido, Chen et al.50 (2001) demonstraram que o lítio e o ácido valproico
aumentam a expressão da proteína AuH, uma das proteínas que estabilizam o rNAm durante a fase de transcrição; desse modo, esses fármacos são capazes de regular a expressão de múltiplos genes no SNC, efeito este que pode ter um papel central no trata-mento de uma doença complexa como o TAb.
Pinho AP, Domeni JPS, Coca VMC, Longato SE. Fisiopatologia do transtorno afetivo bipolarSão Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 161-9
167
Mini Revisão/Mini-ReviewMedicina
ISSN 2176-9095
13. Phillips ml, Drevets WC, rauch Sl, lane r. Neurobiology of emotion perception II: Implications for major psychiatric disorders. biol Psychiatry. 2003 Sep1; 54(5):515-28. review.
14. Shiah IS, Yatham lN. Serotonin in mania and in the mechanism of action of mood sta-bilizers: a review of clinical studies. bipolar Disord. 2000 Jun; 2(2):77-92.
15. Prange AJ Jr, Wilson IC, lynn CW, Alltop lb, Stikeleather rA. ltryptophan in mania. Contribution to a permissive hypothesis of affective disorders. Arch Gen Psychiatry. 1974 Jan; 30(1):56-62.
16. Young lT, Warsh JJ, Kish SJ, Shannak K, Hornykeiwicz o. reduced brain 5-HT and elevated Ne turnover and metabolites in bipolar affective disorder. biol Psychiatry. 1994 Jan15; 35(2):121-7.
17. baumann b, Danos P, Krell D, Diekmann S, Wurthmann C, bielau H,et al. unipolar-bipolar dichotomy of mood disorders is supported by noradrenergic brainstem system morphology. J Affect Disord. 1999 Jul; 54(1-2):217-24.
18. Petty F. GAbA and mood disorders: a brief review and hypothesis. J Affect Disord. 1995 Aug; 34(4): 275-81.
19. Petty F, Kramer Gl, Fulton m, moeller FG, rush AJ. low plasma GAbA is a trait-like marker for bipolar illness. Neuropsychopharmacology.1993 Sep; 9(2):125-32.
20. lenox rH, Frazer A. mechanism of action of antidepressants and mood stablizers. In: Davis Kl, Charney D, Coyle JT, Nemeroff C, editors. Neuropsychopharmacology: the fifth generation of progress. lippincott Williams & Wilkins; 2002. p. 1139-63.
21. michael N, erfurth A, ohrmann P, Gossling m, Arolt V, Heindel W,Pfleiderer b. Acute mania is accompanied by elevated glutamate/glutamine levels within the left dorsolate-ral prefrontal cortex. Psychopharmacology(berl). 2003 Jul; 168(3):344-6.
22. Dager Sr, Friedman SD, Parow A, Demopulos C, Stoll Al, lyoo IK, etal. brain meta-bolic alterations in medication-free patients with bipolar disorder. Arch Gen Psychiatry. 2004 may; 61(5):450-8.
23. manji HK, lenox rH. Signaling: cellular insights into the pathophysiology of bipolar disorder. biol Psychiatry. 2000 Sep15; 48(6):518-30.
24. bezchlibnyk Y, Young lT. The neurobiology of bipolar disorder: focus on signal trans-duction pathways and the regulation of gene expression. Can J Psychiatry. 2002 mar; 47(2):135-48. review.
25. Ghaemi SN, boiman ee, Goodwin FK. Kindling and second messengers:an approa-ch to the neurobiology of recurrence in bipolar disorder. biol Psychiatry. 1999 Jan15; 45(2):137-44.
26. Gould TD, manji HK. Signaling networks in the pathophysiology and treatment of mood disorders. J Psychosom Res. 2002 Aug; 53(2):687-97.review.
27. Young lT, li PP, Kish SJ, Siu KP, Warsh JJ. Postmortem cerebral cortex Gs alpha-subunit levels are elevated in bipolar affective disorder. brain Res. 1991 Jul 12; 553(2):323-6.
Pinho AP, Domeni JPS, Coca VMC, Longato SE. Fisiopatologia do transtorno afetivo bipolarSão Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 161-9
168
Mini Revisão/Mini-ReviewMedicina
ISSN 2176-9095
28. Young lT, li PP, Kish SJ, Siu KP, Kamble A, Hornykiewicz o, Warsh JJ.Cerebral cortex Gs alpha protein levels and forskolin-stimulated cyclicAmP formation are increased in bipolar affective disorder. J Neurochem.1993 Sep; 61(3):890-8.
29. Friedman e, Wang HY. receptor-mediated activation of G proteins is increased in postmortem brains of bipolar affective disorder subjects. J Neurochem. 1996 Sep; 67(3):1145-52.
30. Dowlatshahi D, macQueen Gm, Wang JF, reiach JS, Young lT. G Protein-coupled cyclic AmP signaling in postmortem brain of subjects with mood disorders: effects of diagno-sis, suicide, and treatment at time of death. J Neurochem. 1999 Sep; 73(3):1121-6.
31. Spleiss o, van Calker D, Scharer l, Adamovic K, berger m, Gebicke-Haerter PJ. Ab-normal G protein alpha(s)- and alpha(i2)-subunit mrNA expression in bipolar affective disorder. Mol Psychiatry. 1998 Nov; 3(6):512-20.
32. Avissar S, Nechamkin Y, barki-Harrington l, roitman G, Schreiber G. Differential G protein measures in mononuclear leukocytes of patients with bipolar mood disorder are state dependent. J Affect Disord.1997 Apr; 43(2):85-93.
33. mitchell Pb, manji HK, Chen G, Jolkovsky l, Smith-Jackson e, Denicoff K, et al. High levels of Gs alpha in platelets of euthymic patients with bipolar affective disorder. Am J Psychiatry. 1997 Feb; 154(2):218-23.
34. Walton mr, Dragunow I. Is Creb a key to neuronal survival? Trends Neurosci. 2000 Feb; 23(2):48-53.
35. Perez J, Zanardi r, mori S, Gasperini m, Smeraldi e, racagni G.Abnormalities of cAmP-dependent endogenous phosphorylation in platelets from patients with bipolar disor-der. Am J Psychiatry. 1995 Aug; 152(8):1204 6.
36. Chang A, li PP, Warsh JJ. Altered cAmP-dependent protein kinase subunit immunola-beling in post-mortem brain from patients with bipolar affective disorder. J Neurochem. 2003 Feb; 84(4):781-91.
37. brown AS, mallinger AG, renbaum lC. elevated platelet membrane phosphatidylinosi-tol-4,5-bisphosphate in bipolar mania. Am J Psychiatry. 1993 Aug; 150(8);1252-4.
38. Soares JC, Dippold CS, Wells KF, Frank e, Kupfer DJ, mallinger AG. Increased platelet membrane phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate in drug-free depressed bipolar pa-tients. Neurosci lett. 2001 Feb 21; 299(1-2):150-2.
39. Soares JC, Chen G, Dippold CS, Wells KF, Frank e, Kupfer DJ, et al.Concurrent mea-sures of protein kinase C and phosphoinositides in lithiumtreated bipolar patients and healthy individuals: a preliminary study. Psychiatry Res. 2000 Aug; 95(2):109-18.
40. Soares JC, mallinger AG, Dippold CS, Frank e, Kupfer DJ. Platelet membrane phospho-lipids in euthymic bipolar disorder patients: are they affected by lithium treatment? biol Psychiatry. 1999 Feb 15; 45(4):453-7.
41. Wang HY, Friedman e. enhanced protein kinase C activity and translocation in bipolar affective disorder brains. biol Psychiatry.1996 oct 1; 40(7):568-75.
Pinho AP, Domeni JPS, Coca VMC, Longato SE. Fisiopatologia do transtorno afetivo bipolarSão Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 161-9
169
Mini Revisão/Mini-ReviewMedicina
ISSN 2176-9095
42. Wang HY, markowitz P, levinson D, undie AS, Friedman e. Increased membrane-associated protein kinase C activity and translocation in blood platelets from bipolar affective disorder patients. J Psychiatr Res.1999 mar-Apr; 33(2):171-9.
43. manji HK, etcheberrigaray r, Chen G, olds Jl. lithium decreases membrane-associated protein kinase C in the hippocampus: selectivity for the alpha isozyme. J Neurochem. 1993 Dec; 61(6):2303-10.
44. moore GJ, bebchuk Jm, Parrish JK, Faulk mW, Arfken Cl, Strahl-bevacqua J, man-ji HK. Temporal dissociation between lithium-induced changes in frontal lobe myo-inositol and clinical response in manicdepressive illness. Am J Psychiatry. 1999 Dec; 156(12):1902-8.
45. Davanzo P, Thomas mA, Yue K, oshiro T, belin T, Strober m, mcCrocken J. Decreased anterior cingulate myo-inositol/creatine spectroscopy resonance with lithium treat-ment in children with bipolar disorder. Neuropsychopharmacology. 2001 Apr; 24(4):359-69.
46. Chen rW, Chuang Dm. long term lithium treatment suppresses p53 and bax ex-pression but increases bcl-2 expression. A prominent role in neuroprotection against excitotoxicity. J biol Chem. 1999 mar5; 274(10):6039-42.
47. Hashimoto r, Takei N, Shimazu K, Christ l, lu b, Chuang Dm.lithium induces brain-derived neurotrophic factor and activates Trkb in rodent cortical neurons: an essential step for neuroprotection against glutamate excitotoxicity. Neuropharmacology. 2002 Dec; 43(7):1173-9.
48. Hong m, Chen DC, Klein PS, lee Vm. lithium reduces tau phosphorylation by inhibi-tion of glycogen synthase kinase-3. J biol Chem. 1997 oct 3; 272(40):25326-32.
49. li X, bijur GN, Jope rS. Glycogen synthase kinase 3beta, mood stabilizers, and neuro-protection. bipolar Disord. 2002 Apr; 4(2):137-44.
50. Chen G, Huang lD, Zeng WZ, manji H. mood stabilizers regulate cytoprotective and mrNA-binding proteins in the brain: long-term effects on cell survival and transcript stability. Int J Neuropsychopharmacol. 2001 mar; 4(1):47-64.
170
Science in Health 2010 set-dez; 1(3): 170-8
ISSN 2176-9095
A uTIlIZAÇÃo DA FIloSoFIA Do TrATAmeNTo reSTAurADor ATrAumÁTICo (ArT) NA PArCerIA eNSINo-SerVIÇo. PArCerIA uNICID - muNICÍPIo De ITAPIrA-SP: relATo De
eXPerIÊNCIA eXIToSA
THE UsE OF ATRAUMATIC REsTORATIVE TREATMENT (ART) PHIlOsOPHy IN PARTNERsHIP bETWEEN UNICID AND ITAPIRA CITy - sP: REPORT OF A sUCCEssFUl ExPERIENCE
gerson Lopes*
Vladen Vieira**
** mestre em odontopediatria. Prof. da universidade Cidade de São Paulo. uNICID** especialista e mestre em Saúde Pública. Coordenador da Atenção básica do município de Itapira
Resumo
O Programa implica em envolver os alunos de Odontologia no desenvolvimento de ações integradas, nas quais os diver-sos atores estejam engajados em amplas intervenções para promover saúde, participando no planejamento de ações coletivas, rompendo com a restrita visão técnica e indivi-dualista do processo saúde-doença bucal. Visa à formação de um cirurgião-dentista capaz de desempenhar seu papel no âmbito do SUS, com comprometimento social, maior participação em atividades globais, integradas às estruturas acadêmicas. O grande desafio está em superar um modelo centrado no diagnóstico de doenças e orientado para o tra-tamento invasivo, com tecnologia de alto custo, e, por ou-tro lado, centrar-se no diagnóstico integral, na Promoção da Saúde, na prevenção de doenças e no cuidado vigilante das pessoas da comunidade onde o cirurgião-dentista está inse-rido. Os movimentos mundiais em prol das mudanças nos projetos educacionais e a valorização recente da Promoção da Saúde podem oferecer um bom roteiro para essa agenda de mudanças. A reorientação dos serviços é um fenômeno observável em várias partes do mundo, já que acompanha a dinâmica mundial de reestruturação de Sistemas Nacionais de Saúde; espera-se que essa ideia-força, já presente no Brasil a partir de 1988, seja capaz de influenciar definitiva-mente o planejamento político-pedagógico das instituições de ensino e a organização e gestão dos serviços de saúde bucal, repercutindo favoravelmente para a sociedade e para os profissionais da Odontologia.
DescRitoRes: Tratamento dentário restaurador sem trauma • Promoção de Saúde • Saúde bucal.
ABstRAct
The Program involves the development of integrated ac-tions, where various actors are engaged in extensive in-terventions to promote health, participating in planning collective actions, breaking with the strict technical and individualistic vision of the health mouth-disease. It aims at training a dentist to be able to play his role in the SUS, with social commitment, greater participation in global activities, integrated into academic structures. The challenge is to overcome a model based on disease diagnosis and treat-ment oriented invasive, expensive technology and to focus on comprehensive diagnosis in health promotion, disease prevention and care of people in the watchful community where the dentist is inserted. The global movement in sup-port of changes in educational projects and the recent ap-preciation of the Health Promotion can offer a good script for this change agenda. The redirection of services is a phe-nomenon observable in many parts of the world, since it follows the global trend of restructuring of National Health Systems and it is hoped that this idea-power, already pre-sent in Brazil after 1988, is capable of influencing the final political-pedagogical planning of educational institutions and organization and management of oral health services, im-pacting positively on society and professionals in dentistry.
DescRiptoRs: Dental atraumatic restorative tratament • Health promotion • Oral health.
odontologia Ponto de vista/Point of view
Lopes G, Vieira V. A utilização da filosofia do Tratamento Restaurador Atraumático (ART) na parceria ensino-serviço. Parceria UNICID - Município de Itapira-SP: Relato de experiência exitosa • São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 170-8
171
Ponto de vista/Point of viewodontologia
ISSN 2176-9095
INtroduçãoDesde início do século XX, o brasil vem apre-
sentando movimentos para modificar estruturas e práticas na área da saúde, inclusive na saúde bucal. Na VII Conferência Nacional de Saúde1 (1980), as conclusões apresentadas, em relação à participação da odontologia nos serviços básicos de saúde, foram que o modelo de prática e assistência caracterizava-se pela ineficácia, ineficiência, descoordenação, má distribuição, baixa cobertura, alta complexidade, en-foque curativo, caráter mercantilista e monopolista e inadequação no preparo de recursos humanos. Tal inadequação é caracterizada pela formação de pro-fissionais de maneira desvinculada das reais necessi-dades do País, precocemente direcionados para as especialidades e totalmente dissociados das caracte-rísticas dos serviços, onde deveriam atuar. Notando-se que mesmo quando aborda aspectos técnicos, o faz utilizando-se de mecanismos formais, já superados por procedimentos comprovadamente mais ágeis e de menor custo, como o treinamento ou preparação em serviço.
mais adiante, em 1986, na VIII Conferência Na-cional de Saúde2 e 1ª Conferência Nacional de Saúde bucal, um marco e, certamente um divisor de águas dentro do movimento pela reforma Sanitária, foram criadas as bases para as propostas de reestruturação do Sistema de Saúde brasileiro a serem defendidas na Assembleia Nacional Constituinte, instalada no ano seguinte. o relatório da Conferência, entre outras propostas, destaca o conceito ampliado de saúde, a qual é colocada como direito de todos e dever do es-tado, e, em seu sentido mais abrangente, é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde.
em 1988, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou a nova Constituição brasileira, incluindo, pela primeira vez, uma seção sobre a Saúde, incor-porando, em grande parte, os conceitos e propostas da VIII Conferência Nacional de Saúde2, podendo-se dizer que, na essência, a Constituição adotou a pro-posta da reforma Sanitária.
A Constituição, no Título VIII (Da ordem Social), Capítulo II (Da Seguridade Social), Seção II (Da Saú-de), no Art. 196 afirma que “A saúde é direito de
todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso univer-sal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. e, no Art. 200, ao Sistema único de Saúde - SuS compete, além de outras atri-buições, “ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde”.
em consonância, a resolução do Conselho Nacio-nal de educação/Câmara de educação Superior (CNe/CeS)3 instituiu, em fevereiro de 2002, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em odontologia, que em seu Art. 3º afirma que “o curso de Graduação em odontologia tem como perfil do formando egresso/profissional, o Cirurgião-dentista, com formação generalista, humanista, crítica e refle-xiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saú-de, com base no rigor técnico e científico. Capacitado ao exercício de atividades referentes à saúde bucal da população, pautado em princípios éticos, legais e na compreensão da realidade social, cultural e econômi-ca do seu meio, dirigindo sua atuação para a transfor-mação da realidade em benefício da sociedade”.
De acordo ainda com essas diretrizes, a formação do cirurgião-dentista tem como objetivos a atuação multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar como forma de participação e contribuição social, o desenvolvimento da assistência odontológica indivi-dual e coletiva, a administração e o planejamento de serviços de saúde comunitária.
em 2004, o relatório final da 3ª Conferência Na-cional de Saúde bucal4 reforça a necessidade de es-tabelecimento de estágios e convênios afirmando: “Promover a mudança dos cenários de práticas nos cursos de graduação por meio da realização de con-vênios entre as instituições de ensino superior e as secretarias estaduais e municipais, possibilitando contato direto dos estudantes de odontologia com a realidade social, incluindo a prestação de serviços odontológicos, durante o período de um ano junto à comunidade carente” (brasil5, 2007).
Visando, então, a aproximação entre a graduação no ensino superior e as necessidades da atenção à saúde, por meio da parceria entre o ministério da Saúde e o ministério da educação, foi lançado em 2005 o Programa Nacional de reorientação da For-mação Profissional em Saúde - Pró-Saúde.
Lopes G, Vieira V. A utilização da filosofia do Tratamento Restaurador Atraumático (ART) na parceria ensino-serviço. Parceria UNICID - Município de Itapira-SP: Relato de experiência exitosa • São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 170-8
172
Ponto de vista/Point of viewodontologia
ISSN 2176-9095
busca-se com este programa a intervenção no processo formativo para que os programas de gra-duação possam deslocar o eixo de formação – cen-trado na assistência individual prestada em unidades especializadas – usando outro processo em que a for-mação esteja sintonizada com as necessidades sociais, calcada na proposta de hierarquização das ações de saúde e que levem em conta as dimensões sociais, econômicas e culturais da população.
A educação dos profissionais deve ser entendida como processo permanente, que se inicia na gradua-ção, mediante o estabelecimento de parcerias entre as instituições de ensino superior, os serviços de saú-de, a comunidade, as entidades e outros setores da sociedade civil e mantida na vida profissional.
buscando a potencialização dessas relações de parcerias, foi criado o Projeto Sorria Itapira, que ca-minha para a universalização ao realizar ações capa-zes de transcendência social e setorial. Parceria esta, realizada por meio do Termo de Cooperação Técni-ca Didática e Científica, celebrada entre a Prefeitura municipal de Itapira e a universidade Cidade de São Paulo – uNICID, junto ao curso de odontologia.
este Projeto implica em envolver os alunos de odontologia no desenvolvimento de ações integra-das, onde os diversos atores estejam engajados em amplas intervenções para promover saúde, partici-pando no planejamento de ações coletivas, rompendo com a restrita visão técnica e individualista do pro-cesso saúde-doença bucal.
o trabalho de parcerias é hoje apontado como uma das principais armas no combate à desigualda-de social e na busca da humanização das sociedades modernas. este tipo de trabalho traz resultados im-portantes para as comunidades atendidas e cria apro-ximações fundamentais para toda a sociedade.
A universidade, no desenvolvimento deste pro-jeto, visa a formação de um cirurgião-dentista capaz de desempenhar seu papel no âmbito do SuS, com comprometimento social, maior participação em ati-vidades globais, integradas às estruturas acadêmicas.
Há que se considerar, atualmente, a existência de elementos capazes de dificultar o processo de mudan-ça. De um lado, os estudantes, que, apesar de sensi-bilizados ao participarem de projetos de saúde bucal coletiva, não são seduzidos totalmente, como fazem as disciplinas clínico-assistenciais. e de outro, os pro-
fessores, basicamente especialistas, que apresentam dificuldades que podem estar situadas no campo da resistência ideológica e/ou na insegurança perante o desafio em participar de um processo de mudança no perfil de formação profissional, geralmente pautado em modelo desconectado entre o biológico e o so-cial, para o qual não se sente devidamente preparado. Aspecto este de importância fundamental e que foi abordado na 43º reunião da Associação brasileira de ensino odontológico – AbeNo6 (2008) com o tema “o Dilema do Professor especialista no ensino Ge-neralista”.
É neste contexto que o programa de parceria en-sino-serviço foi criado para contribuir no processo de formação dos alunos de graduação e na melhoria das condições bucais da população atendida.
o ProJeToem março de 2007, com a assinatura do Termo
de Cooperação Técnica Didática e Científica entre a Prefeitura municipal de Itapira e a universidade Cida-de de São Paulo – uNICID, o Coordenador de Saúde bucal, professores e estudantes do 3° ano do Curso de odontologia desenvolveram as etapas e estraté-gias de ação do projeto, baseados na avaliação situa-cional e epidemiológica do município.
Avaliação Situacional e epidemiológica em Saúde bucal
o município de Itapira fica localizado no interior do estado de São Paulo, a 175 km da cidade de São Paulo, com uma população de 68.396 habitantes e 98% de taxa de urbanização em 2007.
A saúde bucal no município é universalizada, ba-seada em ações coletivas (procedimentos coletivos) implantadas em 1992 e de assistência individual, com ações programáticas para pré-escolares, escolares (ensino fundamental e médio), gestantes, adultos e idosos e a urgência é assegurada a todos os cida-dãos.
um dos problemas de saúde bucal enfrentado pelo município era o alto índice de cárie dentária em pré-escolares das emeIs (escola municipal de ensino Infantil), com prevalência do componente cariado, acompanhado pelo fenômeno da “polarização”.
em levantamento epidemiológico realizado em 2005, foi encontrado índice ceo para 5 anos de idade cronológica = 2,15 com a seguinte distribuição per-
Lopes G, Vieira V. A utilização da filosofia do Tratamento Restaurador Atraumático (ART) na parceria ensino-serviço. Parceria UNICID - Município de Itapira-SP: Relato de experiência exitosa • São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 170-8
173
Ponto de vista/Point of viewodontologia
ISSN 2176-9095
centual de seus componentes:
Tabela 1- Distribuição percentual dos componentes do ín-dice de ceo do município de Itapira, aos 5 anos de idade. 2005
Cariados 62,8%
obturados 33,5%
extraídos 3,7%
baseados nesses dados, nas necessidades de aten-ção à população e no perfil de formação dos estudan-tes de odontologia, o projeto foi assim definido:
1. Público-alvo- Pré-escolares das emeIs do município de Itapira- Alunos do 3° ano (5° e 6° semestres) do Curso
de odontologia da uNICID
2. objetivos2.1 - Para pré-escolares:- melhoria do quadro epidemiológico. - Desenvolver ações para crianças matriculadas
em escolas de educação infantil, colaborando com o sistema de saúde bucal do município, favorecendo o acesso à assistência devido à alta demanda.
- realizar tratamento das necessidades acumula-das.
- Dar maior atenção às crianças identificadas com maior ceo e maiores necessidades de tratamento (grupo polarizado).
- Ampliação da cobertura do atendimento aos pré-escolares.
2.2 - Para os alunos do Curso de odontologia:- Contribuir para a formação de Cirurgiões-den-
tistas com perfil proposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de odontologia.
- Sensibilização e capacitação dos alunos para tra-balhar em Saúde Coletiva, em todos os níveis de pre-venção, desenvolvendo as competências, habilidades e conteúdos necessários para esse tipo de atuação.
- Desenvolver ações integradas, engajadas em am-plas intervenções multissetoriais para promover saú-de, participando no planejamento de ações coletivas e/ou influenciando decisões de saúde.
- Desenvolver atividades que os capacitem a cons-truir e gerenciar programas em saúde bucal, em to-
dos os níveis de prevenção.- Possibilitar o estudo e a realização de trabalhos
científicos que deem subsídios para a melhoria da saúde da população envolvida.
- Capacitação para estabelecer sistemas de tria-gem e encaminhamento, identificar e avaliar tendên-cias e realizar estudos comparativos de saúde bucal.
- Capacitação para trabalhar com educação em Saúde, estratégias de utilização do flúor, métodos de controle de placa bacteriana e tratamento restaura-dor atraumático (ArT).
3. metas A serem atingidas em um período de 6 anos:- redução de 50% no índice CPo aos 12 anos.- assegurar acesso a 100% das crianças matricula-
das nas emeIs.- realizar tratamento em 100% das crianças matri-
culadas nas emeIs.- sensibilização de 100% dos alunos de odontolo-
gia para promoção da saúde e prevenção das doenças bucais.
- capacitar 100% dos alunos na filosofia do Trata-mento restaurador Atraumático (ArT).
4. Seleção de estratégias (metodologia)4.1- etapa Preparatória- Avaliação do plano de ensino do curso de gradu-
ação em odontologia da instituição.- Sensibilização e constituição de grupo de profes-
sores para coordenação do programa.- estudo do Sistema único de Saúde, epidemiolo-
gia, Principais Problemas de Saúde bucal, estratégias de Promoção, Prevenção e recuperação da Saúde bucal, elaboração de Programas em Saúde bucal.
4.2 – etapa Investigativa ou de Diagnóstico- Avaliação da percepção dos alunos de graduação
em relação à saúde coletiva. - Avaliação da expectativa profissional do aluno de
graduação.- Avaliação dos índices ceo aos 5 e CPo aos 12
anos de idade. - Avaliação das condições de acesso à atenção em
saúde bucal dos pré-escolares.
5. Ações
Lopes G, Vieira V. A utilização da filosofia do Tratamento Restaurador Atraumático (ART) na parceria ensino-serviço. Parceria UNICID - Município de Itapira-SP: Relato de experiência exitosa • São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 170-8
174
Ponto de vista/Point of viewodontologia
ISSN 2176-9095
- Palestra na Prefeitura de Itapira para todos os estudantes, abordando temas relacionados ao muni-cípio: o desenvolvimento do SuS, a implantação do PSF e atuação da Saúde bucal no serviço.
- Visitas técnicas ao Hospital municipal, a ubS, Pronto Atendimento e Centro de especialidades odontológicas.
- Visita às emeIs para análise e planejamento.- Triagem e encaminhamento. - Ações de educação em Saúde bucal e preventivas
(escovação supervisionada e utilização do flúor).- Atendimento clínico em campo – aplicação de
ArT (restaurações e selantes).
6. recursos humanos e materiaisos recursos foram definidos de acordo com o
contrato de parceria, com atribuições especificas de acordo com as ações.
6.1 - recursos Humanos: - professores responsáveis pelo programa - alunos do curso de odontologia (3° ano) - auxiliar odontológica - cirurgião-dentista da rede pública - professores das emeIs - Coordenador de Saúde bucal - motorista
6.2 - recursos materiais:Instrumental e material de consumo utilizados para
a realização da Técnica de ArT, em número e quan-tidade suficiente para os atendimentos; equipamen-to de Proteção Individual e outros (mesas, colchões de ginástica, pias, autoclave); Impressos (Termo de Consentimento livre e esclarecido para exame clí-nico, tratamento e autorização para pesquisa e Ficha de Triagem e encaminhamento), além de transporte e alimentação.
7. CronogramaAs atividades foram programadas de março de
2007 a novembro de 2011, com ações mensais du-rante o período letivo, contemplando 8 ações anuais.
8. Avaliações 8.1 - do processoDe forma contínua e permanente, com a participa-
ção dos professores responsáveis pelo Projeto, Co-ordenador de Saúde bucal do município e estudantes participantes, sendo sugeridos ajustes e correções.
8.2 - dos resultados
8.2.1 - Desenvolvimento de trabalhos científicosPesquisas sugeridas pelos coordenadores e/ou es-
tudantes, de acordo com objetivos e metas estabele-cidas no programa, ou até mesmo por alguma neces-sidade detectada.
8.2.2 – PlenáriaAo final do ano letivo, em reunião com represen-
tantes de todos os seguimentos envolvidos (professo-ras das emeIs, comunidade escolar, equipes de saúde bucal do município, coordenadores e estudantes), para avaliação sobre a percepção do projeto, avalia-ção dos resultados alcançados e elaboração das ações para o ano seguinte.
reSuLtAdoSA estratégia do ArT no Projetoeste tipo de trabalho traz resultados importantes
para as comunidades atendidas e para os estudantes de odontologia como forma de aprendizado em di-ferentes cenários, modificando paradigmas ( Freire et al.7, 2003). Atua na Promoção da Saúde por meio da educação, com caráter contínuo e permanente par-tindo da realidade local, e não por ações pontuais (eventos), normalmente de caráter político e descon-textualizadas, utilizando-se de palestras, verdadeiros minicursos de odontologia e com resultados duvi-dosos a médio e longo prazo (Pauleto et al.8, 2004). e mesmo quando atua em recuperação da saúde, pro-põe estratégias inovadoras, simples, eficazes e de bai-xo custo, como neste caso a utilização da filosofia de mínima invasão, com o tratamento restaurador atrau-mático (ArT) de forma estratégica, para diminuição da demanda nas ubS e dos índices de cárie.
Com o objetivo da utilização da filosofia ArT no Projeto Sorria Itapira, estabeleceu-se um sistema de triagem e encaminhamento, adotando-se critérios de inclusão/exclusão dos procedimentos de restaura-ções e selantes oclusais.
estavam indicadas restaurações na presença de le-são cariosa envolvendo dentina em uma única face,
Lopes G, Vieira V. A utilização da filosofia do Tratamento Restaurador Atraumático (ART) na parceria ensino-serviço. Parceria UNICID - Município de Itapira-SP: Relato de experiência exitosa • São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 170-8
175
Ponto de vista/Point of viewodontologia
ISSN 2176-9095
ausência de sintomatologia dolorosa, mobilidade e fístula. e os critérios de exclusão, envolvimento pul-par, presença de dor, abscesso, mobilidade ou fístula e ainda a dúvida no diagnóstico da condição pulpar.
Para selamento oclusal dos primeiros molares per-manentes, consideraram-se as condições de erupção parcial ou total, superfície hígida, presença de lesão branca e/ou sulcos pigmentados, levando-se em conta ainda o determinante social de risco à cárie dentária.
Para todas as crianças foram estabelecidas ações de promoção de saúde bucal por meio da educação e de prevenção, utilizando-se escovação supervisio-nada e aplicações tópicas de flúor, segundo critérios de risco.
As crianças passavam por escovação supervisio-nada, sendo dirigidas para triagem e nesta foi utiliza-da ficha especifica desenvolvida para o projeto. Após exame eram encaminhadas para realização do ArT no sistema de mutirão em situação de campo. ou, ainda, de acordo com necessidade de maior comple-
xidade de tratamento, referenciadas para a ubS ads-trita à emeI.
os resultados obtidos no período de março de 2007 a junho de 2009 são apresentados na Tabela 2.
Portanto, 2004 crianças passaram a ter acesso à atenção em saúde bucal; destas, 1114 receberam pro-cedimentos na filosofia ArT e apenas 291 (14,52%) foram referenciadas para serviços de maior comple-xidade, neste caso para as ubS. Houve, assim, a dimi-nuição da demanda e melhor organização do serviço, além de minimizar tratamentos de maior complexida-de como terapias pulpares e exodontias.
Quando se comparam os dados epidemiológicos de 2005 e 2007 (tabelas 3 e 4), os números também são animadores:
Tabela 3 - Índice de cárie – ceo – para 5 anos de idade
Ano 2005 2007ceo 2,15% 1,79%
A ções em E ducação, Pr evenção, Recuper ação e Manut enção da S aúde Bucal
Educação em Saúde, Prevenção e Manutenção
ART (restauração e selante)
UBS (outras necessidades)
TRIAGEM
Figura 1: Esquema da atenção integral do Projeto sorria Itapira
AnoTotal de crianças
examinadas
Total de crianças sem necessidade de
tratamento
Total de crianças com indicação de ArT (selantes e restaurações)
Total de selantes aplicados
Total de restaurações
realizadas
Total de crianças com maiores necessidades
(referenciadas para ubS)
2007 458 231 227 501 515 73
2008 1092 532 560 1228 1307 146
2009* 454 127 327 238 400 72
total 2004 890 1114 1967 2222 291
Tabela 2 - situação alcançada, conforme demonstrado pelos números observados após as 20 ações:
Fonte: Sistema de informações – Projeto Sorria Itapira. *Dados referente ao período de março a junho de 2009.
Lopes G, Vieira V. A utilização da filosofia do Tratamento Restaurador Atraumático (ART) na parceria ensino-serviço. Parceria UNICID - Município de Itapira-SP: Relato de experiência exitosa • São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 170-8
176
Ponto de vista/Point of viewodontologia
ISSN 2176-9095
Fonte: Sistema de informações – Projeto Sorria Itapira
Tabela 4 – Distribuição percentual dos componentes caria-dos, extraídos e obturados, dos 5 anos de idade, Itapira 2005 e 2007.
Componente 2005 2007
Cariados 62,8% 35,7%
extraídos 3,7% -
obturados 33,5% 64,7%
Fonte: Sistema de Informações - Projeto Sorria Itapira
Analisando as duas tabelas, observa-se que ações de promoção e prevenção desenvolvidas em outros programas apresentaram resultados positivos com a diminuição do índice ceo e que as ações do Projeto contribuíram para modificar a distribuição dos com-ponentes, levando a um aumento de aproximadamen-te 50% do componente obturado.
Com isso, o programa construído e executado pelos alunos contribuiu para a melhoria na condição de saúde bucal da população atendida, atuando em grande escala, diminuindo a demanda nas ubS, faci-litando o acesso dessa população ao tratamento, au-mentando a consciência da necessidade de cuidados com a saúde bucal, motivando inclusive responsáveis e professores.
Foram apresentados, assim, ótimos resultados por meio da simplicidade da técnica, do baixo custo e da grande efetividade da prática desenvolvida no interior dos espaços sociais, alcançando-se um incomparável ganho epidemiológico e social.
Quadro I: Resumo dos objetivos da utilização da filosofia ART no Projeto sorria Itapira.
ArT obJeTIVoS
reSTAurAÇÃo
Aumento do acesso a tratamento odontológicoDiminuição da demanda nas ubSDiminuição da necessidade de tratamentos de maior complexidade (exodontias, endodontias e restaurações)
SelANTe
Diminuição da incidência de cárie oclusal nos primeiros molares permanentes, refletindo no índice CPo aos 12 anos.
dISCuSSão e CoNCLuSõeSo Projeto é uma oportunidade fundamental de
consolidação do espaço pedagógico capaz de enfren-tar, positivamente, os desafios lançados pelas Dire-trizes Curriculares para os Cursos de Graduação em odontologia. Não se trata de uma proposta nova, mas de uma forma de transformação das práticas de ensino por meio da integração docente assistencial. Aborda o espaço dos serviços públicos de saúde e o mundo do trabalho como aspectos centrais de uma nova prática pedagógica, com potencial para se alcan-çar um perfil profissional com consciência crítica e ca-pacidade de compreender a realidade e intervir sobre ela. Consegue atuar em todos os níveis de atenção à saúde sem confundir-se com a prática tradicional intramuros, que normalmente dá ênfase aos aspectos tecnicistas e biologicistas sem potência para alcançar as mudanças propostas pelas Diretrizes Curriculares e do Programa Nacional de reorientação da Forma-ção Profissional em Saúde – Pró-Saúde.
A diversificação dos cenários de ensino é tida como essencial para o desenvolvimento do perfil do graduando. É no mundo do trabalho, em contato com diferentes realidades, que se espera que as maiores experiências educativas ocorram. Com isso, o programa contribui para a formação de profissionais capazes de desenvolver uma assistência humanizada e de alta qualidade e resolutibilidade, sendo impactante até mesmo para os custos do SuS (Santos e Wes-tphal9, 1999).
o resultado da experiência pelos alunos partici-pantes pode ser avaliado pelo método do Discurso do Sujeito Coletivo (lefèvre et al.10, 2000), do qual resultou a seguinte fala:
“o Projeto Sorria Itapira contribuiu para minha formação profissional em diversos aspectos: Desen-volveu meu senso de coletivo e trabalho em equipe; por trabalhar em cenários diferentes ao da clínica da faculdade, inclusive do próprio consultório odonto-lógico; observar e tratar uma grande diversidade de casos e enfrentar novas situações; aprender a traba-lhar de forma simples, devido às limitações de recur-sos; por meio de treinamento desenvolveu um pouco mais minha habilidade; observar que é possível rea-lizar bons trabalhos com pequenos gastos; ampliou minha visão em relação à realidade da odontologia, melhorando meu amadurecimento pessoal e profis-
Lopes G, Vieira V. A utilização da filosofia do Tratamento Restaurador Atraumático (ART) na parceria ensino-serviço. Parceria UNICID - Município de Itapira-SP: Relato de experiência exitosa • São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 170-8
177
Ponto de vista/Point of viewodontologia
ISSN 2176-9095
sional”.Assim, o Projeto apresentou potencial para me-
lhorar a qualidade de vida da população atendida e co-laborar na formação do cirurgião-dentista com alguns atributos requeridos para a atuação clínica ampliada e a intervenção familiar e comunitária, com ênfase na Promoção da Saúde, ou seja, deste profissional que o brasil e outras nações atualmente buscam produzir (moyses11, 2008).
o grande desafio está em superar um modelo centrado no diagnóstico de doenças e orientado para o tratamento invasivo, com tecnologia de alto cus-to, para outro, centrado no diagnóstico integral, na Promoção da Saúde, na prevenção de doenças e no
cuidado vigilante das pessoas da comunidade onde o cirurgião-dentista está inserido. os movimentos mundiais em prol das mudanças nos projetos educa-cionais e a valorização recente da Promoção da Saúde podem oferecer um bom roteiro para essa agenda de mudanças. A reorientação dos serviços é um fe-nômeno observável em várias partes do mundo, já que acompanha a dinâmica mundial de reestrutura-ção de Sistemas Nacionais de Saúde; espera-se que essa ideia-força, já presente no brasil após 1988, seja capaz de influenciar definitivamente o planejamento político-pedagógico das instituições de ensino e a or-ganização e gestão dos serviços de saúde bucal, re-percutindo favoravelmente para a sociedade e para os profissionais da odontologia.
RefeRênciAs
1. Anais da Conferência Nacional de Saúde. 1980 março 24-28; Centro de Documenta-ção do ministério da saúde; 1980. 280p.
2. Anais da Conferência Nacional de Saúde, 1986 março 17-21. brasília: Centro de Do-cumentação do ministério da Saúde; 1987. 429p.
3. brasil. ministério da educação. CNe Conselho Nacional de educação. Câmara de edu-cação Superior. resolução CNe- CeS 3, de 19/02/2002 Institui as diretrizes curricula-res nacionais do curso de graduação em odontologia. brasília: Diário oficial da união, 04 de março de 2002. Seção 1, p.10.
4. brasil. ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. 3ª Conferência Nacional de bucal: acesso e qualidade superando exclusão social, relatório Final. 2004. 29 de junho a 1º de agosto; brasília: ministério da Saúde; 2005. 148p.
5. brasil. ministério da Saúde. Portaria Interministerial Nº - 3.019, de 27 de novembro de 2007. Dispões sobre o Programa Nacional de reorientação da Formação Profissional em Saúde: Pró-Saúde: para os cursos de graduação da área da saúde. Diário oficial da união. brasília, 27 de novembro de 2007. Seção 1, p. 44.
6. 43ª reunião da Associação brasileira de ensino odontológico. o dilema do profes-sor especialista no ensino generalista. 2008 Junho 22-25 Porto Alegre: Abeno; 2008 [Acesso em 2008 out 16]. Disponível em: http://www.prixeventos.com.br/hotsite/site/default.asp?eventoID=104&TroncoID=518080&SecaoID=535527&SubSecaoID=052190.
7. Freire mCm, rabelo Ab, Nascimento AP, Valle DG, Antunes De, Coelho JF, et al. Tratamento restaurador atraumático (ArT): estágio atual e perspectivas. Rev AbO Nac. fev/março 2003. 11(1):37-43.
Lopes G, Vieira V. A utilização da filosofia do Tratamento Restaurador Atraumático (ART) na parceria ensino-serviço. Parceria UNICID - Município de Itapira-SP: Relato de experiência exitosa • São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 170-8
178
Ponto de vista/Point of viewodontologia
ISSN 2176-9095
8. Pauleto ArC, Pereira mlT, Cyrino eG. Saúde bucal: uma revisão crítica sobre progra-mações educativas para escolares. Cienc saúde Coletiva. 2004; 9(1):121-30.
9. Santos JlF, Westphal mF. Práticas emergentes de um novo paradigma de saúde: o papel da universidade. Estud Av, 1999; 13(35):71-88.
10 lefèvre F, lefèvre AmC, Teixeira JJV. o discurso do sujeito coletivo: uma nova abor-dagem metodológica em pesquisa qualitativa. Caxias do Sul: educs; 2000.
11. moysés SJ. o futuro da odontologia, no brasil e no mundo, sob o ponto de vista da promoção da saúde (opinião). Rev AbO 2008; 16(1):10-3.
179
Science in Health 2010 set-dez; 1(3): 179-86
ISSN 2176-9095
José Lúcio Martins Machado*
Maria Cristina Iwana de Mattos**
Joaquim edson Vieira*
** uNICID – universidade Cidade de São Paulo, São Paulo, brasil.** uNIDerP - university for the Development of the State and the region of Pantanal, mato Grosso do Sul, brasil.
leADerSHIP AND GoVerNANCe For CurrICulum CHANGe
lIDERANçA E GOVERNAbIlIDADE EM MUDANçAs CURRICUlAREs
ABstRAct
The Implementation of an innovative curriculum in a new school and the reform of a curriculum in a non-profit public medical school are both tough but interesting tasks. Two contrasting situations experienced by the authors are dis-cussed here relating to leadership and governance issues in medical undergraduation. Aspects of stakeholder com-mitment, educational policy, educational planning strategies and evaluation are briefly discussed. Successes and failures in the governance and leadership of these processes are highlighted.
Key woRDs: Education, medical, undergraduate • Problem-Based Learning • Leadership • Private sector • Public sector.
Resumo
A Imentação de um currículo inovador em uma nova escola bem como uma reforma curricular de uma escola sem fins lucrativos são tarefas difíceis, mas interessante. Duas situa-ções contrastantes experimentadas pelos autores são aqui discutidas, relativas à liderança e questões de governança no ensino de graduação em medicina. Os aspectos rela-cionados ao compromisso das partes envolvidas, a política educacional, as estratégias de planejamento e avaliação edu-cacional são discutidos brevemente. Os sucessos e fracas-sos da gestão e liderança desses processos são destacados.
pAlAvRAs-chAve: Educação de graduação em Medicina • Aprendizado baseado em problemas • Liderança • Setor Privado • Setor Público.
Ponto de vista/Point of viewfoRMação e caPacitação na ÁRea da saúde
Machado JLM, Mattos MCI, Vieira JE. Leadership and governance for curriculum change São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 179-86
180
Ponto de vista/Point of viewfoRMação e caPacitação na ÁRea da saúde
ISSN 2176-9095
INtroduCtIoNeducational hange is moved by the influence of the
changes occurring in the world but educational prin-ciples cannot be forgotten (Walton1 1993a, Walton2 1993b). Innovation in education is related to the ac-ceptance of logic and based on a deep understanding of the educational principles (Venturelli3 1997).
medical education should be intimately related to a health service provided by a health system. A medical school integrated to its local society would need to consider its focus and attention to the public needs. This means to adapt its curriculum to provide teaching and learning embedded into recognized en-vironments – not just the university hospital. In addi-tion, the requirements for higher health care standar-ds drive professionals to be better prepared in order to fit into a better organised and improved health care system (mcGuire4 1989, mcmahon5 1992). However, medical schools seems to be slower in their response to these challenges (Fraser6 1991, boelen7 1991).
It has been presented that much of proposed re-forms depend upon a strong leader, a dean focused on the cause who will lead the process conscientious-ly and with wisdom. every member of staff can repre-sent either the support or the resistance to change (mcmahon5 1992, Harden8 1995, Tosteson9 1990). Notwithstanding, new proposals can be stimulated externally by action and policy at a varying levels and has been referred to as “forced change” by Grant and Gale10 (1989). on the other hand, it can come from inside the institutions in the form of monetary incen-tives to create new educational experiences – like new departments or courses.
Implementing a new curriculum and refor-ming a traditional one: comparisons.
Implementing a new curriculum in a brand new school allows the implementation and development of unbiased and futurist staff. They are usually recrui-ted at the beginning of a new school with the oppor-tunity to pursue an ideal program that gives a forward momentum to the group.
on the other hand, changing an existing curri-culum in a traditional school is a monumental task demanding a major transformation in philosophy and vision within the school. The major challenge seems to engage the staff as a team where there would be
no initial consensus.Historically, mcmaster, maastricht, and the Har-
vard medical School initiated changes in their medical school pedagogy that have influenced the education of medical students around the world. (Neville and Norman11 2007, Ten Cate12 2007, Tosteson9 1990).
In brazil three universities started a curriculum changing process in 1996 with the sponsoring from the Kellogg Foundation. Two of them succeeded im-plementing a new curriculum. The challenge was to innovate the teaching method in these schools and to have graduates that could take care of the health needs of local communities. In the year 2000, among others, a new medical school was set up allowing the experience of two authors (Jlmm and mCIm) with both processes, the formation of a brand new curri-culum as well as the reform of a traditional one.
Onset of a new courseA new course of medicine was created and im-
plemented in a brazilian private for-profit university in the year 2000. The educational program was col-lectively structured in order to have the new model of educational strategies and the spirit of innovation incorporated by the staff before the beginning of the course. Dean, coordinators and teachers met fre-quently for faculty development directed to the chal-lenge of being tutors in a problem-based educational method.
resistance and difficulties in accepting new strate-gies of teaching appeared in a small percentage of the staff. Some of these teachers were asked to work ini-tially at outpatient clinics, wards and skill laboratories in order to keep their interest, besides their disbelief, and not demising the group.
Payment incentives and rewards to the many kinds of educational roles performed by the teachers could be clearly established through an open channel to the superior administration. This enticement improved the recruitment of medical teachers who had to leave their private offices to dedicate part of their time for educational purposes.
Curriculum reformon the other hand, the reform of a curriculum in a
traditional school would found a very different frame. A curriculum reform in a public institution (not for
Machado JLM, Mattos MCI, Vieira JE. Leadership and governance for curriculum change São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 179-86
181
Ponto de vista/Point of viewfoRMação e caPacitação na ÁRea da saúde
ISSN 2176-9095
profit) started with a financial support from Kellog Foundation (The New Initiative – uNI). There was a clear opposition right at the beginning from sup-porters of their traditional educational strategies. The strong will of the coordinator and his supporters, as well as the Dean and Vice-dean allowed the engage-ment of a curriculum reform.
The uNI program played an important role with the new paradigm for preparing health professionals. It brought together people and institutions that syn-chronized the university, the community and the he-alth services, and enable the development of teaching and learning methods and the integration of multi-professional teams (Almeida13 2001).
The most important political maneuver was to nominate the uNI program coordinator as also co-ordinator of undergraduate medical school. This ac-tion demonstrated a philosophical harmony between the Dean and undergraduate committee as a way to set the Dean’s leadership skills (Kaufman14 1998, Des marchais15 1993, Tosteson9 1990).
leadership DevelopmentKaufman14 (1998) relates that at most institutions
formal leaders such as deans, educational coordinator and educational committees are not prepared in ter-ms of academic management and are not concerned with the major national and international educational guidelines.
Des marchais15 (1993) during the implementation of a new curriculum at the university of Sherbrooke Faculty of medicine highlighted the importance of the leadership of the person in charge. According to Fi-sher and Koch16 (1996) a college president is a trans-formational individual who can make a dramatic, and positive difference to the life of his institution.
Clark17 (1995) regarding leadership and innovation in universities formulated a hypothesis: “Innovating universities depend heavily on leadership at middle and lower levels of management that successfully re-conciles the entrepreneurial drives of central leaders with the drives of disparate academic professional groups. In American terms, deans become more cri-tical.”
The dean of a medical schoolThe importance of leadership has grown as medical
education has come under increasing scrutiny. mana-gement skills (institutional assessment, strategic plan-ning, financial stewardship, recruitment and retention of talent) and leadership skills (visioning, maximizing values, building constituency) could be cited. In addi-tion, content knowledge and attitudes (commitment to the success of others, appreciation of institutional culture) are also noted to be valuable qualities for medical school deans (rich18 2008). being aware of the main guidelines of medical education and be able to apply what the national policy is recommending should also be the skills that a dean of medical school is expected to have.
The process of choosing a Dean would better suit the competence in education, educational mana-gement and educational policies. many of these at-tributes are supposed to be an intrinsic part of the candidate to become a dean, but usually they are not. Therefore, actions related to these attributes gene-rally are performed in a non professional way.
Sachdeva19 (2000) refers that the dean of the school and the dean for education need to convey the vision for change to department chairs and the faculty. Clear articulation of the vision, definition of the expected outcomes, and expression of personal support by institutional leaders will go a long way to-ward motivating the faculty to consider seriously a proposal for change.
The differences in academic empowerment: public and private institutions
At public brazilian institutions the rector, pro-rectors and other coordinators are elected by the university community. It is not unusual to have the institutional interests set aside in favour of the elec-tors’ will. This is one of the crucial points in public academic administration, since decisions made at the high levels of the organizational structure can find an attitude of non declared resistance. In other words, projects can be impaired at any level of the academic community.
on the other hand, in private for-profit institutions the decision is inherent to the owners and a council that defines and legitimates the administrator’s po-wer. Channels of communication between the ow-ners and the academic management group are open to discussion and decisions. When the main adminis-
Machado JLM, Mattos MCI, Vieira JE. Leadership and governance for curriculum change São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 179-86
182
Ponto de vista/Point of viewfoRMação e caPacitação na ÁRea da saúde
ISSN 2176-9095
trative guidelines are not followed, a change within administrative levels can be exercised, faster than at public institutions.
It is important to emphasize this difference to un-derstand the inner facts related to the implantation of curricular innovations in universities from those institutions. It is obvious that at any of the institutions a process of changing has to be clearly defined and presented to faculty, students and staff. It seems clear that the process of decision could be more dynamic and fast at the private university where economic re-asons guide their actions.
In general, funding for medical education are not related to the achievement of institutional goals and performance evaluations of institutions. In the united States, funds are tied to welfare programs like medi-care and medicaid, but not with indicators of teaching and performance of the faculty (Kohn20 2004). In addi-tion, there are usually more financial incentives for research activities than teaching activities.
The more conservative economic theories recom-mend to reduce the costs of education, reducing the costs of teaching hospitals related to medical educa-tion, either at the undergraduate level or residency programs. The basis for this argument is that the additional costs allegedly owed to medical education were indeed due to a combination of patient care and research activities (Newhouse and Wilmensky21 2001). In contrast, other economists argue the me-dical education as a social good, justifying the invest-ment made by society through federal funding of edu-cational programs (Gbadebo and reinhardt22 2001).
Educational ManagementA new organisational structure is of paramount
importance when a school has a new curriculum (bush231986). The lack of educational management impairs the control of the implementation in such a way that may allow the development of a parallel cur-riculum.
bloom24 (1988) reviewing 50 years of reforms without change in medical education, refers to the following obstacles: no reduction in departmental au-tonomy (Table 1), no change in the reward system and no great disruption of the traditional curriculum, maintenance of the status quo, academic promotion based more upon research and clinical service than
on teaching, and educational innovation being too costly in terms of time, money, and resources. The common source of these obstacles lies mainly in the faculty’s resistance to innovation. This contention could be related to the fact that the scientific mission of academic medicine has displaced its social respon-sibility to train for health-care needs of most societies (bloom25 1989).
It is noteworthy that in many public brazilian uni-versities the departmental autonomy prevails, leading to a fragmentation of the power that impairs the im-plementation of any central decision like the one in-volving undergraduation. on the other hand, some good qualities result from characteristics of the public universities like the integral tenure to research and community extension activities, characteristics that bring quality to universities (Table 1).
In private brazilian universities some advanta-ges prevail in managing the institution, following the council plans. As emphasis is mainly given to the un-dergraduate courses, most of the private institutions downsizes research and post-graduation courses. The institution follows the demands for professionals, or the market logic that may prompt the institution’s philosophy to change in accordance to the movement of those demands adopting a matrix model of mana-gement (Table 1).
matrix management is not only recommended for education but is in fact frequently used in general administration. The curriculum management may de-mand a Planning Group committed to study the curri-culum, the innovations, and to oversee its implemen-tation. The evaluation of each step should be carried out frequently by a second organized committee, an evaluation Group that should provide an immediate feedback to staff and students so that problems can be resolved as fast as they appear.
The evaluation group should be responsible for quality assurance in medical education in order to promote a balance between the educational program and the methods of teaching and the outcomes of le-arning (mennin and Krackov26 1998).
The lack of evaluation may lead to a state of in-dependence of departments ultimately allowing tea-chers to choose “what” and “how” to teach as well as the assessment. A central committee would do more for the overall quality of teaching and learning once
Machado JLM, Mattos MCI, Vieira JE. Leadership and governance for curriculum change São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 179-86
183
Ponto de vista/Point of viewfoRMação e caPacitação na ÁRea da saúde
ISSN 2176-9095
an effective monitoring of the process could be im-plemented.
The culture of traditional institutions is that such committees would lessen the department power and limit the freedom of the academic staff. In order to allow new ideas, stakeholders have to be the first group to discuss and even accept the idea of change. They ought to demonstrate to the institution the main reasons for and ways to achieve changes and that the fear of losing power can be replaced by valuable gains from the institution’s image to the society.
There are many similarities between educational and entrepreneurial management. once strategic planning and other necessary groups were establi-shed, the responsibilities of each group will be clearly defined and suitable evaluation will guide the process towards the main purpose of the institution.
lessons learnedThe major obstacles for education change could
be identified as resource allocation, structure of the medical faculty, departmental power and the relative reduced importance of educational activities in com-parison to research (leinster & Dangerfield27 1996).
The implementation of a new curriculum should be followed by educational management. The process of spreading the workload during the first steps of implementation should be shared by all staff and stu-dents under the guidance of a leader with institutional power to coordinate the activities. every step should be known, an approach that would lead to team in-volvement and the empowerment of each member feeling responsible for new ideas becoming reality.
A professional view of educational management should support the whole process beyond implemen-tation. besides the incentive to research and publish, teaching training and improvement in administration and educational management had to be considered in a same level of importance. A central committee of evaluation would do more for the overall quality of teaching and learning, once monitoring the process was implemented to promote quality.
There should be an institutional guidance to en-courage medical education oriented to community in the core curriculum. This approach brings under-graduates to recognize the importance of community needs, and to consider the social and political aspects that might improve it.
Machado JLM, Mattos MCI, Vieira JE. Leadership and governance for curriculum change São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 179-86
184
Ponto de vista/Point of viewfoRMação e caPacitação na ÁRea da saúde
ISSN 2176-9095
Institution Private Public
Process Creation reform
Project Innovative course reform and adaptation.
Staff developmentbefore reform and during implementation for the entire staff. maintenance for new teachers.
before starting the course. maintenance for new teachers.
Academic managementmatrix management. High influence of the owners and council in “academic decisions”.
Departmental, fragmented management Variable influence of individual or corporative interests over institutional.
Departments influence in the institutional decisions
No departmentsrelative didactic autonomy of departments and possible fragmentation of decisions.
leadership Institutional leadership local group leadership
Institutional Focus and Priorities.1. undergraduation 2. Services
1. research 2. Services 3. Post-graduation 4. undergraduation
logic market rolesGuided by the professional necessity pointed by the (logic) market
Partially guided by the logic market
Philosophy of the institution Possibility of change Stable, bureaucracy
Staff´s liaison Work contract – part time Tenure contract.
Institutional Financial Support for infra-structure and equipments
Total support Partial support
Institutional dynamic FasterComplexity of decisions due to power fragmentation.
Table 1 - Private and public institution dynamic and characteristics
Machado JLM, Mattos MCI, Vieira JE. Leadership and governance for curriculum change São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 179-86
185
Ponto de vista/Point of viewfoRMação e caPacitação na ÁRea da saúde
ISSN 2176-9095
RefeRences
1. Walton H. medical education world-wide. A global strategy for medical education. Med Educ 1993 Sep; 27(5):394-8
2. Walton H. The changing medical profession: implications for medical education. Med Educ 1993; 27(3):291-6.
3. Venturelli J. educacion medica: nuevos enfoques, metas y métodos. Washington, DC: organizacion Panamericana de la Salud; 1997.
4. mcGuire C. The curriculum for the year 2000. med educ 1989 may; 23(3): 221-7.
5. mcmahon JA. The health care system in the year 2000: three scenarios. Acad Med 1992 Jan; 67(1):1-7.
6. Fraser rC. undergraduate medical education: present state and future needs. bMJ 1991 Jul 6; 303(6973):41-3.
7. boelen C. Changing medical education and practice: an agenda for action. World Healt organization; 1991.
8. Harden rm. Progress in medical education. med educ 1995; 29 Suppl 1:79-82.
9. Tosteson DC. New pathways in general medical education. N Engl J Med 1990 Jan 25; 322(4):234-8.
10. Grant J, Gale r. Changing medical education. med educ 1989 may; 23(3):252-7.
11. Neville AJ, Norman Gr. Pbl in the undergraduate mD program at mcmaster univer-sity: three iterations in three decades. Acad Med 2007 Apr; 82(4):370-4.
12. Ten Cate o. medical education in the netherlands. Med Teacher 2007 oct; 29(8): 752-7.
13. Almeida mJ. Perspective on South America: the latin American contribution to the world movement in medical education. Med Educ 2001 Aug; 35(8):796-9.
14. Kaufman A. leadership and governance. Acad Med 1998 Sep; 73(9 Suppl):511-5.
15. Des marchais Je. leadership column. Newsletter. Network of Community-oriented educational Institutions for health sciences 1993; 19:13-19.
16. Fisher Jl, Koch JV. Presidential leadership: making a difference. Phoenix, Arizona: ro-wman & littlefield education; 1996.
17. Clark br. Places of inquiry: research and advanced education in modern universities. berkeley, los Angeles: university of California Press; 1995.
18. rich eC, magrane D, Kirch DG. Qualities of the medical school dean: insights from the literature. Acad Med 2008 may; 83(5):483-7
19. Sachdeva AK. Faculty Development and support needed to integrate the learning of prevention in the Curricula of medical Schools. Acad Med 2000 may; 75(7 Suppl):S35-42.
Machado JLM, Mattos MCI, Vieira JE. Leadership and governance for curriculum change São Paulo • Science in Health • 2010 set-dez; 1(3): 179-86
186
Ponto de vista/Point of viewfoRMação e caPacitação na ÁRea da saúde
ISSN 2176-9095
20. Kohn lT. Academic health centers: leading change in the 21st century. Committee on the roles of academic health centers in the 21st century. Washington DC: National Academies Press, 2004.
21. Newhouse JP, Wilmensky Gr. Paying for graduate medical education: the debate goes on. Health Aff (millwood) 2001 mar-Apr; 20(2):136-47.
22. Gbadebo Al, reinhardt ue. economists on academic medicine: elephants in a porce-lain shop? Health Aff 2001 mar-Apr; 20(2):148-52.
23. bush T. The importance of management for education. In theories of educational ma-nagement. london: Paul Chapman Publishing; 1986.
24. bloom SW. Structure and ideology in medical education: an analysis of resistance to change. J Health soc behav 1988 Dec; 29(4):294-306.
25. bloom SW. The medical school as a social organisation: the sources of resistance to change. Med Educ 1989 may; 23(3):228-41.
26. mennin SP, Krakcov SK. reflections on relevance, resistance, and reform in medical education. Acad Med 1998 Sep; 73(9 suppl)S60-4.
27. leinster SJ, Dangerfield PH. obstacles to real change in medical education. educ Health 1996; 9(1):25-30.