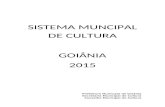Atuação interdisciplinar em grupo de puérperas: percepção das
Sistema de Informação para a Ação: Subsídios para a Atuação ...
Transcript of Sistema de Informação para a Ação: Subsídios para a Atuação ...

ARTIGO / ARTICLE
136 Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (2): 136-148, abr/jun, 1993
Sistema de Informação para a Ação: Subsídios para aAtuação Prática dos Programas de Saúde dos Trabalhadores aNível Local 1
Action-Oriented Information Systems: Subsidies for Activities byWorkers’ Health Programs at the Local Level
Victor Wünsch Filho 2; Maria M. Settimi 2
Clara S. W. Ferreira 2; José Carlos do Carmo 2;Ubiratan P. Santos 2; Norton A. Martarello 2; Danilo F. Costa 2
WÜNSCH-FILHO, V.; SETTIMI, M. M.; FERREIRA, C. S. W.; CARMO, D. C.; SANTOS, U. P.;MARTARELLO, N. A. & COSTA, D. F. Action-Oriented Information Systems: Subsidies forActivities by Workers’ Health Programs at the Local Level. Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro,9 (2): 136-148, Apr/Jun, 1993.Over the course of recent decades, Brazil has become an industrialized society. From anepidemiological perspective and considering changes that have been occurring in the Brazilianpopulation, particularly concerning demographic and epidemiological transitions, this paperdiscusses the need to adapt the epidemiological surveillance system in order to incorporate thesurveillance of non-transmissible diseases. The authors analyze the information system for work-related accidents in the Workers’ Health Program, under SUDS (the Unified DecentralizedHealth System) for the Mandaqui Region (in the Northern part of the city of São Paulo), basedon data from a local metalworking industry identified by the information system as a high-risksite for work-related accidents. The article also focuses on the importance of organized workersparticipating in actions to control work-related accidents. Although such participation is notalways possible, the health sector must incorporate the workers’ own concrete experience inorder to develop more effective actions to prevent accidents at the workplace.Key words: Occupational Health Program; Epidemiologic Surveillanc; Accidents Occupational
INTRODUÇÃO
O adensamento da população brasileira emgrandes centros urbanos, decorrente do processode industrialização implantado a partir dos anos50, tem gerado problemas de várias ordens,problemas estes inter-relacionados e com so-
luções que envolvem aspectos amplos tais comoa política agrária e a do uso social do solourbano. As precárias condições de vida destaspopulações, vivendo nestes espaços urbanosindustrializados e geralmente degradados,podem ser detectadas pelos indicadores desaúde nestas áreas.
No contexto destas mudanças do espaçogeográfico brasileiro, os profissionais de saúdedevem considerar dois fenômenos: o da “tran-sição demográfica” e o da “transição epidemio-lógica”, discutidos em trabalhos recentes (Ka-lanche et al., 1987; Landrigan, 1989; Ramos etal., 1987; Saad & Camargo, 1989; Troyano,1988). Denomina-se transição demográfica oenvelhecimento gradual da população brasileira.O fenômeno da transição epidemiológica é
1 Este trabalho faz parte do projeto “Sistema deVigilância Epidemiológica para Acidentes e Doenças doTrabalho na Região do SUDS-R-6”, financiado peloconvênio Programa Metropolitano de Saúde/BancoMundial, integrante do Núcleo de Investigação eAvaliação das Propostas do SUDS-SP, do Instituto deSaúde.2 Programa de Saúde dos Trabalhadores, SUDS-R-6. RuaVoluntários da Pátria, 4301, Mandaqui. São Paulo, SP,02401-400, Brasil.

Sistema de Informação
Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (2): 136-148, abr/jun, 1993 137
caracterizado pelo fato das doenças não-trans-missíveis estarem assumindo no país o mesmonível de importância das doenças infecto-conta-giosas. Tais fenômenos de transição acarretamsérias dificuldades para o planejamento desaúde no país, que necessita operar simultanea-mente com patologias típicas de países periféri-cos e aquelas prevalentes nas sociedades capita-listas centrais.
O atual sistema de vigilância epidemiológicano Brasil, estruturado fundamentalmente paraatender às demandas das doenças transmissí-veis, não tem se mostrado ágil o suficiente paraacompanhar as transições ocorridas na popu-lação. Parte da necessária transformação davigilância em saúde está relacionada à regiona-lização e à efetiva municipalização do sistemade saúde, pois as equipes de saúde locais,detendo um conhecimento mais aprofundadodos problemas referentes à sua área de atuação,poderão planejar suas ações de forma maisadequada. Considerando-se as especificidadesdas questões relativas à saúde dos trabalhado-res, o enfoque a ser dado pela equipe de saúdeem determinada região da cidade de São Paulo,por exemplo, deverá ser qualitativamente dife-rente de outra equipe que, trabalhando em ummunicípio do interior do estado, com uma árearural mais expressiva, deverá gerar questões desaúde relativas ao trabalho ligadas, sobretudo,ao uso na produção agrícola de mão-de-obravolante e da utilização intensa de pesticidas.
É objetivo deste trabalho discutir e refletirsobre um sistema de informação para a açãoreferente aos acidentes decorrentes do trabalhono espaço urbano. A discussão terá como baseo sistema implantado pelo Programa de Saúdedos Trabalhadores (PST) na área do SUDS-R-6(Mandaqui), situado na zona norte do municípiode São Paulo.
ASPECTOS DA MORTALIDADE NOMUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Os dados de mortalidade no município de SãoPaulo dos últimos anos mostram que a principalcausa de morte na faixa etária dos 5 aos 40anos de idade está registrada como devido acausas externas (Seade, 1987). Sob esta deno-
minação estão os acidentes, sejam de trânsito,trabalho ou lazer, as mortes por violência, oshomicídios e suicídios. É somente a partir dafaixa etária dos 40 anos que as mortes devidoa causas externas situam-se na segunda posição,logo após as decorrentes de doenças cardiovas-culares. Até os 5 anos de idade, são as doençasinfecciosas as que mais causam mortes.
Os dados mostram a grande quantidade deacidentes com veículos a motor. Os demaisacidentes, os quais supõem-se involuntários,estão em outro grupo, sem especificar causa,mas seguramente o padrão da distribuição deacidentes no Brasil é diferente daquele dospaíses desenvolvidos, onde, após a identificaçãodos problemas e vários anos de programas deintervenção, houve redução acentuada dosacidentes de trânsito e de trabalho. Nestespaíses, aparecem, hoje, como mais importantesos acidentes no domicílio, os de lazer e osrelacionados aos esportes (Rogmans, 1989).
Para a estimativa da População Economica-mente Ativa (PEA), a Fundação Estadual deAnálise de Dados (Seade) considera as criançasa partir dos 10 anos de idade. É na faixa etáriados 10 aos 40 anos onde se concentra a parcelada população brasileira que forma o maiorcontingente da força de trabalho utilizada pelosetor produtivo. Conseqüentemente, pode-seespecular que grande parte das mortes devido acausas externas pode ter sido acarretada poracidentes relacionados ao trabalho. É provávelque parte significativa das mortes de acidentesde trânsito na capital de São Paulo esteja ligadaao trabalho, atingindo o trabalhador durante oseu período de atividade, como motoristas,office-boys, etc., ou durante o seu trajeto entrea casa e o local de trabalho, ou vice-versa. Poroutro lado, os trabalhadores do setor informalda economia (Chala, 1986; Dedecca & Ferreira,1988; Oliveira, 1988; Saad & Camargo, 1989;Troyano, 1988), por não serem registrados,quando sofrem acidentes, não têm estes defini-dos como decorrentes do trabalho.
Os dados de mortalidade condensados pelaFundação Seade, embora sugiram a gravidadeda situação, não permitem um dimensionamentoadequado das especulações aqui levantadas.
A situação dos acidentes de trabalho noBrasil, hoje, tem raiz histórica no processo de

138 Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (2): 136-148, abr/jun, 1993
Wünsch-Filho, V. et al.
“industrialização a qualquer custo”, que geroudistorções estruturais onde foi privilegiada aprodução, em detrimento dos aspectos sociaisenvolvidos no processo de trabalho (Anônimo,1989). Durante a década de 80, muito se discu-tiu a respeito das questões relacionadas aosacidentes do trabalho no Brasil. Estudos aponta-ram para o fato inusitado das estatísticas mos-trarem uma diminuição do número de acidentesdo trabalho, enquanto, paradoxalmente, ocorriaum maior número de óbitos relativos à PEA(Possas, 1981; 1987). Se a causa determinanteda redução do número de acidentes fosse amelhoria das condições de trabalho, esperar-se-ia, a exemplo de outros países, a diminuiçãotambém do número de óbitos devido aos aci-dentes do trabalho. Como isso não ocorreu,infere-se que os acidentes continuam a ocorrer,mas passaram a ser mascarados através deartifícios legais ou de subnotificação (Costa etal., 1989; Possas, 1981; 1987). Mas, apesar doproblema ter sido levantado e propostas viremsendo apresentadas por técnicos e sindicatos detrabalhadores, pouco se caminhou no sentido deintervenções efetivas na prevenção dos riscosenvolvidos neste tipo de acidente.
Acredita-se que levantamentos sistemáticos demorbidade, através de um sistema de vigilância,podem fornecer os elementos necessários paraqualificar as propostas de intervenção, estabele-cendo um maior poder de ação para fazer comque as empresas introduzam mudanças noprocesso de produção ou na organização dotrabalho.
O SISTEMA DE VIGILÂNCIA EMACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHODO PROGRAMA DE SAÚDE DOSTRABALHADORES DO SUDS-R-6(MANDAQUI)
Uma proposta de sistema de vigilância paraacidentes e doenças do trabalho foi implantadano final de 1988 e continua sendo desenvolvidana zona norte da cidade de São Paulo, na áreadelimitada pelo SUDS-R-6 (Sistema Unificadoe Descentralizado de Saúde — Regional 6, umadas regiões estaduais de saúde da Região Me-tropolitana de São Paulo). Deste SUDS fazemparte os subdistritos de Santana, Tucuruvi, Vila
Guilherme e Vila Maria. Em 1988, esta regiãotinha uma população estimada em 1.043.231habitantes, PEA de 44% e cerca de 2.400indústrias (Costa et al., 1989). Os primeirosresultados divulgados referem-se aos meses deoutubro, novembro e dezembro do mesmo ano(Santos et al., 1989; 1990). Os dados referentesaos anos de 1989 e 1990 já foram analisados edivulgados, através de boletins do Programa deSaúde dos trabalhadores (PST) do SUDS-R-6,junto aos sindicados da região. Desde 1991 queos dados vêm sendo trabalhados mensalmente,pois a periodicidade das informações é um dosfatores que devem caracterizar um sistema devigilância em saúde.
A população do estudo é a população traba-lhadora assistida nos hospitais da área creden-ciados para atender acidentados do trabalho.Muitos dos acidentes que ocorrem fora destaregião são atendidos dentro dos limites doSUDS-R-6. Por outro lado, acidentes queocorrem dentro da sua área de abrangênciapodem estar sendo atendidos em outros locais.As informações são extraídas das Comunicaçõesde Acidentes do Trabalho (CATs), instrumentode registro de dados implantado a nível nacio-nal pelo extinto Ministério da Previdência eAssistência Social.
Há consenso na equipe do PST do SUDS-R-6que dois pontos são fundamentais entre asprioridades de ação dos programas de saúde dostrabalhadores: a) informações periódicas quepossam estar direcionando dinamicamente asinvestigações dos acidentes e as intervençõespara mudanças necessárias no ambiente e noprocesso de trabalho; e b) a participação ativados trabalhadores e seus sindicatos nesta ativi-dade.
ESTUDO DE CASO
Com a implantação deste sistema na regiãodo SUDS-R-6, as primeiras informações gera-das delinearam duas principais estratégias paradesencadear ações de investigação de acidentese intervenção nos ambientes de trabalho: aprimeira, concentrar a investigação naquelasempresas onde estivessem ocorrendo um maiornúmero de acidentes; e a segunda, investigar osacidentes que fossem considerados graves.

Sistema de Informação
Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (2): 136-148, abr/jun, 1993 139
Discute-se aqui um caso onde empregou-se aprimeira estratégia.
A análise dos acidentes do trabalho atendidosna região no último trimestre de 1988 mostrouum total de 2.339 ocorrências. Foram listadasas empresas e o respectivo número de aciden-tes. A investigação aqui descrita refere-se àempresa metalúrgica da região que apresentouo maior número de acidentes, independentemen-te da gravidade, no período estudado.
O Ambiente Fabril
A zona norte do município de São Paulocaracteriza-se por possuir um parque industrialmetalúrgico formado basicamente por pequenasempresas. A empresa metalúrgica objeto desteestudo é uma indústria de médio porte queproduz peças para carros de diversas marcas,tratores e implementos agrícolas, além de peçaspara tanques militares.
A planta industrial da empresa é caracterizadapela predominância de operações do setor deestamparia, tendo como setores complementaresa forjaria, montagem com solda, jateamento depeças com areia, rebarbação, pintura, usinagem,ferramentaria e manutenção. Os agentes físicose químicos presentes nos diferentes ambientessão apresentados na Tabela 1. O ambiente detrabalho apresenta arranjo físico inadequado,com equipamentos, máquinas e bancadas muitopróximas umas das outras e sem sinalização deáreas; livre acesso do corpo do trabalhador àzona de perigo nas prensas; e uso inadequadodos dispositivos de segurança das mesmas. Osetor de estamparia funciona em um sistema detrês turnos e os demais, em dois turnos. Traba-lham na empresa, em média, 260 pessoas,sendo 12 na área administrativa, das quais 8 sãohomens e 4, mulheres. Os outros 248 trabalha-dores operam na produção e são todos do sexomasculino. Destes, cerca de 40% trabalham nosetor de estamparia.
TABELA 1. Agentes Físicos e Químicos Presentes no Ambiente de Trabalho da Empresa MetalúrgicaEstudada
O Enfoque do Serviço de Saúde através dosDados Secundários
Dos 16 acidentes desta empresa detectadospelo sistema de informações no último trimestrede 1988, constatou-se que apenas 10 dos aci-dentes registrados (62,5%) ocorreram efeti-vamente no período estudado. O restante são
eventos ocorridos em períodos anteriores domesmo ano (ver Tabela 2). Este fato se explicapela origem dos dados deste sistema, estrutura-do nas contas hospitalares, apresentados àUnidade de Avaliação e controle (UAC) doSUDS-R-6. Por motivos variados, muitas vezeshá retardo na apresentação da conta hospitalar,
Setores Agentes Físicos Presentes Agentes Químicos Presentes
Ruído
Calor
Vibração
Fumos Metálicos
Solventes
Tintas e Vernizes
Desengraxantes Clorados
Sílica
1. Estamparia X X 2. Forjaria X X 3. Ferramentaria X X 4. Manutenção X X 5. Solda X X 6. Pintura X X X 7. Almoxarifado 8. Polimento X X 9. Rebarba X X 10. Jateamento de areia
X

140 Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (2): 136-148, abr/jun, 1993
Wünsch-Filho, V. et al.
resultando em atraso no registro da informação.Este é um dos fatores limitantes de um sistemade coleta de informações com característicaspassivas.
A distribuição dos acidentes segundo causa,diagnóstico, localização da lesão e função dotrabalhador pode ser observada nas Tabelas 3,4, 5, e 6. Considerando-se o diagnóstico princi-pal da CAT, quatro acidentes (25%) foramconsiderados graves. Dentro dos critériosestabelecidos na codificação, são considerados
TABELA 2. Distribuição dos Acidentes de Trabalho na Empresa Metalúrgica Estudada, segundo o Períodode Ocorrência
TABELA 3. Distribuição dos Acidentes Ocorridos na Empresa segundo Causa
acidentes graves: os politraumatismos, os trau-matismos crânio-encefálicos, as amputações, asfraturas, as luxações, as asfixias, os afogamen-tos e as roturas de vísceras e de hérnias.
Frente a esta situação epidemiológica, eviden-ciando um processo de trabalho com alto graude risco, optou-se pelo aprofundamento daanálise dos acidentes detectados, de acordo comas seguintes etapas: levantamento das 16 CATsregistradas para análise detalhada, reunião comtrabalhadores acidentados e vistoria na empresa.
TABELA 4. Distribuição dos Acidentes de Trabalho na Empresa Metalúrgica Estudada, segundo Diagnósticda Lesão
Período Nº %
1º semestre de 1988 Julho, agosto, setembro de 1988 Outubro de 1988 Novembro de 1988 Dezembro de 1988
1 5 6 2 2
06,3 31,3 37,5 12,5 12,5
Total 16 100,0
Causa do Acidente Nº %
Choque com objetos no ambiente de trabalho Queda de peso sobre o corpo Prensa Ferramentas manuais Máquinas e equipamentos Dispositivo de transmissão de energia elétrica
9 2 2 1 1 1
56,3 12,5 12,5 06,3 06,3 06,3
Total 16 100,0
Diagnóstico Nº %
Ferimento corto-contuso sem fratura Contusão, trauma com fratura (*) Contunsão, trauma sem fratura Ferimento corto-contuso com fratura (*)
10 3 2 1
62,5 18,8 12,5 06,3
Total 16 100,0
(*) Acidentes considerados graves

Sistema de Informação
Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (2): 136-148, abr/jun, 1993 141
O Enfoque dos Trabalhadores
Dos 16 trabalhadores, apenas cinco compare-ceram à reunião marcada. A comparação entreos dados da causa do acidente, codificados pelosistema de vigilância epidemiológica a partir dadescrição da causa do acidente na CAT, e orelato dos acidentes pelos trabalhadores podeser observada na Quadro 1. Ficam evidentes aslimitações da compreensão das circunstânciasdo acidente estabelecidas pela codificação. Adescrição contida na CAT também pouco ajudapara a inferência da multicausalidade envolvidano acidente. Essa descrição passa pelo filtro dofuncionário da empresa que preenche a CATque, na maioria das vezes, não presenciou aocorrência. A multicausalidade só se torna maisnítida quando o trabalhador relata as circunstân-cias em que sofreu o acidente.
TABELA 5. Distribuição dos Acidentes de Trabalho na Empresa Metalúrgica Estudada, segundo a Localizaçãoda Lesão
TABELA 6. Distribuição dos Acidentes de Trabalho na Empresa Metalúrgica Estudada, segundo a Função doTrabalhador
Apenas para ressaltar a diferença qualitativadas informações contidas na CAT e as forneci-das pelos trabalhadores, alguns pontos contidosna Quadro 1 serão detalhados a seguir. Obser-vando-se as causas dos acidentes nas CATs dostrabalhadores 3 e 4 descritas no Quadro, nocaso 3 a codificação identifica como causa“máquinas e equipamentos”, quando, na verda-de, o acidente ocorreu em uma serra sem pro-teção no ponto de operação. A descrição doacidente na CAT sugere que o trabalhadorativamente bateu o polegar contra uma superfí-cie sem proteção. Na descrição feita pelo traba-lhador, dois outros fatores entram em jogo: oritmo de trabalho e a necessidade de improvi-sação para a adequação da ferramenta. No caso4, observa-se um erro de codificação do sistemade vigilância, pois a causa deveria ter sidoanotada como “máquinas e equipamentos”, e
Localização da Lesão Nº %
Dedos Antebraço Mão Faces Tórax Braço Artelho
7 3 2 1 1 1 1
43,8 18,8 12,5 06,3 06,3 06,3 06,3
Total 16 100,0
Localização da Lesão Nº % Setor de Trabalho dos Acidentados
Prensista Ajudante geral Ferramentaria de manutenção Meio-oficial ajustador Líder de estamparia Mandrilhador Operador de empilhadeira Serviços gerais
5 4 2 1 1 1 1 1
31,3 25,0 12,5 06,3 06,3 06,3 06,3 06,3
Estamparia Estamparia Ferramentaria Ferramentaria Estamparia Ferramentaria Estamparia Adm. Pessoal
Total 16 100,0

142 Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (2): 136-148, abr/jun, 1993
Wünsch-Filho, V. et al.Q
UA
DR
O
1.D
escr
ição
do
s A
cide
ntes
do
T
raba
lho
na
Em
pres
a M
etal
úrgi
ca
Est
udad
a,
segu
ndo
os
Dad
os
da
CA
T
e a
Inte
rpre
taçã
o do
s T
raba
lhad
ores
Funç
ão d
o Tr
abal
hado
r se
gund
o Co
nsta
na
CAT
Caus
a do
Aci
dent
e pe
la
Codi
ficaç
ão E
stabe
leci
da
para
o S
VE
em A
T
Des
criç
ão d
a Ca
usa
do A
cide
nte
na
CAT
Des
criç
ão d
o A
cide
nte
pelo
Tra
balh
ador
D
iagn
óstic
o
1. P
rens
ista
Pren
sa e
xcên
trica
O
func
ioná
rio, a
o ac
iona
r o
equi
pam
ento
, tev
e su
a m
ão d
ireita
pr
ensa
da e
ntre
os p
araf
usos
da
ferra
men
ta, s
ofre
ndo
a co
ntus
ão.
O p
araf
uso
que
pren
dia
a fe
rram
enta
era
mui
to a
lto, o
es
paço
ent
re o
par
afus
o e
o m
arte
lo fi
cou
mui
to p
eque
no e
o
traba
lhad
or te
ve su
a m
ão p
rens
ada
entre
o p
araf
uso
e o
mar
telo
. O p
araf
uso
não
era
adeq
uado
par
a a
pren
sa, e
en
tão,
foi c
oloc
ado
um c
arta
z: "C
uida
do c
/o p
araf
uso"
.
Ferim
ento
cor
to-c
ontu
so
com
frat
ura.
2. A
juda
nte
Ger
al
Choq
ue c
om o
bjet
o no
am
bien
te d
e tra
balh
o A
o m
anus
ear p
eças
de
met
al, o
fu
ncio
nário
bat
eu o
pol
egar
D
cont
ra a
bor
da c
orta
nte
de u
ma
dela
s, so
frend
o fe
rimen
to.
O tr
abal
hado
r não
des
crev
eu a
s circ
unstâ
ncia
s des
te
acid
ente
, poi
s fix
ou-s
e no
aci
dent
e m
ais g
rave
que
sofre
u no
mes
mo
perío
do (v
er Q
uadr
o 2)
.
Ferim
ento
cor
to-c
ontu
so
sem
frat
ura,
ded
o in
dica
dor D
.
3. F
erra
men
teira
s de
M
anut
ençã
o M
áqui
nas e
eq
uipa
men
tos
Ao
traba
lhar
em
serra
de
fita,
o
func
ioná
rio b
ateu
o p
oleg
ar
esqu
erdo
con
tra a
serra
em
m
ovim
ento
, fer
indo
-se
Ao
serra
r um
par
afus
o pe
quen
o co
m a
fita
de
serra
, co
loco
u um
cal
ço p
eque
no e
ntre
o p
araf
uso
e o
dedo
. O
calç
o er
a m
uito
peq
ueno
; ass
im, u
ma
vez
serra
do o
pa
rafu
so, o
ded
o en
costo
u na
serra
de
fita.
O tr
abal
hado
r re
fere
que
ritm
o da
pro
duçã
o é
mui
to in
tens
o, p
or is
so u
sa
a se
rra d
e fit
a pa
ra se
rrar o
bjet
os p
eque
nos,
quan
do o
co
rreto
seria
o u
so d
a se
rra m
anua
l.
Ferim
ento
cor
to-c
ontu
so
sem
frat
ura,
pol
egar
E.
4. M
eio-
ofic
ial A
justa
dor
Choq
ue c
om o
bjet
o pr
esen
te n
o am
bien
te d
e tra
balh
o
Qua
ndo
oper
ava
torn
o m
ecân
ico,
pe
ça q
ue e
ra tr
abal
hada
esc
apou
do
mes
mo,
atin
gind
o o
func
ioná
rio d
o la
do e
sque
rdo
do to
ráx,
cau
sand
o co
ntus
ão.
Trab
alha
dor u
sava
torn
o an
tigo
que
não
dá a
certo
na
peça
. N
a pr
essa
e te
ndo
que
aum
enta
r a ro
taçã
o do
torn
o pa
ra o
ra
io fi
car m
elho
r (pr
essã
o da
che
fia),
teve
que
col
ocar
um
ca
lço
para
ir m
ais d
epre
ssa.
Lig
ou o
torn
o co
m a
ala
vanc
a qu
e fic
a pe
rto d
a pe
ça a
ser t
orne
ada,
o c
alvc
o es
capo
u e
bate
u no
tóra
x.
Obs
.: H
á 2
alav
anca
s par
a lig
ar o
tron
o. A
que
foi u
sada
(E
) fic
a em
loca
l per
igos
o (m
uito
per
to d
a pe
ça),
além
de
obrig
ar o
trab
alha
dor a
se a
baix
ar p
ara
ligá-
lo. Q
ualq
uer
prob
lem
a co
m a
peç
a po
de fe
rir o
trab
alha
dor.
A a
lava
nca
da d
ireita
(que
é n
orm
alm
ente
usa
da) o
brig
a o
traba
lhad
or
a sa
ir da
"áre
a" p
erig
osa.
Cont
usão
, tra
uma
sem
fra
tura
, hem
itóra
x E.
5. M
andr
ilhad
or
Ferra
men
tas m
anua
is A
o ut
iliza
r um
a fe
rram
enta
(mac
ho)
para
abr
ir a
rosc
a em
um
a pe
ça d
e fe
rro, a
ferra
men
ta q
uebr
ou e
o
func
ioná
rio b
ateu
o b
raço
esq
uerd
o co
ntra
o p
edaç
o qu
e fic
ou n
a pe
ça.
Esta
va fa
zend
o um
a ro
sca
com
um
a fe
rram
enta
mac
ho.
Esta
se q
uebr
ou e
nqua
nto
ele
esta
va g
irand
o e,
com
o
impu
lso, c
orto
u o
ante
braç
o no
ped
aço
que
ficou
na
peça
. Fo
i ase
gund
a fe
rram
enta
nov
a qu
e qu
ebro
u do
mes
mo
jeito
. O tr
abal
hado
r ach
a qu
e fo
i def
eito
da
ferra
men
ta,
pois
o es
forç
o er
a pe
quen
o e
não
justi
ficav
a a
queb
ra.
Ferim
ento
cor
to-c
ontu
so
sem
frat
ura,
ant
ebra
ço
E.

Sistema de Informação
Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (2): 136-148, abr/jun, 1993 143
não “choque com objeto presente no ambientede trabalho”. A descrição da causa na CATtambém é restritiva e somente o relato dotrabalhador estabelece a lógica causal: “usavatorno antigo, inadequado para a peça a sertrabalhada, necessitando improvisar para traba-lhar no ritmo de produção exigido pela empre-sa”. No caso 1, também é difícil imaginar asituação ocorrida pela descrição da CAT. Noentanto, conhecendo a versão do trabalhador,constata-se que havia um parafuso inadequadopara a máquina, fato conhecido pela empresa,tendo inclusive gerado a colocação de umcartaz: “Cuidado com o parafuso”.
Deste encontro com os trabalhadores, além doolhar mais profundo sobre a causalidade, umfato acabou por enriquecer a experiência aquidescrita. Um dos trabalhadores rastreado atravésdo sistema por um acidente não grave quesofrera e presente à reunião chamou a atençãopor apresentar amputação da mão esquerda. Aamputação era decorrente de outro acidenteocorrido no final do mês de dezembro, portan-to, dentro do periodo estudado.
Esta ocorrência tornou-se um dos eixos dadiscussão e acabou canalizando as preocupaçõesem relação ao ambiente de trabalho na empresa.Alguns pontos a considerar: (a) falha de de-tecção deste fato pelo sistema de informação.Embora o acidente tenha ocorrido em umaempresa situada na região do SUDS-R-6, oatendimento médico foi prestado por serviçolocalizado fora do SUDS-R-6. Como a lógicado sistema é regida pelas contas hospitalares deinstituições localizadas neste SUDS, explica-seo fato do acidente não ter sido devidamentedetectado; (b) o relato do paciente comprovouas conhecidas deficiências da atenção médicaprestada ao acidentado do trabalho; e (c) aquestão do risco de gravidade potencial queenvolve os acidentes leves. Este trabalhadorteve um acidente considerado leve (caso 2 doQuadro 1) e pouco tempo depois sofreu outro,desta vez grave. As causas deste acidentereferidas na CAT e a descrição pelo trabalhadorpodem ser observadas na Quadro 2.
O Enfoque da Empresa
Após o encontro com os trabalhadores, pro-gramou-se uma visita ao local, realizada sem
comunicação prévia à empresa. Esta estratégiaé importante, já que visitas programadas comantecedência e em comum acordo com osdiretores podem se tornar um ato meramenteburocrático. A expectativa da visita cria si-tuações artificais que não refletem as condiçõesdiárias do ambiente de trabalho.
A empresa, através de um dos diretores e dosupervisor de segurança, recebeu com estranhe-za os números apresentados. A discussão,embora percorrendo todos os acidentes doperíodo, centrou-se na amputação da mão. Asconclusões da Comissão Interna de Prevençãode Acidentes (CIPA) e as observações dosupervisor de segurança em relação a esteacidente estão no Quadro 2, onde fica clara aênfase no argumento do “ato inseguro”. Navisita à área de produção, chamou a atenção ofato de, em todas as prensas, os equipamentosde segurança serem inadequados. A prensa ondehavia ocorrido a amputação estava, naquelemomento, sendo operada por três trabalhadores.O sistema de cortina de célula fotoelétricaestava desligado e apenas dois duplos comandosestavam em uso; portanto, as mesmas condiçoesinadequadas descritas pelo trabalhador nareunião (ver Quadro 2).
As condições de operação dos equipamentosmostravam-se compatíveis com os dados apon-tados pelo sistema de informação, confirmandoa indicação de alto risco daquele ambiente detrabalho.
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
A vigilância em saúde é um processo dinâmi-co que deve, permanentemente, fornecer ele-mentos para uma intervenção organizada sobreaqueles fatores que se constituem em riscos àsaúde, objetivando modificar os padrões demorbi-mortalidade na população. A experiênciadesta investigação apresenta os três componen-tes de um sistema de vigilância: levantamentodas informações, análise de dados e ação (Fisc-hman, 1986; Fossaert et al., 1974; Landrigan,1989).
A participação dos trabalhadores acidentadospermitiu ampliar o conhecimento sobre osmúltiplos fatores causais envolvidos nos aci-dentes ocorridos na empresa e sobre os quais as

144 Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (2): 136-148, abr/jun, 1993
Wünsch-Filho, V. et al.
Funç
ão d
o Tr
abal
hado
r D
iagn
óstic
o D
escr
ição
da
Caus
a do
A
cide
nte
na C
AT
Des
criç
ão d
o A
cide
nte
pelo
Tra
balh
ador
Co
nclu
sões
da
CIPA
(ata
da
reun
ião
extra
ordi
nária
par
a di
scut
ir o
acid
ente
)
Obs
erva
ções
do
Supe
rviso
r de
Segu
ranç
a do
Tra
balh
o qu
ando
da
Disc
ussã
o so
bre
o A
cide
nte
dura
nte
a In
vesti
gaçã
o Re
aliz
ada
Aju
dant
e de
es
tam
paria
A
mpu
taçã
o da
mão
es
quer
da
Qua
ndo
traba
lhav
a na
co
loca
ção
de p
eças
em
es
tam
pa a
berta
o
func
ioná
rio te
ve o
ant
ebra
ço
esqu
erdo
esm
agad
o pe
la
colu
na d
a fe
rram
enta
.
A p
rens
a es
tava
send
o op
erad
a po
r 4 tr
abal
hado
res:
1º) p
ega
a ch
apa
(peç
a) d
e um
a pi
lha
e a
colo
ca n
a pr
ensa
(tem
que
enc
aixá
-la);
2º) r
etira
a p
eça
e co
loca
na
mes
a;
3º) C
oloc
a a
peça
na
outra
ferra
men
ta;
4º) r
etira
a p
eça.
Si
tuaç
ões q
ue e
nvol
vera
m o
aci
dent
e:
1. O
disp
ositi
vo d
e se
gura
nça
em v
olta
da
pren
sa
(cél
ula
foto
-elé
trica
) está
des
ligad
a po
rque
atra
palh
a a
prod
ução
. 2.
Ess
a pr
ensa
dev
eria
ser o
pera
da p
or q
uatro
du
plos
com
ando
s, m
as n
orm
alm
ente
na
empr
esa
traba
lha-
se c
om a
pena
s doi
s. N
o m
omen
to d
o ac
iden
te
esta
va e
m fu
ncio
nam
ento
ape
nas u
m
únic
o du
plo
com
ando
aci
onad
o pe
lo 3
º tra
balh
ador
(o
segu
ndo
esta
va fo
ra d
e fu
ncio
nam
ento
). 3.
Era
m q
uatro
aju
dant
es n
ovos
trab
alha
ndo
na p
rens
a,
nenh
um p
rens
ista
(épo
ca d
e fin
al d
e an
o, tr
abal
hado
res
em fé
rias.
4. O
trab
alha
dor a
cide
ntad
o es
tava
no
prim
eiro
pos
to.
Tinh
a qu
e en
caix
ar a
cha
pa n
a pr
ensa
, que
é u
ma
oper
ação
mai
s dem
orad
a qu
e as
out
ras t
rês.
5. O
trab
alha
dor q
ue e
stava
no
terc
eiro
pos
to
acio
nou
o co
man
do a
ntes
del
e re
tirar
a m
ão. S
ua
mão
E fo
i pre
nsad
a. O
trab
alha
dor q
ue a
cion
ava
o co
man
do (t
ambé
m n
ovo
na e
mpr
esa,
sem
prá
tica)
nã
o sa
bia
que
retir
ando
a m
ão d
o co
man
do a
pr
ensa
par
aria
aut
omat
icam
ente
.
1. D
isplic
ênci
a e
inex
periê
ncia
do
oper
ador
do
com
ando
. 2.
Fal
ta d
e du
plo
com
ando
(u
m p
ara
cada
trab
alha
dor)
para
a o
pera
ção
na p
rens
a.
1. T
raba
lham
"nor
mal
men
te" c
om u
m
com
ando
dup
lo d
e ca
da la
do d
a pre
nsa
(qua
lque
r) qu
e se
ja o
núu
mer
o de
tra
balh
ador
es q
ue e
stive
r em
cad
a la
do.
2. T
odas
as p
rens
as a
tual
men
te n
a em
pres
a te
m fr
eio
e fri
cção
, ou
se
ja, o
cic
lo p
ode
ser i
nter
rom
pido
se
os b
otõe
s do
dupl
o co
man
do
deix
arem
de
ser p
ress
iona
dos.
A
ntes
as p
rens
as ti
nham
o si
stem
a ch
ave-
enga
te, u
ma
vez
acio
nado
o
botã
o a
pren
sa fa
zia
o ci
clo
co
mpl
eto.
3.
Ref
ere
não
estip
ular
tare
fa
(pro
duçã
o) p
ara
a pr
ensa
. 4.
Rot
ativ
idad
e m
uito
alta
no
seto
r de
esta
mpa
ria (d
esqu
alifi
caçã
o da
m
ão d
e ob
ra).
5. S
istem
as d
e cé
lula
foto
elét
rica
desli
gado
s (os
trab
alha
dore
s não
co
nseg
uem
trab
alha
r com
o si
stem
a de
sliga
do: é
incô
mod
o).
QQQQ QUUUU U
AD
RA
DR
AD
RA
DR
AD
RO
2.
O 2
. O
2.
O 2
. O
2.
Aci
dent
e co
m A
mpu
taçã
o de
Mão
Oco
rrid
o na
Em
pres
a M
etal
úrgi
ca E
stud
ada,
no
mês
de
deze
mbr
o de
198
8

Sistema de Informação
Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (2): 136-148, abr/jun, 1993 145
informações, no contexto da CAT, são geral-mente insuficientes. O sistema de vigilância emacidentes do trabalho em operação no SUDS-R-6, embora limitado no aspecto qualitativo dacausalidade e também na agilidade de detecçãodo acidente, indicou, quantitativamente e comadequação, a empresa metalúrgica que devia serinvestigada. Não é possível calcular o coeficien-te de freqüência,
uma vez que os acidentes registrados nãorepresentam todos os ocorridos no períodoestudado na empresa.
Quando se busca avaliar o problema dosacidentes de trabalho, deve-se considerar aintrínseca conexão existente entre o processo deprodução e o processo de saúde-doença nostrabalhadores. O processo de produção écomposto pelo processo técnico de produção,caracterizado pelo maquinário, equipamento ematérias-primas,e pela organização social dotrabalho, que envolve a determinação dajornada e do turno de trabalho e, também, ocontrole dos trabalhadores e das tarefas. Dentrodeste contexto, outro aspecto que deve serlevado em consideração são as próprias con-dições de saúde dos trabalhadores, determinadaspela origem de classe social, relacionadas àssuas condições de nutrição, habitação, lazer erealizações familiares e sociais (Laurell &Noriega, 1989; Medrado Faria et al., 1983).
No conjunto dos acidentes do trabalho aquianalisados, nota-se a contribuição dos compo-nentes do processo de produção em cada si-tuação de ocorrência do acidente. É evidenteque, nos acidentes com prensas e serras, deve-se pensar nos mecanismos de proteção destasmáquinas que se estivessem funcionando nãoteriam gerado o acidente. Nos acidentes 3 e 4do Quadro 2 está clara a multicausalidade,envolvendo tanto aspectos do processo técnicode produção como da organização social dotrabalho.
É responsabilidade da empresa prover asegurança para a operação dos equipamentos detrabalho. A atitude empresarial é geralmenteidentificar o problema como “ato inseguro” dotrabalhador. Este é um enfoque distorcido e decerta forma já sedimentado por uma determina-
da cultura nas áreas da Medicina Ocupacionale da Engenharia de Segurança, sendo, inclusive,muitas vezes absorvido pelo trabalhador. Ooperário que teve a mão amputada, por exem-plo, embora identificasse parte dos problemasestruturais que haviam favorecido o acidente,apontava para uma certa culpabilidade daqueleterceiro trabalhador que operava na prensa oúnico comando duplo. A vivência concreta daperda às vezes não permite elaborações abstra-tas, relacionando fatores ligados ao processo deprodução como fonte geradora do acidente. Aempresa que, por força da lei, não pode demití-lo sutilmente busca reduzir sua responsabilida-de. A argumentação dos representantes daempresa aborda as circunstâncias do acidente nocontexto da organização do trabalho, masatravés de uma óptica própria. O fato do termo“displicência” preceder o termo “inexperiên-cia” no relatório da CIPA (Quadro 2) deixaclaro o ardil: é o operário que, com seu desinte-resse pelo trabalho, desencadeou o ato inseguroque gerou o acidente. A “inexperiência” ficaem segundo plano no relatório, já que seriaresponsabilidade da empresa capacitar seusfuncionários para a operação de suas máquinas.Ainda no tocante à empresa, o supervisor desegurança do trabalho referiu que não estipulaprodução para as operações na prensa. Algunsfatos sugerem o contrário, deixando implícita aexistência de um determinado ritmo de pro-dução. O acidente ocorreu pela manhã, porvolta das 10:00 horas. O período de final deano e também a época de férias levaram osadministradores da empresa a estabelecerem ouso de apenas um duplo comando para acionara prensa, a manterem desligado o sistema decélula fotoelétrica e a alocarem trabalhadoresinexperientes na atividade com prensas.
Outro aspecto que merece atenção é saberquais mudanças efetivamente ocorreram noambiente de trabalho desta fábrica após aintervenção realizada pelo PST. A ação dostécnicos do programa foi pontual e, evidente-mente, isso não representa garantia de mudan-ças no ambiente de trabalho. Somente os traba-lhadores organizados, exercendo o seu direitode cidadania, é que podem assegurar as mudan-ças necessárias nos seus locais de trabalho. Ostécnicos da área de saúde não podem garantirconquistas. Imagine, a título de exemplo, uma
nº de acidentes/lesões X 1.000.000nº de homens/hora exposto ao risco
C.F. =

146 Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (2): 136-148, abr/jun, 1993
Wünsch-Filho, V. et al.
situação concreta. Na área de abrangência doSUDS-R-6 existem cerca de 2.400 empresasindustriais. caso se estabelecesse como estratégiade trabalho visitar todos os ambientes fabrisda região e, utilizando-se a capacidade opera-cional máxima, fossem visitadas duas empresaspor dia, só se retornaria à primeira empresavisitada em um período de cinco anos. Parececlara a inviabilidade desta estratégia comoprática transformadora.
Oddone, na Itália (1986) e, mais recentemen-te, Laurell, no México (1989), têm discutidopropostas no sentido de um trabalho junto aossindicatos de trabalhadores para a compreensãoe percepção do processo de produção. Laurell,trabalhando com operários de uma siderúrgica,está em contato com uma parcela de trabalha-dores organizados e com preocupações maisdefinidas nas questões de saúde. Nesta situação,mesmo sem contato com o ambiente laborativo,os técnicos conseguem reter uma nítida per-cepção dos riscos presentes naquele ambiente,riscos esses que Laurell conceitua como cargasde trabalho. Buscamos também, a nível deserviço, resgatar a experiência operária. Noentanto, num sistema de vigilância em saúde,deve-se considerar ações permanentes, diárias,rotineiras. Esta rotina de serviços apresentacaracterísticas e, muitas vezes, objetivos diver-sos do mundo acadêmico. Quando nos referi-mos a um sistema de vigilância a nível local,estamos, na verdade, falando de um sistema deinformação para a ação, e, neste nível, nemsempre há a oportunidade de se trabalhar comas parcelas operárias mobilizadas para a questãoda saúde. Esta situação está presente nesteestudo. A categoria dos metalúrgicos tem poucaorganização sindical na zona norte da cidade deSão Paulo. Não se trata aqui de discutir osrumos e prioridades do movimento sindical emSão Paulo ou em determinada região da cidadede São Paulo. Constata-se o fato. Há diferentesformas de organização dos trabalhadores, anível sindical e a nível dos locais de trabalho,e uma não substitui a outra. Não há dúvida deque o trabalho articulado com uma categoriaprofissional em que haja respaldo sindicalresulta em maiores ressonância e efetividade.Entretanto, quando esta situação ideal nãoexiste, os técnicos devem manter contato comos trabalhadores e, deste contato, buscar formas
de atuação efetivas para suas intervenções nosambientes de trabalho.
Outro ponto que deve ser discutido é sobre asestratégia de ação a ser desenvolvida a partirdos dados levantados pelo sistema de infor-mações. A conclusão é que as linhas de açãonão são excludentes, ou seja, deve-se estaratento tanto àquelas empresas que apresentamgrande número de acidentes quanto investigaros acidentes graves. A nível local, é necessárioestruturar um banco de dados sobre as empresasda região. É somente com essas informaçõesque podem ser definidos os riscos por empresa.Nem sempre as empresas com menor númerode acidentes são as menos perigosas. Já foiapontada, em estudo da década de 70, a impor-tância das pequenas empresas industriais naquestão dos acidentes do trabalho em São paulo(Mendes, 1975). É necessário saber o númerode empregados da empresa para estabelecer orisco proporcional.
Ficaram evidentes, também, as limitações doinstrumento de comunicação de acidentes detrabalho. A CAT deve necessariamente serrepensada. Criada para fins de registro legal dotrabalhador acidentado, ela deve sofrer modifi-cações para que possa cumprir o duplo papel decontinuar a ser a base legal do acidentado etambém servir aos objetivos de um sistema deinformação em saúde.
Deve ser considerado, ainda, nessas reflexões,o modelo assistencial aos acidentados do traba-lho. O paciente que teve a mão amputadademorou cerca de três horas para receber aten-dimento médico. Logo após o acidente, otrabalhador foi levado a um hospital credencia-do privado dentro da área do SUDS-R-6. Porfalta de condições o atendimento, foi transporta-do para um hospital-escola, referência terciáriada cidade de São Paulo, o qual, alegando nãoter credenciamento para atender acidentes dotrabalho, embora legalmente não exista estanecessidade, remeteu o paciente para um hospi-tal credenciado localizado no SUDS-R-1, regiãocontígua ao SUDS-R-6. Dois pontos ficamevidentes nesta situação: a incoerência doshospitais públicos não atenderem acidentadosdo trabalho e a falta de um sistema mínimo dereferência e contra-referência.
Finalmente, julgamos que a abrangência dosistema de vigilância em saúde em São Paulo e

Sistema de Informação
Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (2): 136-148, abr/jun, 1993 147
em outras regiões do país deve buscar incorpo-rar os eventos patológicos não-transmissíveis. Amonitoria destas ocorrências colocará o sistemaem sintonia com as transições processadas pelapopulação brasileira. No que diz respeito àsaúde dos trabalhadores, as informações geradaspelo sistema darão suporte para o planejamentodas atividades dos programas, as quais serãotraduzidas em ações mais efetivas para mudan-ças no ambiente e no processo de trabalho, bemcomo no encaminhamento de soluções para asgraves distorções do modelo assistencial.
O sistema de informação, a nível local, devearticular-se não só com outros níveis locais paraa troca de informações, mas também comoutras instâncias, de níveis regional e central.Somente assim estará caracterizado um sistemade vigilância em saúde. As informações conso-lidadas em níveis centrais devem servir desubsídios para a elaboração de uma legislaçãoespecífica e para a política de planejamento doespaço geográfico, direcionando a organizaçãourbana, levando-se em consideração áreas deindustrialização, de moradia, de lazer e do fluxode tráfego.
O sistema de vigilância que entendemos,particularmente neste aspecto dos acidentes edoenças do trabalho, só poderá se tornar reali-dade com a efetiva municipalização dos servi-ços e com a integração entre as diversas regiõesde saúde, realizadas dentro do espirito daReforma Sanitária. A efetividade do sistema edas ações transformadoras só estará garantidacom a participação dos principais interessados— os trabalhadores.
RESUMO
WÜNSCH-FILHO, V.; SETTIMI, M. M.;FERREIRA, C. S. W.; CARMO, D. C.;SANTOS, U. P.; MARTARELLO, N. A. &COSTA, D. F. Sistema de Informação paraa Ação: Subsídios para a Atuação Práticados Programas de Saúde dosTrabalhadores a Nível Local. Cad. SaúdePúbl., Rio de Janeiro, 9 (2): 136-148, abr/jun,1993.
Nas últimas décadas o Brasil transformou-seem uma sociedade industrializada. A partir daperspectiva epidemiológica e considerando asmudanças que estão ocorrendo a populaçãobrasileira, particularmente nos aspectos datransição demográfica, discute-se nestetrabalho a necessidade de repensar aabrangência e prioridade do sistema devigilância epidemiológica no país. O estudoavalia o sistema de informação para a ação deacidentes do trabalho a nível local, implantadono Programa de Saúde dos Trabalhadores doSUDS-R-6 (Mandaqui), tendo por base osdados de uma empresa metalúrgica da regiãoque o sistema identificava como apresentandoum processo de produção com alto risco deacidentes. A participação dos trabalhadoresacidentados na discussão sobre os riscosambientais e processo de trabalho, permitiuesclarecer a multicausalidade envolvida nosacidentes ocorridos nesta empresa. Édestacada a importância da participação dostrabalhadores organizados — através de seussindicatos, nas ações de controle dosacidentes. Embora, nem sempre essaparticipação organizada seja possível, o setorsaúde deve buscar formas de atuação queresgatem a experiência concreta dostrabalhadores.
Palavras-Chave: Programa de SaúdeOcupacional; Vigilância Epidemiológica;Acidentes do Trabalho

148 Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (2): 136-148, abr/jun, 1993
Wünsch-Filho, V. et al.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANÔNIMO, 1989. Editorial. Revista Brasileira deSaúde Ocupacional, 67: 1.
COSTA, D. F.; CARMO, J. C.; SETTIMI, M. M. &SANTOS, U. P. (orgs.), 1989. Programa deSaúde dos Trabalhadores. A experiência daZona Norte: Uma Alternativa em Saúde Pública.São Paulo: Hucitec.
DE CICCO, F. M. G. A. F., 1982. Estatísticas deAcidentes do Trabalho, Brasil 1980. São Paulo:Fundacentro.
CHAIA, M. W., 1988. Estado, família e desemprego.São Paulo em Perspectiva, 2: 16-19.
DEDECCA, C. S. & FERREIRA, S. P., 1988.Crescimento econômico e população economica-mente ativa. São Paulo em Perspectiva, 2: 43-55.
FISCHMAN, A., 1986. Vigilância epidemiológica.In: Epidemiologia e Saúde (M. Z. Rouquayrol,org.), pp. 319-341, Rio de Janeiro: Medsi.
FOSSAERT, H.; LLOPIS, A. & TIGRE, C. H.,1974. Sistemas de vigilância epidemiológica.Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana,76: 512-528.
SEADE (Fundação Estadual de Análise de Dados),1987. Anuário Estatístico do Brasil: 1983-1986.São Paulo: Fundação Seade.
KALACHE, A.; ERAS, R. P. & RAMOS, L. R.,1987. O envelhecimento da população mundial:um desafio novo. Revista de Saúde Pública, 21:200-210.
LANDRIGAN, P. J., 1989. Improving the surveil-lance of occupational disease (editorial). Ameri-can Journal of Public Health, 79: 1601-1602.
LAURELL, A. C. & NORIEGA, M., 1989. Processode Produção e Saúde. Trabalho e DesgasteOperário. São Paulo: Hucitec.
MENDES, R., 1975. Importância das PequenasEmpresas Industriais no Problema de Acidentesde Trabalho em São Paulo. Tese de Mestrado,São Paulo: Faculdade de Saúde Pública, Univer-sidade de São Paulo.
ODDONE, I.; MARRI, G.; GLORIA, S.; BRIANTE,G.; CHIATTELLA, M. & RE, A., 1986. Am-biente de Trabalho: A Luta dos Trabalhadorespela Saúde. São Paulo: Hucitec.
OLIVEIRA, F., 1988. O flanco aberto. São Paulo emPerspectiva, 2: 10-12.
MEDRADO-FARIA, M. A.; GUIMARÃES, O. M.A.; CASTILHO, E. A.; BEZERRA, W.; RO-CHA, L. E. & ALVARENGA, A. I., 1983.Saúde e trabalho: acidentes de trabalho emCubatão. Revista Brasileira de Saúde Ocupacio-nal, 42: 7-22.
POSSAS, C. A., 1981. Saúde e Trabalho. A Crise daPrevidência Social. Rio de Janeiro: Graal.
_________ , 1987. Contribuição para a definição deum sistema nacional de informações e acidentesdo trabalho. Previdência em Dados, 2: 13-24.
_________ , 1989. Epidemiologia e Sociedade.Heterogeneidade Estrutural e Saúde no Brasil.São Paulo: Hucitec.
RAMOS, L. R.; VERAS, R. P. & KALACHE, A.,1987. Envelhecimento populacional: uma reali-dade brasileira. Revista de Saúde Pública, 21:211-224.
ROGMANS, W., 1989. National programmes onaccident and injury prevention. The role of thehealth sector. First World Conference on Acci-dent and Injury Prevention. Stockholm, Sep-tember 21-22. (Comunicação Pessoal)
SAAD, P. M. & CAMARGO, A. B. M., 1989. Oenvelhecimento populacional e suas conseqüên-cias. São Paulo em Perspectiva, 3: 40-45.
SANTOS, U. P.; WÜNSCH-FILHO, V.; CARMO, J.C.; SETTIMI, M. M.; URQUISA, S. D. & HEN-RIQUES, C. M. P., 1990. Sistema de vigilânciaepidemiológica para acidentes do trabalho: expe-riência da zona norte do município de São Paulo.Revista de Saúde Pública, 24: 286-293.
SANTOS, U. P.; WÜNSCH-FILHO, V.; URQUIZA,S. D. & HENRIQUES, C. M. P., 1989. Routineinformation system of work accidents in adelimited area of São Paulo city, Brazil. AbstractGuide. First World Conference on Accident andInjury Prevention. Stockholm, September 17-20.(Mimeo.)
TROYANO, A. A., 1988. Como medir o desempregonuma economia subdesenvolvida. São Paulo emPerspectiva, 2: 13-15.
VERAS, R. P.; RAMOS, L. R. & KALACHE, A.,1987. População idosa no Brasil: transformaçõese conseqüências na sociedade. Revista de SaúdePública, 21: 225-233.