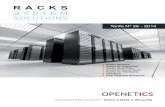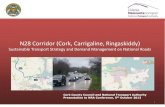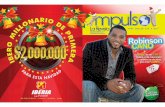REVISTA Impulso n28
-
Upload
gustavo-costa -
Category
Documents
-
view
292 -
download
2
Transcript of REVISTA Impulso n28

impulso
1
nº 25
IMPULSO ISSN 0103-7676 • PIRACICABA/SP • Volume 12 • Número 28 • P 1-200 • 2001
Impulso_28.book Page 1 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

dezembro
2
99
Universidade Metodista de Piracicaba
Reitor
A
LMIR
DE
S
OUZA
M
AIA
Vice-reitor Acadêmico
E
LY
E
SER
B
ARRETO
C
ÉSAR
Vice-reitor Administrativo
G
USTAVO
J
ACQUES
D
IAS
A
LVIM
EDITORA U
NIMEP
Conselho de Política Editorial
A
LMIR
DE
S
OUZA
M
AIA
(
PRESIDENTE
)A
NTÔNIO
R
OQUE
D
ECHEN
C
ASIMIRO
C
ABRERA
P
ERALTA
C
LÁUDIA
R
EGINA
C
AVAGLIERI
E
LIAS
B
OAVENTURA
E
LY
E
SER
B
ARRETO
C
ÉSAR
(
VICE
-
PRESIDENTE
)G
USTAVO
J
ACQUES
D
IAS
A
LVIM
G
ISLENE
G
ARCIA
F
RANCO
DO
N
ASCIMENTO
N
IVALDO
L
EMOS
C
OPPINI
Comissão Editorial
E
LIAS
B
OAVENTURA
(
PRESIDENTE
)A
MÓS
N
ASCIMENTO
J
ORGE
L
UIS
M
IALHE
J
OSIANE
M
ARIA
DE
S
OUZA
T
ÂNIA
M
ARA
V
IEIRA
S
AMPAIO
Editor executivo
H
EITOR
A
MÍLCAR
DA
S
ILVEIRA
N
ETO
(MT
B
13.787)
Equipe técnica
Secretária: I
VONETE
S
AVINO
Apoio administrativo: A
LTAIR
A
LVES
DA
S
ILVA
Secretaria editorial: N
ILSON
C
ÉSAR
DE
S
OUSA
Edição de texto: S
UZANA
V
ERISSIMO
Revisão do inglês: M
ARGARET
A
NN
G
RIESSE
Revisão do espanhol: J
UAN
C
ARLOS
B
ERCHANSKY
Supervisão gráfica: C
ARLOS
T
ERRA
DTP e produção: G
RÁFICA
U
NIMEP
Capa: W
ESLEY
L
OPES
H
ONÓRIO
Impressão: Y
ANGRAF
G
RÁFICA
E
E
DITORA
L
TDA
.Produzida em março/2001
A revista
IMPULSO
é uma publicação quadrimes-tral da Universidade Metodista de Piracicaba –U
NIMEP
(São Paulo, Brasil). Aceitam-se artigos aca-dêmicos, estudos analíticos e resenhas, nas áreasdas ciências humanas e sociais, e de cultura emgeral. Os textos são selecionados por processoanônimo de avaliação por pares (
peer review
). Vejaas normas para publicação no final da revista.
IMPULSO
is a quarterly journal published by theUniversidade Metodista de Piracicaba – U
NIMEP
(São Paulo, Brazil). The submission of scholarly arti-cles, analytical studies and book reviews on thehumanities, society and culture in general is wel-come. Manuscripts are selected through a blindpeer review process. See editorial norms for submis-sion of articles in the back of this journal.
Impulso
é indexada por:
Impulso
is indexed by
:
Base de Dados do
IBGE
; Bibliografia Bíblica Latino-Americana; Índice Bibliográfico Clase (
UNAM
); eSumários Correntes em Educação.
Administração, redação e assinaturas:
Editora U
NIMEP
www.unimep.br/editoraRodovia do Açúcar, km 156Tel./fax: 55 (19) 430-1620 / 430-162113.400-911 – Piracicaba, São Paulo/BrasilE-mail: [email protected]
Revista de Ciências Sociais e Humanasda Universidade Metodista de Piracicaba
VOL. 1 • Nº 1 • 1987Quadrimestral/Quarterly
ISNN 0103-76761- Ciências Sociais – periódicos
CDU – 3 (05)
Impulso_28.book Page 2 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso
3
nº 25
EDITORIAL
É SOMENTE O DEPOIS DE AMANHÃ QUE ME PERTENCE.ALGUNS HOMENS NASCEM PÓSTUMOS
Assim falava Nietzsche...
Friedrich Wilhelm Nietzsche, nascido em 15 de outubro de 1844 nacidade alemã de Röcken, próxima a Leipzig, sempre se autodenominou umpensador extemporâneo, alguém para além de seu tempo. Mas podemosnos perguntar: seria ele ainda atemporal ou já teria ficado preso à malha dahistória? Os ensinamentos nietzschianos permanecem apontando para umfuturo ou teriam sido abarcados e digeridos pela tradição filosófica?
Nietzsche morreu aos 56 anos de idade, na cidade de Weimar, a 25 deagosto de 1900, e durante praticamente toda a sua vida intelectual amargouo desprezo e a indiferença de seus contemporâneos. Para ter suas obras pu-blicadas, pagava do próprio bolso o custeio da impressão; a quantidade erapequena e quase sempre não recebia resposta das pessoas às quais brindavacom seus livros. O silêncio em torno de seu pensamento era quase total, edisso tinha consciência. No prólogo de Ecce Homo afirmou: “Prevendoque dentro em pouco devo dirigir-me à humanidade com a mais séria exi-gência que jamais lhe foi colocada, parece-me indispensável dizer quem sou.Na verdade já se deveria sabê-lo, pois não deixei de ‘dar testemunho’ demim. Mas a desproporção entre a grandeza de minha tarefa e a pequenezde meus contemporâneos manifestou-se no fato de que não me ouviram,sequer me viram”.
O autor de O Nascimento da Tragédia acreditava que sua filosofianão era apropriada para a época em que vivia, que seu espírito estaria paraalém da cultura filistéia do seu tempo: “É somente o depois de amanhãque me pertence. Alguns homens nascem póstumos”. Em uma carta en-
Impulso_28.book Page 3 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

dezembro 4 99
dereçada a Malwida von Meysenbug, sobre Zaratustra, Nietzsche afir-ma: “Quero levar a humanidade a resoluções que decidirão sobre todoo futuro humano, e pode acontecer que um dia milênios inteiros façamem meu nome seus votos mais elevados”. Nesses termos, Nietzsche defato foi um póstumo...
É assim que a assinatura dele grafitada em nossa capa busca reafir-mar esta personalidade que previu tal reconhecimento futuro. Nela, opensador que não foi devidamente reconhecido em vida é trazido para opresente, “preso” num código de barras, livre representação da digitaliza-ção dos ícones nos tempos modernos. Ao entitular-se um homem do fu-turo, Nietzsche concretizou-se nas gerações posteriores por sua “profe-cia”: depois dele, somente é possível filosofar com ele ou contra ele, masnunca indiferente a ele. A filosofia nietzschiana foi objeto de estudo dosgrandes filósofos que se seguiram a ele. Nietzsche foi lido, estudado e co-mentado pelos maiores pensadores do século XX, exercendo influência,entre outros, sobre Freud, Jaspers, Heidegger, Klossowski, Foucault, De-leuze e Rorty. E igualmente terminou apropriada pelos mais diversos finspolíticos, metafísicos ou religiosos,
A filosofia nietzschiana também serviu de inspiração ao debate so-
bre a modernidade e a pós-modernidade. Nietzsche, o crítico da moder-
nidade, parece subsistir graças à sua extemporaneidade. E deixar o espí-
rito crítico dele em paz somente é possível se nunca tomarmos sua fi-
losofia como a Verdade desveladora do real; como a chave interpretativa
do mundo. Pelo contrário, devemos ler Nietzsche à luz dos Oráculos
que nunca afirmam, que nunca respondem, que nunca revelam, mas ape-
nas apontam... Desse modo, devemos tomá-lo unicamente como um
apontamente para o futuro, um futuro extemporâneo.
Nós, em pleno século XXI, também somos os póstumos de Nietzs-che, portanto, igualmente influenciados pela sua filosofia – dialogandocom ela ou contra ela. No entanto, cabe dialogar com os filósofos preser-vando sempre a fidelidade ao seu pensar. Assim, numa referência a Fou-cault, devemos apropriar-nos da filosofia de Nietzsche muito menoscomo uma verdade e muito mais como uma caixa de ferramenta com aqual filosofamos sobre o mundo e a existência. É com esse sentimento quefoi proposta esta edição da IMPULSO pelos professores e alunos do Cursode Filosofia da UNIMEP, que vislumbraram no centenário de morte dopensador alemão do século XIX um momento oportuno para aprofundaras discussões sobre este que foi um dos mais célebres filósofos da moder-nidade.
COMISSÃO EDITORIAL
Impulso_28.book Page 4 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso 5 nº 25
...............................Temáticos
O CAOS E A ESTRELAChaos and the Star
OSWALDO GIACOIA JUNIOR 11
EM BUSCA DO DISCÍPULO TÃO AMADO.Uma análise conceitual do prólogo
de Assim Falava ZaratustraIn Search of the so Beloved Disciple.
A conceptual analysis of the preface ofThus Spoke Zarathustra
SCARLETT MARTON 21
CULTURA E EDUCAÇÃO NOPENSAMENTO DE NIETZSCHE
Culture and Education in the Thinking of NietzscheROSA DIAS 33
O MÉTODO NIETZSCHIANO DECRÍTICA AO CRISTIANISMO:
filologia e genealogiaThe Nietzschean Method of CriticizingChristianity: philology and genealogy
MÁRCIO DANELON 41
HISTÓRIA E VERDADE:do absolutismo ascético à ascese do relativismo
History and True: from ascepticabsolutism to the ascesis of relativism
JOSÉ JOÃO PINHANÇOS DE BIANCHI 57
RISA, PERSPECTIVA Y DELIRIO:el caso Nietzsche
Laughter, Perspective and Delirium:the case of NietzscheMARTÍN HOPENHAYN 65
NIETZSCHE, A LIÇÃOSCHOPENHAUER E O ETERNO RETORNO
Nietzsche, Schopenhauer’s Lesson and the Eternal Return
CARLOS ALBERTO SOBRINHO 81 Sum
ário
Impulso_28.book Page 5 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

dezembro 6 99
LEOPARDI E NIETZSCHE:uma reflexão sobre história,
memória e esquecimentoLeopardi and Nietzsche: a reflection about
history, memory and forgetfulnessJOSÉ GERARDO VASCONCELOS 95
FREUD E NIETZSCHE:ontogênese e filogênese
Freud and Nietzsche:ontogenetics and phylogeneticsMÁRCIO APARECIDO MARIGUELA 103
UM ENCONTRO DE ADORNO ENIETZSCHE NAS MINIMA MORALIAThe Encounter of Adorno and Nietzsche
In Minima MoraliaBRUNO PUCCI 111
A VIDA É BELA:o amor fati de Nietzche no cinema
Life is Beautiful: The Amor Fati of Nietzsche in filmCHRISTOPH TÜRCKE 123
CRÍTICAS NIETZCHEANAS À MODERNIDADENietzschean Criticism to Modernity
JUNOT CORNÉLIO MATOS 129
...............................Comunicação
O CULTO DOS ÜBERMENSCH.Extropianos, os elitistas
nietzcheanos do século XXIThe Cult of the Digital Übermensch.
Extropians, 21’st century nietzschean elitistsBEN GOERTZEL 151Su
már
ioImpulso_28.book Page 6 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso 7 nº 25
...............................Gerais
DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MÃO-DE-OBRAFEMININA: uma síntese da controvérsia teórica
Discrimination Against Female Labor:overview of the theoretical controversy
ANA MARIA HOLLAND OMETTO 159
MEMÓRIA, HISTÓRIA E NOVAS TECNOLOGIASMemory, History and New Technologies
EDUARDO ISMAEL MURGUIA &RAIMUNDO DONATO DO PRADO RIBEIRO 175
...............................Resenhas
DANÇANDO COM O ESTRANGEIRO:a valsa das relações internacionais do Brasil
ANDRÉ SATHLER GUIMARÃES 187
A QUEM SERVEM AS PSICOLOGIAS?EDSON OLIVARI DE CASTRO 189
POR QUE A PSICANÁLISE?PAULO SÉRGIO EMERIQUE 193
...............................Normas 197
Sum
ário
Impulso_28.book Page 7 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

dezembro 8 99
Impulso_28.book Page 8 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 9
Impulso_28.book Page 9 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

10 impulso nº 28
Impulso_28.book Page 10 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 11
O CAOS E A ESTRELACHAOS AND THE STAR
Resumo O artigo apresenta uma breve interpretação do tema do niilismo numa sé-rie de episódios dramáticos presentes no prólogo de Assim Falou Zaratustra. O autortoma como ponto de partida uma aproximação entre esse prólogo e o aforismo 125de A Gaia Ciência, e utiliza como operadores hermenêuticos centrais as figuras doAlém-do-Homem e do Último Homem.
Palavras-chave ALÉM-DO-HOMEM – ÚLTIMO HOMEM – NIILISMO – POLÍTICA –MODERNIDADE.
Abstract The aim of this article is to present a brief interpretation of the theme ofnihilism in a series of dramatic episodes, which are introduced in the preface to ThusSpoke Zarathustra. An approximation between this preface and the aphorism 125 ofThe Gay Science provides the starting point while I make use of the figures of theOverman and the Last Man as central hermeneutic operators.
Keywords OVERMAN – THE LAST MAN – NIHILISM – POLITICS – MODERNITY.
OSWALDO GIACOIA JUNIOR
Professor do Instituto de Filosofiae Ciências Humanas da Unicamp
Impulso_28.book Page 11 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

12 impulso nº 28
Vede: Eu vos ensino o Além-do-Homem! O Além-do-Ho-mem é o sentido da terra! Que diga a vossa vontade: seja oAlém-do-Homem o sentido da terra!”1
Com essas palavras, Zaratustra faz sua primeira aparição públicadescrita no prólogo de Also Sprach Zarathustra. Movido por seu amor peloshomens, oferta-l;hes a mais ardente esperança: a elevação do homem acimade si mesmo, a perigosa travessia sobre a corda estendida entre o símio e oraio transfigurador.
Sua pregação só encontra, porém, em meio à multidão reunida na praçapública, o escárnio e o cinismo. Retumbante fracasso do profeta e do porta-voz. Gostaria de sugerir que a narrativa do espetacular insucesso de Zaratus-tra na praça do mercado, tal como estilizada por Nietzsche no prólogo de As-sim Falou Zaratustra, é preparada e conduzida pela encenação dramática deoutro célebre fiasco narrado pelo filósofo. Refiro-me aqui ao trágico episódiode praça pública, protagonizado pelo homem louco, objeto do aforismo 125de A Gaia Ciência.
Ao revisitar essa passagem memorável, pretendo sustentar que existeum conjunto absolutamente ordenado de correspondências intertextuais es-truturantes, tornando cada uma dessas narrativas o símile invertido de seurespectivo correspondente.
A tese que ora avanço, isso é, de que o aforismo 125 de A Gaia Ciênciaantecipa e dirige a montagem da cena pública que figura no prólogo deAssim Falou Zaratustra pode encontrar uma primeira atestação herme-nêutica no modo de composição da primeira das obras mencionadas.Como se sabe, o último aforismo do quarto livro de A Gaia Ciência –com o qual terminava o livro, na primeira edição de 1882 – já contém, emgrande parte literalmente, os primeiros lineamentos do prólogo de Zara-tustra, enquanto o penúltimo expõe, sob a forma de enigma, o ensina-mento do eterno retorno do idêntico, um dos temas fundamentais daobra subseqüente.
Num acurado trabalho de interpretação, baseado no exame escrupu-loso das últimas provas tipográficas de A Gaia Ciência, Jörg Salaquarda de-monstra, com a paciência e a minúcia do ourives, que Nietzsche induz o lei-tor, até mesmo pela disposição tópica dos aforismos no interior dos livros epela ordem seqüencial dos próprios livros, conduzindo-o ritmicamente numcrescendo até a região espiritual de atmosfera rarefeita, onde enuncia a seu dis-cípulo ideal a quintessência de sua doutrina, o mais esotérico dos mistérios: oeterno retorno do idêntico.2 Todavia, não é precisamente a argumentos dessaespécie que pretendo recorrer. Para elucidar minha hipótese, proponho, deinício, um retorno ao famoso aforismo 125 de A Gaia Ciência:
Não ouvistes falar daquele homem louco que, em plena manhã clara,acendeu um candeeiro, correu ao mercado e gritava incessantemente: “–
1 NIETZSCHE, 1980. Todas as citações de Assim Falou Zaratustra e demais obras originais de Nietzschese referem a essa edição. Não havendo indicação em contrário, as traduções são de minha autoria.2 SALAQUARDA, 1999.
““““
Impulso_28.book Page 12 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 13
Procuro Deus! Procuro Deus!”. E como láse reunissem justamente muitos dos quenão acreditavam em Deus, provocou ele,então, uma grande gargalhada. “– Perdeu-seele, pois?”, dizia um. “– Ter-se-ia extraviado,como uma criança?”, dizia o outro. “– Ouse mantém oculto? Teria ele receio de nós?Terá tomado o navio? Emigrado?”, dessemodo gritavam e riam entre si.3
O espaço cênico onde se desenrolam as duasnarrativas fornece aqui o primeiro elemento de in-tertextualidade. Como salta aos olhos ao primeirorelance, Nietzsche justapõe imagens espaciais con-vergentes: as duas performances, a do louco e a deZaratustra, se dão no mesmo palco, mais precisa-mente, na praça pública do mercado.
Não por acaso (afirma Christoph Türcke co-mentando o aforismo 125 de A Gaia Ciên-cia) Nietzsche, o erudito em filologia antiga,faz seu homem louco ingressar na praça domercado: a ágora foi a alma da polis grega que,na maioria das vezes, ficava junto ao porto,onde se desenrolava toda vida pública, ondese julgava, se sacrificava aos deuses e se co-merciava. (...) O mercado é o berço da filo-sofia ocidental, e, com isso, também de seusmais poderosos produtos históricos: as idéiasmetafísicas.4
Relativamente ao espaço cênico, vale destacaros personagens que o partilham com os protagonis-tas. No caso de Zaratustra, a turba, aguardando an-siosamente a exibição de um funâmbulo, serve deinterlocutor. O saltimbanco deveria atravessar, equi-librando sobre uma corda estendida nas alturas, olargo espaço que separava duas torres situadas emextremos opostos da praça. Esse é o motivo prosai-co que fornece ocasião para o primeiro discurso pú-blico de Zaratustra. No caso de A Gaia Ciência, oscínicos interlocutores do homem louco são os pro-motores e herdeiros da Ilustração, lídimos represen-tantes da moderna consciência científica.
Em ambas as cenas, porém, tanto da parte dosnotáveis quanto da populaça à espreita de diversão
sensacional, a reação é de escárnio, zombaria, ridi-cularização humilhante. Já ouvimos as respostas da-das ao louco; ouçamos agora as respostas dirigidas aZaratustra, logo em seguida ao anúncio redentor doAlém-do-Homem. “Quando Zaratustra tinha as-sim falado, alguém da multidão gritou: ‘Eis que jáouvimos o suficiente do funâmbulo! Deixai-nostambém vê-lo agora!’. E todo povo se ria de Zara-tustra”.5
Atentemos para a simetria das imagens. Paratanto, é necessário que recapitulemos os gestos emetáforas do homem louco:
O homem louco saltou em meio a eles etrespassou-os com o olhar. “Para onde foiDeus?”, clamou. “Eu vos quero dizê-lo!Nós o matamos, vós e eu! Nós todos so-mos seus assassinos! Como, porém, o fize-mos? Como pudemos tragar o oceano?Quem nos deu a esponja para remover o in-teiro horizonte? Que fizemos nós, quandodesprendemos esta terra de seu sol? Paraonde se move ela, então? Para onde nosmovemos nós? Longe de todos os sóis?Não nos precipitamos sem cessar? Para trás,para o lado, para frente, de todos os lados?Há ainda um alto e um baixo? Não erramoscomo através de um Nada infinito? Nãonos bafeja o espaço vazio? Não ficou maisfrio? Não vem sempre a noite, sem cessar, emais noite? Não temos que acender cande-eiros pela manhã? Nada ouvimos ainda dorumor dos coveiros, que sepultam Deus?Nada sentimos ainda do cheiro da decom-posição divina? Também os deuses se de-compõem! Deus morreu! Deus permanecemorto! E nós o matamos! Como é que nosconsolamos, nós os mais assassinos de to-dos os homicidas? O que o universo pos-suiu de mais santo e poderoso até agora san-grou sob nossos punhais – quem enxuga denós esse sangue? Com que água podería-mos nos purificar? Que cerimônias de ex-piação, que divinos jogos teríamos que in-ventar? A grandeza desse feito não é dema-siado grande para nós? Não teríamos quenos tornar nós mesmos deuses, para apenas
3 NIETZSCHE, 1980, p. 480.4 TÜRCKE, 1989, p. 16. 5 NIETZSCHE, 1980, p. 16.
Impulso_28.book Page 13 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

14 impulso nº 28
parecer dignos dele? Jamais houve um feito
maior – e quem tenha alguma vez nascido
depois de nós pertence, por causa desse fei-
to, a uma história mais elevada do que foi
toda história até agora!”.6
Quando se compara os dois textos que esta-mos examinando, é necessário estar atento para umjogo caleidoscópico de imagens recorrentes, exigin-do-se mutuamente em direções complementares.No caso do louco, o lamento se faz, primeiramente,pelo desaparecimento do oceano, que, por nossoato homicida, teríamos tragado, não se sabe como.No anúncio de Zaratustra, o Além-do-Homemtoma precisamente o lugar do oceano que absorve aimpureza da história humana pretérita: “Em verda-de, uma corrente suja é o homem. É necessário serjá um oceano, para poder acolher uma corrente sujasem se tornar impuro. Vede, eu vos ensino o Além-do-Homem: ele é o oceano, nele pode submergirvosso grande desprezo”.7 Além disso, no interiorimaginário cênico de Zaratustra, não permanece-mos apenas na expiação pela água; ele recorre tam-bém ao outro elemento tradicional de purificação, ofogo, o raio, o relâmpago, que nos resgatam do tor-turante horror vacui que pesa imponderavelmentesobre nossa existência, privada de sua fonte de sen-tido depois da morte de Deus. Nesse contexto, oanúncio do Além-do-Homem figura também oraio que preludia o futuro radiante da humanidade
Desse modo, o Além-do-Homem restitui ohorizonte de sentido que a esponja homicida remo-vera: esse horizonte é o sentido resgatado da terra.
Conjuro-vos meus irmãos, permanecei fiéis
à terra e não creiais naqueles que vos falam
de esperanças ultraterrenas. Envenenadores
são eles, quer o saibam ou não... Outrora o
delito contra Deus era o máximo delito,
mas Deus morreu, e com isso morreram
também aqueles delinqüentes. Delinqüir
contra a terra é agora o mais horrível, e apre-
ciar de modo mais elevado as entranhas do
insondável que o sentido da terra!8
Essa terra, porém, replica de outra extremida-de o texto sobre o homem louco, foi desprendidade seu eixo de gravidade, sabemos nós o sentido da-quilo que nós mesmos fizemos quando a despren-demos de seu antigo sol? Para onde se move elaagora? Para onde nos movemos nós? Longe de to-dos os sóis? Perguntas aterradoras, remetendo a ummesmo núcleo: ao perigo extremo, em torno doqual se articula o prólogo de Zaratustra – perigotambém, e sobretudo, para o Além-do-Homem.
A morte de Deus é o resultado do progressodas Luzes, do triunfo da ciência e da racionalidadesobre as sombras da ignorância e da superstição. Elapode ser o prenúncio da travessia que conduziria emdireção de nosso mais ardente anseio: uma humani-dade elevada à altura de sua própria essência.
Mas ela pode conduzir também ao niilismoextremo, a essa atmosfera onde nos bafeja o Nadainfinito, banidos que fomos de todos os sóis, abis-mo sem fundo em que nos precipitamos sem cessar,em eterna errância por todos os lados, uma vez queperdemos nossa fonte originária de referências e jánão existe mais nem um alto nem um baixo, tudo setorna cada vez mais frio e reina a noite, sempre maisnoite. Não é que temos que acender candeeiros pelamanhã?
Fantasma cuja sombra espectral oblitera a ful-guração solar do Além-do-Homem, ele faz sua apa-rição, no prólogo de Zaratustra, sob a figura sinistrado Último Homem, a derrisória duplicação inverti-da da auto-superação humana. E, no entanto, essatenebrosa ameaça não constitui senão o resultadoadventício do pensar e do agir daqueles mesmos re-presentantes da moderna Aufklärung que o homemlouco encontrara reunidos, em sacrílega confraria,na praça do mercado: os arautos da crença no pro-gresso infinito do conhecimento, que deveria con-duzir ao domínio do homem sobre a natureza e àhumanização das relações entre os homens.
Antes de examinar de maneira mais detida aproblematização do niilismo alegoricamente esbo-çada no personagem do último homem, é necessá-rio observar que tanto na narrativa de Zaratustraquanto no clamoroso lamento proferido pelo loucodo aforismo 125 de A Gaia Ciência encontra-se em
6 Ibid., p. 480.7 Ibid., p. 15.8 Ibid.
Impulso_28.book Page 14 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 15
ação a mesma experiência, o alheamento daquele
que traz a palavra:
Aqui calou-se o homem louco e mirou seus
ouvintes: também estes silenciavam e olha-
vam-no com estranhamento. Finalmente,
ele arrojou o candeeiro ao solo, de modo
que este se estilhaçou e apagou. Chego cedo
demais, disse ele então, não estou ainda no
tempo oportuno. Esse acontecimento for-
midável está ainda a caminho e peregrina –
ele ainda não penetrou nos ouvidos dos ho-
mens. Relâmpago e trovão precisam de
tempo, a luz dos astros precisa de tempo,
feitos precisam de tempo, mesmo depois de
consumados, para ser vistos e ouvidos. Este
feito está ainda mais distante deles do que os
astros mais remotos – e todavia eles o con-
sumaram.9
Experiência que também tem que ser amarga-
da pelo personagem central de Assim Falou Zaratus-
tra. Concluída sua primeira pregação, o resultado
não é menos decepcionante: “Eles não me enten-
dem: não sou a boca para esses ouvidos. Sem dúvi-
da, vivi tempo demasiado nas montanhas, escutei
em demasia os regatos e as árvores: agora falo-lhes
como os pastores de cabras”.10
Idêntica vivência de deslocamento em relação
aos homens de seu tempo, elevando os dois prota-
gonistas à consciência de si, por meio da reflexão:
somos extemporâneos, pósteros de nós mesmos,
nossa palavra é alheia aos ouvidos dos nossos con-
temporâneos. A hybris de seu orgulho ofusca-lhes
os olhos, tornando-os cegos e surdos tanto para a
imensidão do que lhes é anunciado quanto para as
funestas conseqüências de seu próprio feito homi-
cida. Nesse momento cria-se, no prólogo de Zara-
tustra, a atmosfera narrativa para o aparecimento do
personagem do último homem: “Eles têm algo de
que estão orgulhosos. Como chamam isso que os
infla de orgulho? Chamam-no formação (Bildung),
é isso que os distingue dos pastores de cabra. Por is-
so, desagrada-lhes ouvir, referida a eles, a palavra
‘desprezo’. Vou falar, pois, ao orgulho deles. Vou fa-lar-lhes do mais desprezível: o último homem”.11
A figura do último homem é a caricatura sa-tírica do ideal que animava a crença da moderna Au-fklärung: a convicção de que nas vicissitudes da his-tória é preciso reconhecer a laboriosa e heróica pe-regrinação do gênero humano, na curva de um pro-gresso infinito, em busca do fim último de suaexistência: a consecução da felicidade e da bemaventurança sobre a terra, o advento glorioso do pri-mado universal da razão e da justiça. Encontramosaqui, em versão resumida, o tema comum do fim dahistória pensado como a realização da essência ver-dadeira da humanidade.
A bizarra atrofia do último homem é a paró-dia desse enredo, pois ela é o resultado de um mo-vimento subterrâneo que acompanha, em surdina, alitania do fim da história e a euforia do progresso: oauto-rebaixamento do homem. De maneira análogaà Dialética do Esclarecimento, em que Adorno eHorkeimer desvendavam a imbricação entre mito eesclarecimento, ou melhor, a conversão do esclare-cimento em mito, Nietzsche denuncia a profundapertença da ciência moderna ao mesmo ideal ascé-tico que ela pretendera destronar, revelando, com is-so, sua esotérica cumplicidade na tarefa de avilta-mento do homem e da terra.
Pensa-se, de fato, que porventura a derruba-da da astrologia teológica signifique umaderrubada daquele ideal (ascético OGJ)?Quem sabe o homem ficou menos necessi-tado de uma solução no além para seu enig-ma da existência porque essa existência apa-rece desde então ainda mais arbitrária, maisconfinada, mais dispensável na ordem visí-vel das coisas? Não está precisamente oauto-apequenamento do homem, sua von-tade de auto-apequenamento, desde Copér-nico, em um incessante progresso? Ai, acrença em sua dignidade, unicidade, insubs-titutibilidade na hierarquia dos seres se foi –ele se tornou animal, animal sem alegoria,restrição e reserva, ele que em sua crença an-terior era quase Deus (“filho de Deus”, “ho-mem-Deus”). (...) Desde Copérnico o ho-
9 Ibid.10 Ibid., p. 20. 11 Ibid., p. 18.
Impulso_28.book Page 15 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

16 impulso nº 28
mem parece ter caído em um plano inclina-do – agora rola cada vez mais depressa, afas-tando-se do centro – para onde? Para onada? Para o “perfurante sentimento de seunada”?12
É esse inarticulado sentimento de inferiorida-de que a figura do último homem dramatiza. Paratrazê-lo à consciência de si, Zaratustra vai falar doque mais prezam os homens modernos, sua cultura(Bildung), porque na contra corrente dela é quevem à luz seu autodesprezo, sua vontade de auto-re-baixamento:
Toda ciência (e de modo nenhum somentea astronomia, sobre cujo humilhante e re-baixador efeito Kant fez uma confissão dig-na da nota, “ela anula minha importância”),toda ciência, tanto a natural quanto a desna-turada – chamo assim a autocrítica do co-nhecimento –, tende hoje a dissuadir o ho-mem do apreço que teve até agora por si,como se este nada mais tivesse sido do queuma bizarra vaidade: poder-se-ia até mesmodizer que ele tem seu próprio orgulho, suaprópria forma acre de ataraxia estóica, esselaboriosamente conquistado autodesprezodo homem, como sua última, mais sériapretensão de manter em pé o apreço por simesmo (com razão, de fato: pois aquele quedespreza é sempre alguém que “não desa-prendeu a prezar”).13
Zaratustra invoca, pois, o mais entranhado eparadoxal do homem moderno, seu laboriosamenteconquistado autodesprezo. É para fazê-lo que apelaao que pode haver de mais desprezível, ao último ho-mem. “Ai, chega o tempo do homem mais despre-zível, o incapaz de se desprezar a si mesmo. Olhai:mostro-vos o último homem.”14
O último homem é último não somente por-que se autocompreende como fim em si – e nãomais como travessia para a outra margem, comocorda estendida entre o animal e o Além-do-Ho-mem, como caminho de auto-superação. Ele é últi-mo porque inverteu a relação entre apreço e depre-
ciação, na medida em que desaprendeu o grande des-prezo, ou autodesprezo. Mesmo outrora, quandosob o signo e a inspiração Deus, quando a almaolhava depreciativamente para o corpo – outroraconsiderado elemento indigno e impuro –, dessedesprezo brotava, antiteticamente, aspiração e an-seio pelo sublime, por uma figura “mais elevada” –in hoc signo vinces.
O último homem, todavia, representa a ple-nitude da auto-satisfação, incapaz de se desprezar asi mesmo, portanto impotente para toda auto-supe-ração. O último homem alegoriza o autocomprazi-mento na mediocridade, a forma acabada do ames-quinhamento geral do tipo-homem, a encarnadaimpotência para lançar a flecha de sua nostalgia nadireção de um mais elevado anseio, o abastardamen-to do ideal de felicidade e bem-aventurança:
Que é amor? Que é criação? Que é nostal-gia? Que é estrela? Assim pergunta o últi-mo homem, e pisca os olhos. A terra se tor-nou pequena então, e sobre ela saltita o úl-timo homem, que torna tudo pequeno. Suaestirpe é indestrutível, como a pulga; o últi-mo homem é o que mais tempo vive. “Nósinventamos a felicidade”, dizem os últimoshomens, e piscam os olhos. Abandonaramas regiões onde é duro viver, pois a genteprecisa de calor. A gente, inclusive, ama o vi-zinho e se esfrega nele, pois a gente precisade calor. Adoecer e desconfiar, consideram-no perigoso: a gente caminha com cuidado.Louco é quem continua tropeçando compedras e com homens! Um pouco de vene-no, de vez em quando, produz sonhos agra-dáveis. E muito veneno, por fim, para teruma morte agradável. A gente continua tra-balhando, pois o trabalho é um entreteni-mento. Evitamos, porém, que o entreteni-mento canse. Já não nos tornamos nem po-bres, nem ricos: as duas coisas são demasia-do molestas. Quem ainda quer governar?Quem ainda quer obedecer? Ambas as coi-sas são demasiado molestas (...). Nenhumpastor e um só rebanho! Todos querem omesmo, todos são iguais: quem sente de ou-tra maneira segue voluntariamente para ohospício (...). A gente ainda discute, maslogo se reconcilia, senão se estropia o estô-
12 NIETZSCHE, 1974, p. 328.13 Ibid.14 NIETZSCHE, 1980, p. 18.
Impulso_28.book Page 16 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 17
mago. Temos nosso prazerzinho para o dia
e nosso prazerzinho para a noite, mas pre-
zamos a saúde. “Nós inventamos a felicida-
de”, dizem os últimos homens e piscam o
olho.15
O último homem encarna a última vontadedo homem, sua vontade de nada, seu niilismo bro-tado de dois contraditórios sentimentos fundamen-tais: o grande asco pelo homem e a grande compai-xão pelos homens. E aqui se nos oferece a ocasiãopara desenvolver um pouco mais o tema que já aflo-ramos instantes atrás: a tese de que a discussão doniilismo, sugerida apenas no episódio dramático doúltimo homem, constitui o elemento que nucleiatanto o aforismo 125 de A Gaia Ciência quanto oprólogo de Assim Falou Zaratustra.
Essa experiência determina o destino tantodo homem louco quanto do profeta Zaratustra.Nela vêm à tona os dois sentimentos básicos damodernidade, ainda não problematizados no planoda teoria filosófica: o asco pela banalização do hu-mano, sua transformação em engrenagem impesso-al e descartável a ser consumida e indefinidamentereposta na maquinaria global dos interesses e rendi-mentos em que se transformou a terra; e a compai-xão pelo que ainda resta de trágico e de belo na epo-péia humana, de fermento de auto-superação.
E Zaratustra falou assim ao povo: “É tempo
que o homem fixe sua própria meta. É tem-
po que o homem plante a semente de sua
mais elevada esperança. Seu terreno é ainda
bastante fértil para isso. Mas algum dia esse
terreno será pobre e manso, e dele não po-
derá brotar já nenhuma árvore elevada. Ai,
chega o tempo em que o homem deixará de
lançar a flecha de sua nostalgia mais além do
homem, e no qual a corda de seu arco já não
saberá vibrar! Digo-vos: é preciso ter ainda
um caos dentro de si para poder dar à luz
uma estrela dançarina. Digo-vos: vós tendes
ainda caos dentro de vós. Ai, chega o tempo
em que o homem já não dará à luz nenhuma
estrela”.16
O último homem, porém, é a encenação do
perigo que ronda a fertilidade do solo da experiência
humana na história: a desertificação da vida, o esgo-
tamento do caos, o congelamento da estrela, erran-
do longe de todos os sóis. Ele dramatiza a ameaça
niilista representada pela absolutização do desejo
de manutenção e reprodução infinita de uma vida
desprovida de tensões, contratastes, distâncias e
conflitos – mas também despojada da grandeza de
toda verdadeira personalidade.
O último homem é o homem supérfluo, que
finalmente eliminou da existência a tragédia do so-
frimento e da finitude – não nos esqueçamos que o
último homem é aquele que mais tempo vive – e
com isso se condena a si mesmo a uma vida banal,
impotente para o grande sofrimento, o sofrimento
com o destino do homem, com o futuro de suas
possibilidades indefinidas. O último homem se de-
leita em sua autocomplascência, na fruição infinita
dos prazeres anódinos e do bem estar idêntico para
o maior número possível.
Contra o último homem, Nietzsche perma-
nece, como constataram Adorno e Horkeimer, de-
cisivamente apegado a uma idéia de grande razão,
que não tem necessidade de desfigurar o homem
para prezá-lo. Com isso, Zaratustra pretende “libe-
rar de sua casca o sentido oculto, a utopia contida
no conceito kantiano de razão: aquela de uma hu-
manidade que não mais se desfigura a si mesma, que
não mais carece por mais tempo de desfiguração”.17
Contra o último homem, contra a mais des-
prezível autoconfiguração da humanidade, Zaratus-
tra apela, ainda uma vez, para o grande autodesprezo.
Vede: ensino-vos o Além-do-Homem, ele é o oce-
ano que pode tragar vosso grande desprezo, sem se
tornar impuro. “Não é vosso pecado – é vossa mo-
deração que clama ao céu, vossa mesquinhez até
mesmo em vosso pecado é o que clama ao céu!
Onde está, pois, o raio, a vos lamber com sua lín-
gua? Onde está a loucura com a qual teríeis que ser
inoculados? Vede, eu vos ensino o Além-do-Ho-
mem: ele é esse raio, ele é essa loucura!”.18
15 Ibid., p. 19.16 Ibid.
17 HORKHEIMER, 1987, p. 142.18 Ibid., p. 16.
Impulso_28.book Page 17 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

18 impulso nº 28
Percebe-se, pois, onde reside o perigo funda-mental: ele consiste não no que existe de temível nohomem, mas na esterilização do solo fecundo deseus impulsos. Não propriamente no “pecado”, masna mesquinhez, na banalidade de pecado, reduzidoà estatura do último homem: no ideal transformadoem pacífica felicidade das verdes pastagens em quese esfrega, de forma indolor, o rebanho universaldos indivíduos uniformes. Para Zaratustra, o desti-no do homem depende ainda do caos dos impulsose da fecundidade dessa terra. É preciso ter ainda umcaos dentro de si para poder dar à luz uma estreladançarina; e vós tendes ainda um caos dentro devós, essas as palavras que preludiam a apresentaçãodo personagem do último homem.
Temos mesmo esse caos dentro de nós? So-mos ainda um solo do qual possa brotar alguma ár-vore elevada? Eis a questão que introduz o segundofracasso espetacular de Zaratustra, e o transportapara uma nova figura, a autoconsciência:
E aqui terminou o primeiro discurso de Za-
ratustra, que se chama também “o prólo-
go”; pois nesse ponto interrompeu-o a gri-
taria e o prazer da turba. “– Dá-nos esse úl-
timo homem, oh Zaratustra”, assim grita-
vam eles, “faze de nós esse último homem!
O Além-do-Homem, nós o damos de pre-
sente a ti!”. E todo povo dava gritos de jú-
bilo e estalava a língua. Zaratustra, porém,
entristeceu-se e disse a seu coração: “– Eles
não me entendem: não sou a boca para esses
ouvidos. Sem dúvida, vivi tempo demasiado
nas montanhas, escutei em demasia os rega-
tos e as árvores; agora falo-lhes como os
pastores de cabras. Imóvel está minha alma
e luminosa como as montanhas pela manhã.
Mas eles pensam que sou frio e um bufão
que faz terríveis gracejos. E agora olham-me
e riem; e, enquanto riem, continuam me
odiando. Há gelo em seu riso”.19
Zaratustra descobre a causa originária de seuerro: foi ter buscado na praça do mercado o lugarpara falar ao povo de seu amor pelos homens, paraoferecer-lhes a dádiva redentora do Além-do-Ho-
mem. A praça do mercado é o espaço do grande nú-mero, para quem o último homem – que torna tudopequeno – constitui protótipo e ideal. Essa auto-consciência suscitada pela reflexão sobre o fracassodetermina o destino futuro do personagem-título:Zaratustra não tornará a falar ao povo, ao grandenúmero; doravante, buscará a solidão e a intimidadedaqueles poucos discípulos que são suficientementefortes para não ter que seguir um mestre e, sim, parabuscar – correndo o risco de algum dia vir a encon-trar – a si mesmos.
Zaratustra e o homem louco, ambos, têm ne-cessidade de candeeiro aceso em pleno meio-dia –ambos se elevam à suprema consciência de si a partirda experiência trágica na praça do mercado. A umdeles, consola-o a desvairada busca de Deus, em pe-regrinação pelas criptas e mausoléus do Deus mor-to, entoando, em desespero, seu requiem aeternamDeo. Ao outro, anima-o a espera pelos discípulosseletos e pelos horizonte de futuro humano quesurgirão a partir de seus ensinamentos fundamen-tais: o Além-do-Homem e o Eterno Retorno doIdêntico.
O homem louco e Zaratustra, encenações pa-ródicas de figuras que têm origem na profunda me-ditação sobre uma e mesma experiência epocal: ofracasso da pregação de Paulo no aerópago de Ate-nas. Nietzsche, o arauto da filosofia do porvir, nãorepetirá a experiência do homem louco na praça domercado, não falará mais aos cínicos Aufklärer deseu tempo – como Paulo, que buscara os filósofosestóicos e epicuristas na ágora de Atenas. Não pre-gará também para multidões, não fundará comuni-dades como o fizera o apóstolo dos gentios.
O destino de Zaratustra é abandonar tanto oshomens superiores quanto toda e qualquer formasecularizada de eclesia. Redimido de sua derradeiratentação – a compaixão pelos homens superiores, os“espíritos livres” que o homem louco de A Gaia Ciên-cia ainda buscava, aqueles mesmos valorosos Ilumi-nistas, companheiros de viagem, a quem Humano,Demasiado Humano ainda fora dedicado –, Zara-tustra os abandona à própria sorte na caverna emque os reunira, numa última e inócua tentativa desalvá-los.19 Ibid., p. 20.
Impulso_28.book Page 18 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 19
Pois bem! Dormem ainda esses homens su-
periores, enquanto eu estou desperto: esses
não são meus companheiros adequados de
viagem! Não é a eles a quem devo aguardar
aqui em minhas montanhas. Quero ir para
minha obra, para meu dia: eles, porém, não
compreendem quais são os sinais de minha
manhã, meus passos não são para eles um
chamado de despertar.20
Assim Falou Zaratustra se conclui com o se-
gundo ocaso do personagem-título, desta feita sob a
forma da visão daqueles filósofos do futuro, cujo
signo presente se esboça na alegoria do leão sorri-dente e das pombas amorosas:
Meu sofrimento e minha compaixão – queimportam! Por acaso aspiro à felicidade? Euaspiro por minha obra! Pois bem! Chegou oleão, meus filhos estão perto, Zaratustraestá maduro, minha hora chegou: esta é mi-nha manhã, meu dia se inicia – eleva-te, ele-va-te, pois, oh grande meio-dia.
Assim falou Zarratustra e abandonou sua ca-verna, ardente e forte como um sol matinal que vemde escuras montanhas.21
Referências BibliográficasHORKHEIMER, M. & ADORNO, T. Dialetik der aufklärung. In: HORKHEIMER, M. Gesammelte Schriften. Band 5. Frankfurt am
Main: Fischer Verlag, 1987.
NIETZSCHE, F. Also Sprach zarathustra. In: NIETZSCHE, F. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe (KSA). Ed.: G. Colli e M.Montinari. Berlin/New York/München: De Gruyter/DTV, 1980, 4 v.
__________. Para a Genealogia da moral, III. Trad.: Torres Filho, R.R. In: NIETZSCHE, F. Obra Incompleta. Col. Os Pensadores,1ª ed., São Paulo: Abril Cultural, 1974
__________. Die Fröhliche Wissenschaft. In: COLLI, G. & MONTINARI, M. Kritische Studienausgabe. Berlim/Nova York/Mün-chen: De Gruyter/DTV, 1980, v. 3.
SALAQUARDA, J. A última fase de surgimento de A Gaia Ciência. Trad.: Giacoia Jr., O. & Salaquarda, O. In: Cadernos Nietzs-che, nº. 6, São Paulo: Discurso Editorial, 1999.
TÜRCKE, C. Der Tolle Mensch. Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1989.
20 Ibid., p. 406. 21 Ibid.
Impulso_28.book Page 19 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

20 impulso nº 28
Impulso_28.book Page 20 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 21
EM BUSCA DO DISCÍPULO TÃO AMADO.Uma análise conceitual do prólogo de Assim Falava ZaratustraIN SEARCH OF THE SO BELOVED DISCIPLE.A conceptual analysis of the preface ofThus Spoke Zarathustra
Resumo A partir da leitura do prólogo de Assim Falava Zaratustra, analisa-se ovínculo existente entre vivência e reflexão filosófica na perspectiva do comungarnietzschiano. Ao examinar o comunicar como um compartilhar e o elo vivência/reflexão como resultado da condição manifestada pela gama de impulsos, apontapara a singularidade como uma dimensão condicionante das produções e mani-festações. Fazendo com que as possibilidades de comunicação se guiem pelocompartilhamento prévio de experiências análogas, apresenta a ligação inusitadaentre o comum e o singular no ensinamento: buscar o próprio caminho e com-panheiros desse caminho.
Palavras-chave NIETZSCHE – ZARATUSTRA – DISCÍPULO – ENSINAMENTO.
Abstract Through the reading of the preface to Thus Spoke Zarathustra’s, this ar-ticle aims at analyzing the link between life experience and philosophical reflec-tion in line with Nietzschean communicability. Upon examining communicationas sharing and the life experience/reflection link as a result of the condition ex-pressed through the range of impulses, it points to singularity as a conditioningdimension of productions and manifestations. In guiding the possibilities ofcommunication through the previous sharing of analogous experiences, the unu-sed connection is presented between the common and the singular in teaching:searching for one’s path and companions for this path.
Keywords NIETZSCHE – ZARATHUSTRA – DISCIPLE – TEACHING.
SCARLETT MARTON
Professora de Filosofia doDepartamento de Filosofia da USP.
Coordenadora do Grupo deEstudos Nietzsche (GEN) e
editora-responsável dosCadernos Nietzsche e da
coleção Sendas e [email protected]
Impulso_28.book Page 21 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

22 impulso nº 28
EEEE
Não se quer apenas ser compreendido, quando se escreve, mas também,por certo, não ser compreendido. Não é de modo algum uma objeçãocontra um livro, se quem quer que seja o acha incompreensível; talvezisto mesmo fizesse parte das intenções do escritor – ele não queria sercompreendido por “quem quer que seja”. Todo espírito, todo gostomais elevado, escolhe para si os seus ouvintes, quando quer comunicar-se; ao escolhê-los, impõe limites aos “outros”. Aí têm origem todas asleis mais sutis de um estilo: elas afastam, criam distância, proíbem “a en-trada”, a compreensão, como se diz, enquanto abrem os ouvidos dosque são de ouvidos aparentados aos nossos.1
no âmbito da relação entre autor e leitor que Nietzschesitua as questões estilísticas. Ao escolher um estilo, bu-rilá-lo, aprimorá-lo, o autor seleciona o seu leitor. Repelequem lhe é estranho; atrai quem é do seu feitio. Tudo sepassa como se o estilo fosse um mot de passe, uma men-sagem cifrada, uma senha. Apresentando-a, o autor lan-ça sua isca;2 decifrando-a, o leitor dele se mostra digno.É assim que se estabelece a cumplicidade entre os dois.
É nisto que reside a condição básica para que se comuniquem. Pois, para co-municar, é preciso partir de um solo comum. Não basta ter as mesmas idéias,abraçar as mesmas concepções. Tampouco basta atribuir às palavras o mesmosentido ou recorrer aos mesmos procedimentos lógicos. É preciso bem mais;é preciso partilhar experiências, comungar vivências. No limite, todo comu-nicar é tornar-comum.
Suposto, então, que desde sempre a necessidade aproximou apenas aque-les que podiam, com sinais semelhantes, indicar necessidades semelhan-tes, vivências semelhantes, observa Nietzsche, daí resulta, em geral, queentre todas as forças que até agora dispuseram do ser humano, a fácil co-municabilidade da necessidade, ou seja, em última instância, o vivenciarapenas vivências medianas e vulgares, deve ter sido a mais poderosa.3
É sobretudo para garantir a própria sobrevivência que os indivíduos serelacionam; é para conservar a própria vida que se comunicam. As experiên-cias que partilham são, por isso mesmo, as mais básicas e gerais; as vivênciasque comungam são, precisamente, as mais comuns.
Como compreender, então, que Nietzsche queira justamente comu-nicar-se, se critica de forma tão veemente o “espírito de rebanho”? “É precisoinvocar prodigiosas forças contrárias”, adverte ele, “para fazer frente a essenatural, demasiado natural progressus in simile, o aperfeiçoamento do homemrumo ao semelhante, costumeiro, mediano, gregário – rumo ao vulgar!”.4
1 NIETZSCHE (1881/1882), 1967/1978a, § 381.2 Cf. NIETZSCHE [1883/1885], 1967/1978b, em que Zaratustra declara: “Com a minha melhor isca, fisgohoje para mim os mais raros peixes humanos!”. Cf. também Ecce Homo, Para além de bem e mal, § 1, em queNietzsche afirma que, a partir de Para Além de Bem e Mal, “todos os meus escritos são anzóis: quem sabe euentenda de pesca tanto quanto ninguém?... Se nada mordeu, não foi culpa minha. Faltavam os peixes...”3 NIETZSCHE, § 268. 4 NIETZSCHE (1885/1886), 1967/1978c, § 268.
Impulso_28.book Page 22 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 23
Sentindo-se ameaçada, a maioria se apega a pré-con-ceitos, crenças e convicções; destemida, a exceçãochega a sucumbir em seu isolamento. Enquanto osindivíduos gregários buscam segurança e se voltampara a autoconservação, os mais raros não se furtama correr riscos e apostam na vida. Aliás, não saberiammesmo proceder de outra maneira. “Que sentimen-tos dentro de uma alma despertam mais rapidamen-te, tomam a palavra, dão ordens”, esclarece o filóso-fo, “isso decide toda a hierarquia de seus valores, de-termina, por fim, a sua tábua de bens”. E conclui:“As estimativas de valor de um homem denunciamalgo da disposição de sua alma e aquilo em que ela vêsuas condições de vida, sua autêntica necessidade”.5
Ora, não é da ordem do gregário o que Nietzs-che tem a dizer; não é para todos que ele deve falar.Tanto é que, ao tratar de sua “arte do estilo”, afirma:“Comunicar um estado, uma tensão interna de pa-thos através de signos, incluído o ritmo desses signos– eis o sentido de todo estilo”.6 No limite, ele en-tende estilo como sintoma. Enquanto manifestaçãode um estado, de um pathos, o estilo indica quais im-pulsos dominam o autor num determinado mo-mento, quais afetos dele se apoderam e, por conse-guinte, quais estimativas de valor nele se expressam.Daí decorre que não há um estilo, qualquer que seja,bom para todos os autores, e sequer um único estilobom para o mesmo autor. Há tantos estilos quantoos estados. Quem acredita existir um estilo “bomem si” não passa de idealista;7 quem julga haver umestilo universalmente bom nada mais faz do que re-velar os impulsos que o dominam. “Bom”, afirma ofilósofo, “é todo estilo que realmente comunica umestado interno, que não se engana quanto aos signos,quanto ao ritmo dos signos, quanto aos gestos”.8
Não é por acaso que, em sua autobiografia,antes de discorrer sobre seus escritos, Nietzschetrata da questão do entendimento deles. Se bom es-tilo é o que comunica tensões de impulsos, disposi-ções de afetos, para comunicá-las o autor precisadispor de signos; mas também precisa encontrar lei-
tores que vivenciem essas tensões, essas disposições.É à procura deles que se põe o filósofo no curso desua obra. “Todos nós sabemos, alguns até por ex-periência”, assegura ele, “o que é um animal deorelhas compridas. Pois bem, ouso afirmar quetenho as orelhas mais curtas que existem. (...) Eusou o antiasno par excellence e, com isso, ummonstro da história universal – eu sou, em gregoe não só em grego, o Anticristo”.9
Ao trazer à cena o animal de orelhas compri-das, Nietzsche caracteriza, pelo avesso, o leitor quetanto almeja. Seguindo o uso lingüístico convencio-nal, emprega o termo asno para designar estupidez.Trata-se, porém, de uma estupidez específica: a faltade esprit. Ela manifesta-se sobretudo na aceitaçãoimpensada do óbvio; e, quando ocorre com fre-qüência, firma-se numa atitude e acaba por conver-ter-se em convicção. É como consolidação de umaperspectiva que a convicção se impõe. E ganha aindamais força ao fundar-se num juízo moral. Exercen-do ação paralisante, constrange seu portador a abrirmão da busca, desistir da pesquisa, abandonar a in-vestigação. “Asno” remete, pois, a convicções, aperspectivas consolidadas e não mais questionadas;“asno” é quem a elas se submete.10
Ora, ao buscarem atingir a “verdade” a qual-quer preço, os filósofos empenham-se em dissipartodas as perspectivas consolidadas. Mas, ao fazê-lo,também eles se tornam “asnos”, pois colocam-se aserviço de uma convicção e diante dela se detêm.Por ela subjugados, põem termo à própria investi-gação; restringem-se em sua obra a interpretar e fun-damentar os limites que se impuseram.11 Tanto é queNietzsche afirma serem os filósofos “advogados que
5 NIETZSCHE (1885/1886), 1967/1978c, § 268. 6 NIETZSCHE (1888), 1967/1978h, Por que escrevo livros tão bons, § 4.7 Cf. NIETZSCHE (1888), 1967/1978h, Por que escrevo livros tãobons, § 4: “Bom estilo em si – pura estupidez, mero ‘idealismo’, algocomo o ‘belo em si’, como o ‘bom em si’, como a ‘coisa em si’...”8 NIETZSCHE (1888), 1967/1978h, Por que escrevo livros tão bons, § 4.
9 NIETZSCHE (1888), 1967/1978h, Por que escrevo livros tão bons, § 2.Em nota à margem de sua tradução, Sanchez Pascual observa que as expres-sões antiasno e anticristo se acham relacionadas, uma vez que, na Romaantiga, os pagãos zombavam de Cristo representando-o na forma de asno(cf. Ecce Homo, 1995, nota 77).10 Em Assim Falava Zaratustra, é desta maneira que o protagonista se refereao asno: “Que oculta sabedoria é essa, a de ter orelhas compridas e somentedizer sim e nunca dizer não! Não criou ele o mundo à sua imagem, ou seja,o mais estúpido possível?” (NIETZSCHE [1883/1885], 1967/1978b, IV17, 2, 12). 11 Seguimos, aqui, a interpretação de Jörg Salaquarda, 1997, pp. 167-208. Aotratar das convicções, Salaquarda distancia-se de uma linha interpretativaque remonta ao trabalho em quatro volumes de Gustav Naumann, 1899-1901, o primeiro estudo de fôlego sobre Assim Falava Zaratustra. E, aolidar com as perspectivas consolidadas, acaba por diagnosticar as que nor-teiam as interpretações dos autores com quem dialoga, dentre eles OttoGramzow,1907, Hans Weichelt, 1922, e August Messer, 1922.
Impulso_28.book Page 23 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

24 impulso nº 28
não querem ser assim chamados e, na maioria, de-fensores manhosos de seus preconceitos, que bati-zam de ‘verdades’”.12 Empenhando-se na dissolu-ção crítica de perspectivas que se consolidaram edeixaram de ser questionadas, ele põe em prática asua psicologia do desmascaramento. E parte destaregra básica: “Uma coisa que convence nem porisso é verdadeira: ela é meramente convincente. Ob-servação para asno”.13
Portanto, se o animal de orelhas compridasdesigna quem se submete a convicções, quem éaquele que tem “as orelhas mais curtas que exis-tem”? Certamente, não é quem está livre de qual-quer espécie de perspectiva consolidada, pois, nestecaso, ainda se acharia submetido a uma delas. Mas équem se serve das várias formas do estar convicto e,ao mesmo tempo, se coloca acima de todas. Psicó-logo das profundezas, Nietzsche dedica-se a des-mascarar convicções; “antiasno par excellence”, em-penha-se em não se tornar vítima de nenhuma delas.
É por isso que são tão singulares as experiên-cias que ele quer partilhar, as vivências que anseiapor comunicar. É por isso que precisa encontrar osque lhe são aparentados, os que são do seu feitio. Nacorrespondência e nos livros, não se cansa de tentarcompreender as razões da indiferença que o cerca.Sempre se queixa do silêncio que pesa sobre suaobra, da solidão que se apodera de sua vida. Rarosamigos, escassos leitores. De sua época só esperanão-entendimento ou descaso. Acredita ter nascidopóstumo;14 seus escritos antecipam-se àqueles aquem se dirigem. Reivindica-se extemporâneo;15
suas idéias destinam-se a um público por vir.
E assim o filósofo passa do desalento à espe-rança. Oscila entre a impossibilidade do presente e apromessa da posteridade. Duvida de “que haja os
capazes e dignos de tal pathos”, mas deseja “que nãofaltem aqueles com quem é lícito comunicar-se”.“Meu Zaratustra, por exemplo, ainda agora procurapor eles”, reconhece. “Ah! Ainda terá de procurarpor muito tempo! É preciso ser digno de ouvi-lo... Eaté lá não haverá ninguém que compreenda a arteque aqui se esbanjou; jamais alguém pôde esbanjartantos meios artísticos novos, inauditos, em realida-de só para isso criados”.16
Zaratustra fala em circunstâncias diversas e de
diferentes maneiras. Discursa para o povo reunido
na praça do mercado, dirige-se aos discípulos e, por
vezes, a apenas um em particular, entretém-se com
várias personagens que cruzam o seu caminho.17
Contudo, seria desmedido entender esse falar, tam-
bém presente no título do livro como mera neces-
sidade de comunicar-se.18 Zaratustra fala, mas tam-
bém canta; discursa e monologa; tem interlocutores
e volta-se para si mesmo; conversa com seus ani-
mais e troca segredos com a vida. E, na maior parte
das vezes, o falar esconde mais que o calar; o silêncio
revela mais que as palavras. “É preciso mais que
tudo saber ouvir corretamente o tom que vem dessa
boca, esse tom alciônico”, adverte Nietzsche em sua
autobiografia, “para não fazer injustiça deplorável ao
sentido de sua sabedoria. ‘As palavras mais quietas
são as que trazem a tempestade, pensamentos que
vêm com pés de pomba dirigem o mundo’”.19
É assim que fala Zaratustra, “o sem-Deus”,20
“o porta-voz da vida, o porta-voz do sofrimento, o
12 NIETZSCHE (1885/1886), 1967/1978c, § 5.13 NIETZSCHE. (1887/1889), 1967/1978l, (256) 10 [150] do outonode 1887.14 Cf. NIETZSCHE, no prefácio de Anticristo: “É somente o depois deamanhã que me pertence. Alguns homens nascem póstumos”. Cf. tambémCrepúsculo dos Ídolos, Sentenças e setas, § 15, e Ecce Homo, Por que escrevolivros tão bons, § 1. 15 Cf., por exemplo, na A Gaia Ciência, a passagem intitulada “Nós, osincompreensíveis”, onde se lê: “Já nos queixamos de ser mal compreen-didos, desconhecidos, confundidos, caluniados, mal ouvidos ou nãoouvidos? Esta é justamente a nossa sorte. Oh! Por muito tempo ainda!Digamos, para ser modestos, até 1901; é também a nossa distinção; nãonos estimaríamos o bastante se desejássemos que fosse de outromodo”. NIETZSCHE (1881/1882), 1967/1978a, § 371.
16 NIETZSCHE (1888), 1967/1978h, Por que escrevo livros tão bons, § 4. 17 Já no prólogo, Zaratustra encontra o santo homem do bosque (NIET-ZSCHE [1883/1885], 1967/1978b, Prefácio 2), o saltimbanco (idem, Pre-fácio 6), o bufão (idem, Prefácio 8) e o velho homem (idem, Prefácio 8).Na primeira parte, relata sua conversa com a velha mulher (idem, I 18) ecom a víbora (idem, I 19). Na segunda, depara-se com as jovens que dan-çam (idem, II 10), o cão de fogo (idem, II 19), o adivinho (idem, II 19) e ocorcunda (idem, II 20). Na terceira, dirige-se aos marinheiros (idem, II 2),defronta-se com o espírito de peso (idem, III 2) e ataca o chamado “macacode Zaratustra” (idem, III 7). E, na última parte do livro, depara-se com o adi-vinho (idem, IV 2), o rei da direita e o rei da esquerda (idem, IV 3), o consci-encioso do espírito (idem, IV 4), o feiticeiro (idem, IV 5), o último papa(idem, IV 6), o mais feio dos homens (idem, IV 7), o mendigo voluntário(idem, IV 8) e a sombra (idem, IV 9).18 Ao examinarem o título do livro, Harold Alderman, 1977, p. 37, eKathleen Mary Higgins, 1987, pp. 72-78, apresentam, ao contrário,Zaratustra como um comunicador.19 NIETZSCHE (1888), 1967/1978h, Prólogo, § 4; quanto à citação,(1883/1885), 1967/1978b, II 22, 30.20 Cf. NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, III 13, 1, 6. A expressãotambém se encontra em idem, III 5, 3, 7-9 e idem, IV 6, 18.
Impulso_28.book Page 24 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 25
porta-voz do círculo”,21 “o mestre do eterno retor-no”,22 “o que não em vão disse a si mesmo: ‘torna-te quem tu és’”.23 Ao longo do livro, estes são osatributos a que ele recorre para apresentar-se. Dan-do-se conta da morte de Deus, suprime o solo mes-mo a partir do qual se punham os valores. Perfazdesse modo a travessia do niilismo, indispensável aoprojeto de transvaloração, para chegar a um dionisía-co dizer sim ao mundo. Falando em favor da vida,do sofrimento e do círculo, aponta a íntima relaçãoentre a vida, enquanto vontade de potência, o sofri-mento, enquanto parte integrante da existência, e ocírculo, enquanto infinita repetição de todas as coi-sas. Assim, aceita tudo o que há de mais terrível edoloroso, mas também de mais alegre e exuberante,para traduzir a necessidade dionisíaca de aniquilar ede criar. Anunciando que tudo retorna sem cessar,faz cair por terra o dualismo entre mundo verdadei-ro e aparente. Inscreve-se, portanto, de outro modono mundo, e permite que, através de si mesmo, elese expresse, para encarnar o caráter dionisíaco detoda existência. Intimando-se a converter-se no queé, abraça de maneira incondicional o próprio desti-no. E desse modo assume o amor fati, para pôr-sedionisiacamente diante da vida.24
É Zaratustra quem assim fala. Ao contráriodo profeta báctrio, que teria introduzido no mundoos princípios de bem e mal, submetendo a cosmo-logia à moral, o Zaratustra de Nietzsche quer preci-samente recuperar a inocência do vir-a-ser e implo-dir a dicotomia dos valores. Alter ego do filósofo, eleconta refazer a obra do Zoroastro histórico.25
Aqui quem fala é Zaratustra, aquele que vempara desvincular a metafísica e a moral. É pela ne-cessidade de doar e partilhar que ele fala. E fala as-sim: através de discursos e monólogos, do canto esobretudo do silêncio. Este é um livro para todos eninguém. Zaratustra começa discursando para opovo reunido na praça do mercado; termina entre-tendo-se apenas com si mesmo. Não é por acasoque, no livro, é recorrente a frase tomada dos Evan-gelhos: “Quem tiver ouvidos, ouça!”. Se Nietzschevê seus primeiros textos festejados por todos noscírculos wagnerianos, é obrigado a custear a tiragemde quarenta exemplares da quarta parte de seu Za-ratustra. Se critica os valores vigentes de sua época emergulha fundo em seu tempo, é levado a assumir acondição de extemporâneo. Portanto, enquanto otítulo do livro revela seu projeto filosófico, o subtí-tulo traz à luz sua relação com os leitores.
Para Nietzsche, é recorrente a necessidade deescolher seus leitores, e, para Zaratustra, a de elegerseus interlocutores. Perseguindo a idéia expressa noEcce Homo: “Para aquilo a que não se tem acessopor vivência, não se tem ouvido”,26 ambos aspirama quem comungue suas experiências, desejam quemos apreenda e compreenda, anseiam por uma “almairmã”.
É para partilhar a própria sabedoria que, aofim de dez anos, Zaratustra deixa sua caverna e suamontanha. Como o sol que se põe todos os dias nohorizonte, ele desce em direção ao vale. Na cidade,dirige-se ao povo reunido na praça do mercado. Eseu percurso começa com um fracasso pedagógi-co;27 não soubera discriminar quem poderia ouvi-lo.“Não sou a boca para esses ouvidos”.28 Ainda assimtenta fazer-se entender pelos homens. E seu discur-so termina com uma determinação seletiva: apren-dera a discernir a quem deveria falar. “Eles não mecompreendem; não sou a boca para esses ouvi-dos”.29
Em Assim falava Zaratustra, o prólogo faz asvezes de exórdio; tem por função introduzir o as-
21 Cf. NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, III 13, 1, 7. Já em Ibid.,II 19, 39, um discípulo de Zaratustra a ele se dirige, dizendo: “Tu nãodeclinarás em nosso céu, ó porta-voz da vida!”. 22 Cf. NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, III 13, 2, 48. Na ver-dade, são os animais de Zaratustra, sua águia e sua serpente, que assim odenominam. 23 Cf. NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, IV 1, 14.24 Nos atributos a que Zaratustra recorre para apresentar-se, encon-tram-se os temas centrais da filosofia nietzschiana da maturidade: asuperação do niilismo e o projeto de transvaloração dos valores, o con-ceito de vontade de potência e a doutrina do eterno retorno, o caráter dio-nisíaco da existência e a idéia de amor fati.25 Cf. NIETZSCHE (1888), 1967/1978h, Por que sou um destino, § 3:“Não me perguntaram, deveriam ter-me perguntado o que significa precisa-mente na minha boca, na boca do primeiro imoralista, o nome Zaratustra:pois o que constitui a imensa singularidade deste persa na história é justa-mente o contrário disto. Zaratustra foi o primeiro a ver na luta entre o bem eo mal a verdadeira roda que faz mover as coisas – a transposição da moral parao metafísico, como força, causa, fim-em-si, é obra sua. Mas essa pergunta, nofundo, já seria a resposta. Zaratustra criou este erro, o mais fatal de todos, amoral: por conseguinte, ele também tem de ser o primeiro a reconhecê-lo”.
26 NIETZSCHE (1888), 1967/1978h, Porque escrevo livros tão bons, § 1.27 Cf. LEBRUN, 1978, p. 47. 28 NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, Prefácio 5, 1. Cf. Mateus,13, 13.29 NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, Prefácio 5, § 27.
Impulso_28.book Page 25 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

26 impulso nº 28
sunto, selecionar o leitor e induzí-lo a manifestardisposição favorável ao que será tratado. Tanto é quena primeira página já se encontram os temas centraisda filosofia nietzschiana da maturidade. Nela, é re-corrente a idéia de excesso,30 que virá a constituir oelemento nuclear do conceito de vontade de potên-cia; é sugerida a noção de curso circular,31 que se tor-nará central na doutrina do eterno retorno; é intro-duzido o projeto de transvaloração dos valores,32
que será decisivo no último período da obra do fi-lósofo.
Contudo, para transvalorar os valores, é ne-cessário suprimir o solo a partir do qual os valoresaté então foram engendrados; é preciso ter conhe-cimento da morte de Deus33 – e, em conseqüência,substituir a concepção de homem como criatura emrelação a um Criador por outra, pela concepção dealém-do-homem.34 Deixando-se de postular ummundo transcendente, é a este que se passa a tomarpor critério de avaliação das avaliações.35 De possedesse instrumento, inaugura-se o procedimento ge-nealógico: diagnosticam-se e avaliam-se os valoresinstituídos.36 E, num movimento complementar,redefinem-se termos, alteram-se posições, abrem-seperspectivas; conquista-se espaço para os anuncia-dores do além-do-homem.37 Objeto do grande
amor, a noção de além-do-homem está intimamen-te ligada ao projeto de transvaloração; é ela que per-mitirá criar novos valores. Na direção oposta, obje-to do grande desprezo, o último homem aparececomo defensor dos valores estabelecidos;38 é sobreele que incidirá a crítica corrosiva.
No contexto do prólogo, a terceira, a quarta ea quinta seções abrigam o primeiro discurso da per-sonagem.39 Além de introduzir temas e problemas aserem tratados no livro, elas revelam a estratégia aque recorre Zaratustra. No primeiro momento, elefala do além-do-homem que está por vir. Recebidocom zombaria, passa a falar do homem como “pe-rigosa travessia, perigoso a-caminho” entre o animalque deixou de ser e o além-do-homem que aindanão é. Tratado com escárnio, termina falando doque há de mais desprezível: o último homem. Gra-dativo, seu discurso compõe-se de três etapas; emcada uma delas, o orador situa-se num patamar.Exorta o povo a abraçar a perspectiva do além-do-homem, tornando-se criador de valores; convida-oa preparar a transvaloração dos valores; limita-se adescrevê-lo enquanto último homem que se apegaaos valores instituídos. Apesar do excesso de zelo,não encontra receptividade; malgrado o esforço emfazer-se entender, não chega a atingir o público.
Mas Zaratustra toma ciência de seus ouvintese, ao fazê-lo, toma ciência do que tem a dizer. Aopovo que quer ver um saltimbanco fazer suas pro-ezas, ele fala do além-do-homem. E é interrompidopor alguém que grita com ar zombeteiro: “Já ouvi-mos falar bastante do saltimbanco; agora, queremostambém vê-lo!”.40 Ao povo que quer assistir a umespetáculo, ele fala então do que há de mais despre-zível. E é interrompido pela multidão que grita emtom de pilhéria: “Dá-nos esse último homem (...)faz de nós esse último homem. E nós te damos depresente o além-do-homem!”.41 Incompreendidopelo povo que dele ri por duas vezes, Zaratustra
30 Está presente nos termos “supérfluo” (Überfluss) (NIETZSCHE[1883/1885], 1967/1978b, Prefácio 1, 4); “farto” (überdrüssig) (idem, Pre-fácio 1, 5); “opulento” (überreich) (idem, Prefácio 1, 7); “transbordar”(überfliessen) (idem, Prefácio 1, 10).31 Aparece com a imagem do sol que se põe e volta a surgir todos osdias. NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, Prefácio 1, 7-8.32 Surge com a intenção de Zaratustra presentear e partilhar sua sabedo-ria, “até que os sábios dentre os homens voltem a alegrar-se de sua doi-dice e os pobres, de sua riqueza”. NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, Prefácio 1, 6.33 Ao deixar seu primeiro interlocutor, Zaratustra exclama: “Será possível?Este velho santo em seu bosque ainda não ouviu que Deus morreu!”.NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, Prefácio 2, 21. Na última partedo livro, a figura do santo homem do bosque, seu desconhecimento damorte de Deus e o fato de sua própria morte, serão temas da conversa queZaratustra e o velho papa entabulam ao se encontrar. Cf. Ibid., IV 6, 6-15.34 São estas as primeiras palavras que Zaratustra diz ao povo reunido napraça do mercado: “Eu vos ensino o além-do-homem. O homem é algoque deve ser superado”. NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, Pre-fácio 3, 2.35 Diz Zaratustra: “Permanecei fiéis à Terra e não acrediteis nos que vosfalam de esperanças ultraterrenas”. NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, Prefácio 3, 9.36 Exemplo disso é o exame da noção de felicidade (NIETZSCHE[1883/1885], 1967/1978b, Prefácio 3, 18), razão (idem, Prefácio 3, 19),virtude (idem, Prefácio 3, 20), justiça (idem, Prefácio 3, 21) e compai-xão (idem, Prefácio 3, 22).37 É deles que trata NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, Prefácio 4.
38 Será o tema central de NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, Pre-fácio 5.39 “E aqui terminou o primeiro discurso de Zaratustra, também chamado ‘oprólogo’”. Assim o Vorrede já contém um erste Rede, mas este é apenas pre-liminar, uma vez que os discursos propriamente ditos só começarão na pri-meira parte, como indica seu título. 40 NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, Prefácio, 3, § 27.41 Ibid., Prefácio 5, § 26.
Impulso_28.book Page 26 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 27
nota que há um abismo entre seus ouvintes e o quetem a dizer. O último homem entende que a cultura(Bildung) o distingue dos pastores de cabras e, porisso, dela se orgulha. Zaratustra despreza o que o úl-timo homem entende por cultura e, por isso, a elefala como um pastor de cabras.42 Do embate deperspectivas, impõe-se a conclusão. Não é de acor-do com a maneira de pensar e agir em voga que apersonagem se propõe a tarefa de criar novos valo-res. Não é em sintonia com o contexto cultural desua época que o autor concebe o projeto de trans-valorar todos os valores. Ao contrário, o projeto e atarefa indicam a possibilidade de outra forma de agire pensar, de outra cultura.
Perseguindo o objetivo de selecionar o públi-co a quem se dirigir, o autor monta – e a persona-gem vive – a trama que se desenrola nas seções sub-sequentes do prólogo.
Calado, Zaratustra presencia, junto com opovo, uma cena insólita. Pouco antes, ele dissera:“O homem é uma corda atada entre o animal e oalém-do-homem – uma corda sobre um abismo”.43
Agora, o saltimbanco44 põe-se a caminhar sobreuma corda suspensa entre duas torres.45 Quando seacha no meio do percurso, porém, um bufão vemao seu encalço. Exigindo que saia do caminho, apro-xima-se e pula por cima dele, fazendo com que per-ca o equilíbrio. Pouco antes, Zaratustra dissera: “Oque é grande no homem é que ele é uma ponte enão um fim: o que pode ser amado no homem éque ele é um passar e um sucumbir”.46 Agora, o sal-timbanco despenca no vazio e cai no meio da pra-ça.47 Nos dois momentos, imagem e conceito, cúm-plices, acabam por se recobrir. É por encarnar o tipohomem que o saltimbanco virá a ser o primeirocompanheiro de Zaratustra; é por realizar o própriodestino que ele será o seu companheiro querido – emorto.
“Em verdade, uma bela pescaria fez hoje Za-ratustra! Não pescou nenhum homem,48 mas umcadáver. Desconcertante é a existência humana eainda sem sentido: um bufão pode tornar-se-lhe fa-tal. Quero ensinar aos homens o sentido de seu ser:que é o além-do-homem, o raio que surge da negranuvem homem. Mas ainda estou longe deles e meusentido não fala a seus sentidos”.49 No decorrer deseu primeiro discurso, a personagem percebe quemé o povo reunido na praça do mercado. Ao longo doprólogo, ela se dá conta também daquilo que tem adizer. É nisto que consiste seu aprendizado: diferen-ciar o “público” para discernir a “mensagem”, dis-tinguir a “mensagem” para discriminar o “público”.E tudo contribui para que ela escolha seus interlo-cutores. Mais ainda, tudo concorre para que o autoreleja seus leitores. Zaratustra não mais falará ao úl-timo homem; é tampouco para ele que Nietzscheescreverá.
Com o cadáver do saltimbanco às costas, Za-ratustra põe-se a caminho. E mal dá alguns passosquando dele se acerca, sorrateiro, o bufão. Instandopara que deixe a cidade o quanto antes, este não hesitaem ameaçá-lo: “São muitos os que aqui te odeiam.Odeiam-te os bons e justos e chamam-te seu inimigoe desprezador. Odeiam-te os crentes da reta crença echamam-te o perigo da multidão”.50 Defensor dosbons e justos, advogado dos crentes da reta crença, obufão é o guardião dos valores instituídos; é o porta-voz do último homem. A Zaratustra faz ver quãoinoportuno foi o seu discurso, quão deslocada a suaintervenção. A ele mostra, ainda, as razões do escár-nio e zombaria com que foi acolhido. Vêem-nocomo o inimigo do último homem porque contalevá-lo a desprezar aquilo de que se orgulha; tomam-no como o perigo da multidão porque espera ensiná-la a amar o que encara com descaso.
Contudo, o modo como o último homem vêZaratustra, a maneira como a multidão o toma,muito revela sobre quem ele próprio é. E deste fato42 Cf. NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, Prefário 5, 3-4 e Ibid.,
5, 28.43 NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b Prefácio 4, § 2.44 É digno de nota o uso que Nietzsche faz das palavras. Em NIETZS-CHE (1883/1885), 1967/1978b, Prefácio 4, 2, define o homem comouma corda (Seil); em Ibid., Prefácio 6, 1, põe em cena um saltimbanco,um dançarino sobre cordas (Seiltänzer). 45 Cf. NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, Prefácio 6, § 1.46 NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, Prefácio 4, § 4. 47 Cf. NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, Prefácio 6, § 1.
48 Quanto à expressão pescador de homens, cf. Mateus, 4, 19. A idéia reapa-rece em NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, IV 1, 11-12.49 NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, Prefácio 7, § 2-5. Exemplodo emprego de uma palavra em diferentes acepções, o termo Sinn (sen-tido) aparece aqui referido à fala de Zaratustra e aos órgãos dos que oouvem.50 NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, Prefácio 8, § 1.
Impulso_28.book Page 27 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

28 impulso nº 28
ele se dá conta: “Vede os bons e justos! Quem elesodeiam mais? Aquele que quebra suas tábuas de va-lores, o quebrador, o infrator: – mas este é o criador.Vede os crentes de toda crença! Quem eles odeiammais? Aquele que quebra suas tábuas de valores, oquebrador, o infrator: – mas este é o criador”.51 Nolimite, Zaratustra e seus opositores concordamquanto a ser ele um infrator; divergem, porém,quanto à maneira de julgar quem quebra as tábuasde valores. É nisto que reside toda a diferença dasperspectivas que abraçam: para um, aquele é o cria-dor; para os outros, o herético.
Tanto melhor que a personagem decida nãomais falar ao último homem; este certamente nãoquer escutá-lo. Irreversível, a jornada que Zaratustraempreende afasta-o da multidão. Inevitável, o cami-nho que percorre distancia-o do povo. Desprezan-do o último homem, ignorando o bufão, enterran-do o saltimbanco, ele descarta tais interlocutores. ENietzsche, tais leitores. É o que permite a ambosprepararem-se para buscar quem possa compreen-dê-los.
A primeira verdade que sobre Zaratustra recaidiz respeito ao que ele tem a dizer; a nova verdadeque sobre ele se abate diz respeito àqueles a quemdeve falar. Se na primeira seção do prólogo percebesua necessidade de presentear e partilhar, na nonadá-se conta de si e do outro. “Uma luz se acendeupara mim: é de companheiros de viagem que eu pre-ciso, e vivos, não de companheiros mortos e cadá-veres, que carrego comigo para onde eu quero ir.Mas é de companheiros vivos que eu preciso, queme sigam porque querem seguir a si próprios – epara onde eu quero ir”,52 revela. Não é um discípulosubmisso que ele agora almeja; é um leitor altivo queentão Nietzsche espera. “Entre uma aurora e outraveio-me uma nova verdade”,53 anuncia Zaratustra.“Nem pastor devo ser, nem coveiro. Não quero
mais falar outra vez ao povo; pela última vez falei aum morto”.54 Não é para todos nem para ninguémque ele quer agora discorrer; é para os mais seletosque Nietzsche conta então escrever.55
No curso do livro, o autor persevera em diri-gir-se a um leitor refinado, a personagem insiste emvoltar-se para quem tiver ouvidos finos.56 É a ma-neira que encontram de selecionar seus interlocuto-res. Enquanto a plebe se denuncia por suas orelhascompridas,57 ambos evidenciam a necessidade de irao encontro de quem dela se diferencia. “Tens ore-lhas pequenas”, dirá Dioniso a Ariadne, “tens osmeus ouvidos”.58
No prólogo, Nietzsche introduz o assunto eescolhe o leitor; Zaratustra define o que tem a dizere elege os que podem ouvir. A partir daí, ambos de-safiam seus interlocutores. Não cabe mais a Zara-tustra constatar que não é “a boca para esses ouvi-dos”; cabe agora aos interlocutores mostrar que têmouvidos para Zaratustra. Concluída a seleção, com-pete ao leitor/ouvinte fazer jus à escolha. Prova dis-so é o refrão, retomado da Bíblia, que se repete:“Quem tiver ouvidos, ouça!”.59 Em três diferentesocasiões, ele encontra lugar no livro: antes de Zara-tustra falar pela primeira vez acerca do eterno retor-no,60 depois de insistir quanto à morte de Deus61 eao exortar a que se faça a travessia do niilismo.62
Tudo se passa como se autor e personagem tivessemde reiterar a necessidade de interlocutores específi-cos. E, se assim for, é porque acreditam na especifi-cidade do que têm a dizer.
Zaratustra não expõe doutrinas; não impõepreceitos.63 Limita-se – e isso não é pouco – a par-
51 Ibid., Prefácio 9, § 7-8.52 Ibid., Prefácio 9, § 2-3. 53 Na quarta parte do livro, Zaratustra faz referência a essa nova ver-dade. Reconhece o equívoco que cometera ao falar para o povo reunidona praça do mercado: “Quando pela primeira vez fui ter com oshomens, cometi a estultície do eremita, a grande estultície: instalei-meno mercado. E quando falava a todos não falava a ninguém. À noite,porém, eram saltimbancos os meus companheiros, e cadáveres; e eumesmo quase um cadáver. Mas com a nova manhã veio a mim uma novaverdade”. NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, IV 13, 1, 1-3.
54 NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, Prefácio 9, § 14-15.55 Cf. NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, IV 7, 33: “Foste o pri-meiro a alertar contra a compaixão – não a todos nem a ninguém, mas ati e àqueles do teu feitio”.56 Cf. NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, I 12, 10; Ibid., I 22, 2, 13;Ibid., IV 19, 4, 6.57 Cf. NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, I 11, 13; Ibid., IV 3, 1,26; Ibid., IV 13, 1, 3; Ibid., IV 13, 5, 4.58 NIETZSCHE (1888), 1967/1978i, Lamento de Ariadne.59 Cf. Mateus, 11, 15. A mesma frase aparece em A Gaia Ciência, § 234 eCaso Wagner, § 10.60 Cf. NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, III 2, 1, 22.61 Cf. NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, III 8, 2, 32.62 Cf. NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, III 12, 16, 13.63 Que se lembre da epígrafe aos quatro primeiros livros de A Gaia Ciência:“Moro em minha própria casa / Nada imitei de ninguém/ E ainda ri de todomestre / Que não riu de si também. / Sobre minha porta”.
Impulso_28.book Page 28 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 29
tilhar ensinamentos, comungar vivências. Tanto é
que exorta seus discípulos a que o reneguem. “So-
zinho vou agora, meus discípulos! Também vós, ide
embora, e sozinhos!64 Assim quero eu. Afastai-vos
de mim e defendei-vos de Zaratustra! E, melhor
ainda: envergonhai-vos dele! Talvez vos tenha enga-
nado.65 O homem do conhecimento não precisa
somente amar seus inimigos, precisa também poder
odiar seus amigos.66 Paga-se mal a um mestre, quan-
do se continua sempre a ser apenas o aluno. E por
que não quereis arrancar minha coroa de louros?
Vós me venerais, mas, e se um dia vossa veneração
desmoronar? Guardai-vos de que não vos esmague
uma estátua!67 Dizeis que acreditais em Zaratustra?
Mas que importa Zaratustra! Sois meus crentes,
mas que importam todos os crentes!68 Ainda não
vos havíeis procurado: então me encontrastes.69 As-
sim fazem todos os crentes; por isso importa tão
pouco toda crença. Agora vos mando me perderdes
e vos encontrardes; e somente quando me tiverdes
todos renegado eu voltarei a vós.”70
Coragem e despojamento o autor e a perso-
nagem também exigem de si mesmos. Acreditando
precisar de amplos horizontes para ter grandes idéias,
o autor recusa-se a conferir caráter monolítico ao tex-
to e a personagem nega-se a pôr-se como senhor au-
toritário do discurso. “Aqui não fala nenhum ‘pro-
feta’, nenhum daqueles arrepiantes híbridos de do-
ença e vontade de potência que são chamados fun-dadores de religiões. (...) Aqui não fala nenhumfanático, aqui não se ‘prega’, aqui não se exige cren-ça”.71 Nem o autor nem a personagem procuraconstranger seus interlocutores a seguir um itinerá-rio preciso, obrigatório e programado. Nem umnem outro busca, com longos raciocínios e minu-ciosas demonstrações, convencê-los da pertinênciade suas idéias.
Em Assim falava Zaratustra, Nietzsche jamaislança mão da linguagem conceitual. As posições queavança tampouco se baseiam em argumentos ou ra-zões; assentam-se em vivências. Tanto é que o pro-tagonista diz a um de seus discípulos: “Por quê? Per-guntas por quê? Não sou daqueles a quem se tem odireito de perguntar por seu porquê. Acaso é de on-tem a minha vivência? Há muito que vivenciei as ra-zões de minhas opiniões”.72 Recusando teorias edoutrinas, rejeitando a erudição, ele sempre apelapara sua experiência singular. É com o intuito de re-forçar esta atitude que, repetidas vezes, recorre àimagem do sangue. “De todos os escritos”, diz ele,“amo apenas o que alguém escreve com seu san-gue”.73 E, num fragmento póstumo, o autor afirma:“Todas as verdades são para mim verdades sangren-tas”.74 Com isso, ele quer ressaltar que reflexão filo-sófica e vivência se acham intimamente relacionadas.
Há de levar em conta este vínculo quem deNietzsche for aparentado; pelo menos é isto o queele deseja. Tanto é que a Lou Salomé escreve, em car-ta de 16 de setembro de 1882: “Sua idéia de reduziros sistemas filosóficos a atos pessoais de seus autoresé mesmo uma idéia que provém de uma ‘alma-irmã’;eu próprio ensinei nesse sentido a história da filosofiaantiga, na Basiléia, e dizia com prazer a meus ouvin-tes: ‘tal sistema está refutado e morto – mas a pessoaque se acha por trás dele é irrefutável, a pessoa nãopode ser morta’”. Doze anos depois, Lou Salomépublica uma biografia do filósofo em que, tomandoao pé da letra o que ele então lhe dissera, opta por
64 A propósito da necessidade da solidão, cf. NIETZSCHE (1883/1885),1967/1978b, I 12, 1-3; Ibid., I 12, 39; Ibid., I 17, 1 e Ibid., I 17, 31-35.65 Cf. NIETZSCHE (1888), 1967/1978h, Prólogo, § 4, que comentaesta passagem: “Não será Zaratustra, com tudo isso, um sedutor? Mas oque diz ele mesmo, quando pela primeira vez retorna para sua solidão?Exatamente o contrário daquilo que algum ‘sábio’, ‘santo’, ‘redentordo mundo’ e outro décadent diria em tal caso...”.66 Cf. Mateus, 5, 43-44: “Ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximoe odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimi-gos”. Nietzsche retoma, aqui, a idéia já presente em (1883/1885), 1967/1978b, I 14, 9-10.67 Esta passagem lembra outra que se encontra nos Ensaios de Emer-son, cuja edição alemã Nietzsche possuía em sua biblioteca. Cf. Versu-che, traduzido para o alemão por G. Fabricius, Hannover, 1858, p. 351.68 Cf. NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, Prefácio 9, 8, onde selê: “Vede os crentes de toda crença! Quem eles odeiam mais? Aqueleque quebra suas tábuas de valores, o quebrador, o infrator: – mas este éo criador”.69 Cf. NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, I 17, 2, onde se lê:“‘Quem procura facilmente se perde a si mesmo. Todo ficar só é culpa’ –assim fala o rebanho”.70 NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, I 22, 3, 2-9. Cf. Mateus, 10,33: “Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negareidiante de meu Pai”.
71 NIETZSCHE (1888), 1967/1978h, Prólogo, § 4.72 NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, II, 17, § 3-4.73 Ibid., I, 7, § 1.74 NIETZSCHE (1880-1882), 1967,1978j, 4 (271) do verão de 1880.Cf. também o fragmento póstumo 4 (285) do mesmo período, onde selê: “Sempre escrevi minhas obras com todo o meu corpo e a minha vida;ignoro o que sejam problemas ‘puramente espirituais’”.
Impulso_28.book Page 29 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

30 impulso nº 28
uma abordagem psicológica dos seus textos. Partin-do do pressuposto de que, em Nietzsche, obra e vidacoincidem, procura entender as possíveis contradi-ções nelas presentes como manifestação de conflitospessoais.75 Propõe, assim, uma interpretação reduto-ra de sua filosofia, aprisionando-a na malha de refe-renciais teóricos que lhe são estranhos. Assim revelanão ser exatamente a “alma irmã” tão almejada.
Nada mais distante de Nietzsche que o pro-jeto de enclausurar o pensamento, encerrá-lo numatotalidade coesa mas fechada. Nada mais afastadode Zaratustra que o propósito de colocar a investi-gação a serviço da verdade, asfixiá-la sob o peso doincontestável. Ambos sabem que a experiência decada um se dá de acordo com o seu feitio. “Sou umandarilho e um escalador de montanhas, disse ele(Nietzsche/Zaratustra) ao seu coração; não gostodas planícies e não posso ficar sentado tranqüilo pormuito tempo. E seja lá o que ainda me venha comodestino e vivência – sempre será os de um andarilhoe escalador de montanhas: afinal, só se tem vivênciasde si mesmo.”76 Em suas vivências singulares, o au-tor e a personagem percebem os impulsos que delesse apossam, os afetos que deles se apoderam; notamas estimativas de valor que com esses impulsos seexpressam e, no limite, as idéias que com esses afe-tos se manifestam. É sobretudo nisso que consiste oestreito vínculo entre vivência e reflexão filosófica.77
Ao longo de sua obra, o autor não cessa debuscar quem é do seu feitio. De igual modo, a per-sonagem no decorrer do livro.78 Não é, pois, paraum ouvinte apático, que se curva ao que lhe é dito,que Zaratustra fala; não é para um leitor conivente,
que acata sem restrições o que lhe é imposto, queNietzsche escreve. É outra a relação que contam es-tabelecer com seus interlocutores. Buscam quem ex-perimenta tensões de impulsos, disposições de afe-tos similares às suas, numa palavra, quem tem vivên-cias análogas às suas. Anseiam por quem siga o pró-prio caminho, cúmplice do caminho que elesmesmos seguem.79 “Quero juntar-me aos que criam,aos que colhem, aos que festejam”, assegura Zaratus-tra. “Quero mostrar-lhes o arco-íris e todas as esca-das do além-do-homem. Cantarei minha canção aossolitários ou aos solitários-a-dois;80 e quem ainda ti-ver ouvidos para o inaudito, quero oprimir-lhe o co-ração com a minha felicidade.”81
De posse da nova verdade, a personagem estápronta para a sua jornada: sabe o que tem a dizer ea quem deve falar. Ao meio-dia, a águia e a serpentevêm ao seu encontro. “‘São os meus animais!’, disseZaratustra e alegrou-se de todo coração. ‘O animalmais orgulhoso sob o sol e o animal mais prudentesob o sol – saíram em busca de notícias. Querem sa-ber se Zaratustra ainda vive. Em verdade, estou vivoainda? Encontrei mais perigos entre os homens queentre os animais; perigosos são os caminhos que Za-ratustra percorre. Possam guiar-me os meus ani-mais!’”82 Imprudente, ele discorreu para a multidãoreunida na praça do mercado. Acolhido com escár-nio e zombaria, determinou-se a falar para compa-nheiros de viagem. No final do prólogo, além de terclareza quanto ao que dizer e a quem falar, sabe queatitude adotar. São as qualidades de seus animais quedevem norteá-lo em seu trajeto; e, mesmo que porvezes lhe falte a prudência, espera que a altivez nãoo abandone. Indispensável, será ela que o lembrarádo caráter singular do que tem a viver. Afinal, todoitinerário é único, todo conhecimento é experimen-tal.83 Novas vivências hão de vir; por certo, hão de
75 Cf. SALOMÉ, 1983; Ibid., 1992. Guiada pela idéia de que “o instintoreligioso” sempre governou a “essência” e o “pensamento” do filósofo, aautora acaba por fazer uma leitura bastante peculiar de alguns dos temascentrais presentes em sua reflexão. A morte de Deus transforma-se, assim,em “desejo de endeusamento de si mesmo”; o além-do-homem converte-se em “representação de uma pura ilusão divina”; o eterno retorno torna-separte integrante de uma “mística”. 76 NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, III, 1, § 2-3.77 Caminhando em outra direção, alguns comentaristas procuraram esta-belecer um paralelismo entre o pensamento nietzschiano e a filosofia exis-tencialista ou até chegaram a tomar Nietzsche por precursor doexistencialismo. É o caso de Jaspers (cf. Nietzsche – Einführung in das Vers-tändnis seines Philosophierens. Berlim: Walter de Gruyter & Co., 1950, emespecial a última parte) e, de certa maneira, também o de Kaufmann (cf.Nietzsche, philosopher, psychologist, antichrist. 10.ª ed. Nova York: TheWorld Publishing Co., 1965, em particular a primeira parte).78 Cf. NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, III 1, 7; Ibid., III 3, 15;Ibid., III 5, 1, 6. Cf. ainda Ibid., III 8, 1, 9: “Vivências do meu feitio virãotambém ao encontro de quem for do meu feitio”.
79 A esse respeito, ver Alexander Nehamas (Nietzsche. Life as literature.Harvard: Harvard University Press, 1985, em particular a introdução eo primeiro capítulo), que entende buscar Nietzsche quem está abertopara comprometer-se com um estilo de vida análogo ao seu.80 Nietzsche faz aqui um jogo de palavras entre Einsiedler (solitário) eZweisiedler (termo por ele forjado para referir-se à solidão de duas pes-soas que estão juntas). Jogo de palavras similar encontra-se em (1883/1885), 1967/1978b, I 11, 30, e também em idem, IV 11, 25.81 NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, Prefácio 9, § 16-17.82 Ibid., Prefácio 10, § 2-5.83 No duplo sentido de o conhecimento assentar-se em experiênciasde vida e implicar fazer experimentos com o pensar.
Impulso_28.book Page 30 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 31
transformar o que ele é, o que tem a dizer e a quemdeve falar.
Ao pintar o retrato do interlocutor tão alme-jado, é o seu próprio que pinta Nietzsche/Zaratus-tra. “Quando formo a imagem de um leitor perfei-to, surge sempre um monstro de coragem e curio-sidade e, também, algo suave, ardiloso, cauteloso,um aventureiro e descobridor nato. Por fim: a quemno fundo me dirijo não saberia dizer melhor do queZaratustra disse a quem quer contar seu enigma.
A vós, audazes buscadores, tentadores, e aquem quer que com ardilosas velas navegou pormares temíveis,
A vós, ébrios de enigmas, que se alegram coma luz do crepúsculo, cuja alma é atraída com flautasa enganosos sorvedouros:
pois não quereis tateando seguir um fio commão covarde; e, onde podeis adivinhar,84 detestaisdeduzir”.85
Referências Bibliográficas ALDERMAN, H. Nietzsche’s Gift. Athens: Ohio University Press, 1977.
GRAMZOW, O. Kurzer Kommentar zum Zarathustra. Charlottenburg: Georg Bürkners, 1907.
HIGGINS, K.M. Nietzsche’s Zarathustra. Philadelphia: Temple University Press, 1987.
JASPERS, K. Nietzsche – Einführung in das Verständnis seines Philosophierens. Berlim: Walter de Gruyter & Co., 1950.
KAUFMANN, W. Nietzsche, Philosopher, Psychologist, Antichrist. 10ª. ed. Nova York: The World Publishing Co., 1965.
LEBRUN, G. Surhomme et homme total. In: Manuscrito, Campinas. Unicamp, 2 (1): 1978.
MESSER, A. Erläuterung zu Nietzsches Zarathustra. Stuttgart: Strecker und Schröder, 1922.
NAUMANN, G. Zarathustra Commentar, Leipzig: H. Haessel Verlag, 1899-1901.
NEHAMAS, A. Nietzsche. Life as literature. Harvard: Harvard University Press, 1985.
NIETZSCHE, F. Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe. 8 v. COLLI, G. & MONTINARI, M. (orgs.). Berlim: Walter de Gruyter& Co., 1975/1984.
__________. Werke. Kritische Studienausgabe. 15 v. COLLI, G. & MONTINARI, M. (orgs.). Berlim: Walter de Gruyter & Co.,1967/1978.
__________ [1881/1882]. Die fröhliche Wissenschaft. Werke. Kritische Studienausgabe. Berlim: Walter de Gruyter & Co.,1967/1978a, v. 3.
__________ [1883/1885]. Also Sprach Zarathustra. Werke. Kritische Studienausgabe. Berlim: Walter de Gruyter & Co., 1967/1978b, v. 4.
__________ [1885/1886]. Jenseits von Gut und Böse. Werke. Kritische Studienausgabe. Berlim: Walter de Gruyter & Co.,1967/1978c, v. 5.
__________ [1887]. Zur Genealogie der Moral. Werke. Kritische Studienausgabe. Berlim: Walter de Gruyter & Co., 1967/1978d, v. 5.
__________ [1988]. De Fall Wagner. Werke. Kritische Studienausgabe. Berlim: Walter de Gruyter & Co., 1967/1978e., v. 6.
__________ [1988]. Götzen-Dämmerung. Werke. Kritische Studienausgabe. Berlim: Walter de Gruyter & Co., 1967/1978f, v.6.
__________ [1988]. Der Antichrist. Werke. Kritische Studienausgabe. Berlim: Walter de Gruyter & Co., 1967/1978g, v. 6.
__________ [1888]. Ecce Homo. Werke. Kritische Studienausgabe. Berlim: Walter de Gruyter & Co., 1967/1978h, v. 6.
84 Cf. NIETZSCHE (1883/1885), 1967/1978b, III 14, 8, em que Zaratus-tra diz à sua alma: “Ó minha alma, ensinei-te de tal sorte a persuadir quepersuades as razões mesmas a virem a ti; igual ao sol, que persuade o mar asubir até a sua altura”.85 NIETZSCHE (1888), 1967/1978, Por que escrevo livros tão bons, §3; quanto à citação (1883/1885), 1967/1978b, III 2, 1, 2-4.
Impulso_28.book Page 31 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

32 impulso nº 28
__________ [1888]. Dionysos-Dithyramben. Werke. Kritische Studienausgabe. Berlim: Walter de Gruyter & Co., 1967/1978i,v. 6.
__________. Nachgelassene Fragmente 1880-1882. Werke. Kritische Studienausgabe. Berlim: Walter de Gruyter & Co., 1967/1978j, v. 9.
__________. Nachgelassene Fragmente 1887-1889. Werke. Kritische Studienausgabe. Berlim: Walter de Gruyter & Co., 1967/1978l, v. 13.
__________. Obras incompletas. 2ª. ed. Trad. Torres Filho, R.R. Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978.
SALAQUARDA, J. Zaratustra e o asno. Uma investigação sobre o papel do asno na quarta parte do Assim Falava Zaratus-tra, de Nietzsche. Trad. Cescato, M.C. Discurso, São Paulo, Dep. de Filosofia da USP, 28: 167-208, 1997.
SALOMÉ, L. Friedrich Nietzsche in seinen Werken. Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1983; em português, Nietzsche em suasObras. São Paulo: Brasiliense, 1992.
WEICHELT, H. Zarathustra-Kommentar. 2ª. ed. Leipzig: Felix Meiner, 1922.
Impulso_28.book Page 32 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 33
CULTURA E EDUCAÇÃO NO PENSAMENTO DE NIETZSCHECULTURE AND EDUCATION IN THE THINKING OF NIETZSCHE
Resumo Este artigo explicita a compreensão que Nietzsche tem da cultura e da edu-cação de sua época. Mostra que para esse autor cultura e educação são inseparáveis,sendo por isso necessário pensar em novas perspectivas para a educação de modo queela sirva de alicerce para uma cultura sadia.
Palavras-chave EDUCAÇÃO – CULTURA – FILOSOFIA – ESTADO – JORNALISMO.
Abstract This article makes explicit the understanding that Nietzsche had of the cul-ture and education of his time. It shows that for this author, culture and education areinseparable. For this reason, it is necessary to think of new perspectives for educationthat will provide a basis for a healthy culture.
Keywords EDUCATION – CULTURE – PHILOSOPHY – STATE – JOURNALISM.
ROSA DIAS
Professora adjunta de Estética noDepartameto de Filosofia da UERJ.Autora de Nietzsche Educacador,
Nietzsche e a Música eAs Paixões Tristes: Lupicínio
Impulso_28.book Page 33 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

34 impulso nº 28
Educar os educadores! Mas os primeiros devem começar por educar a si próprios. E é para esses que eu escrevo.
NIETZSCHE
Primavera/verão de 1875
ietzsche, durante toda sua vida, preocupou-se com aeducação e a cultura, mas foi nos primeiros anos comoprofessor na escola secundária e na Universidade da Ba-siléia que se debruçou sobre os problemas concretos doensino secundário e superior. Com fina acuidade, obser-vou estar diante de um sistema educacional que abando-nara uma formação humanista em proveito de uma for-mação cientificista. A conseqüente vulgarização do en-sino tinha por objetivo formar homens tanto quanto
possível úteis e rentáveis, e não personalidades harmoniosamente amadure-cidas e desenvolvidas. Atento a tudo que se relacionava à formação, Nietzs-che decidiu denunciar os “métodos antinaturais de educação” e as tendênciasque a minavam.
Antes de abordarmos o pensamento de Nietzsche sobre a educação,fazem-se necessárias algumas observações. Por se tratar do estudo de um fi-lósofo que une pensamento e vida, que tem um modo próprio de filosofar,que encontra sua alegria na busca e na transitoriedade e que, por isso, nãoteme ver de diferentes pontos de vista os contrastes que a vida lhe oferece,por tudo isso e para não perder a coerência de seu pensamento, limitaremosnossa análise ao momento em que Nietzsche explicita de maneira mais de-talhada os problemas relacionados à educação e à cultura. Privilegiaremos, as-sim, seus trabalhos compreendidos entre 1870 e 1874, principalmente as con-ferências Sobre o Futuro de nossos Estabelecimentos de Ensino (1872), as Con-siderações Extemporâneas – Da utilidade e desvantagem da história para a vida(1874) e Schopenhauer como Educador (1874).
Educação e cultura são, para Nietzsche, inseparáveis. Não existe cul-tura sem um projeto educativo, nem educação sem uma cultura que a apóie.A educação recebida nas escolas alemãs partia de uma concepção historicistae dava origem a uma pseudocultura, que nada mais era do que o simulacro deoutras culturas. Para o filósofo, cultura e educação são sinônimos de “ades-tramento seletivo” e “formação de si”; para a existência de uma cultura, é ne-cessário que os indivíduos aprendam determinadas regras, adquiram certoshábitos e comecem a educar-se a si mesmos e contra si mesmos, ou melhor,contra a educação que lhes foi inculcada.
Em suas conferências Sobre o Futuro de nossos Estabelecimentos de En-sino, Nietzsche examina as entranhas do sistema educacional de sua época.Percebe que o Estado e os negociantes são os primeiros grandes responsáveispela depauperação da cultura. Eles entravam a lenta maturação do indivíduo,a paciente formação de si – que deveria ser a finalidade de toda cultura –, exi-gindo uma formação rápida para terem a seu serviço funcionários eficientes
NNNN
Impulso_28.book Page 34 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 35
e estudantes dóceis, que aprendam rapidamente aganhar dinheiro. Mas isso não é tudo. Tal pressa in-decorosa leva os estudantes, numa idade em queainda não estão amadurecidos o suficiente, a se per-guntarem qual profissão devem escolher e a faze-rem más escolhas.
Isso leva Nietzsche a reconhecer a presençade duas tendências no sistema educacional de suaépoca que nada mais fazem do que trabalhar para oenfraquecimento da cultura: a da ampliação máximada cultura e a da redução máxima. A primeira ten-dência, a da ampliação máxima, tem a pretensão dejulgar que o direito à cultura seja acessível a todos.Todavia, é regulamentada pelo dogma da economiapolítica, cuja fórmula é mais ou menos a seguinte:“Tanto conhecimento e cultura quanto possível, lo-go, tanta produção e necessidade quanto possível,daí tanta felicidade quanto possível”.1 A segundatendência, a da redução da cultura, admite a possibi-lidade de que os indivíduos consagrem sua vida à de-fesa dos interesses do Estado, e exige que seus ser-vidores procurem uma especialização, isto é, sejam“fiéis às pequenas coisas” e ao Estado.
Aliada a essas duas tendências, encontra-se acultura jornalística. Para o filósofo, ela é a confluên-cia das duas tendências anteriores, o lugar onde seencontram e dão as mãos. A cultura ampliada, a cul-tura especializada e a cultura jornalística se comple-tam para formar uma só e mesma incultura.
A cultura jornalística, segundo Nietzsche, vaisubstituindo aos poucos a verdadeira cultura. O jor-nalista, “o mestre do instante”, “o escravo dos trêsM: o momento presente, as maneiras de pensar (Mei-nungen) e a moda, passa com pressa e ligeiramentesobre as coisas”.2 Escreve sobre artistas e pensadorese vem tomando o lugar deles; lançando por terra suaobra. Mas enquanto o jornalista vive do instante egraças ao gênio de outros homens, as grandes obrasdos grandes artistas emanam do desejo de permane-cer, e sobrepujam o tempo pela força da criação.
Com o propósito de restaurar a cultura alemã,Nietzsche examina as instituições de ensino respon-sáveis pelas diferentes etapas de formação dos ado-
lescentes – gymnasium (equivale aos antigos ginásioe colegial, hoje 5.ª a 8.ª séries do 1.º e 2.º graus docurrículo brasileiro), a escola técnica e a universida-de –, denuncia o mal que as envenena e indica re-médios para combatê-lo.
Quanto ao gymnasium, Nietzsche tem muitoa dizer. Para ele, ainda não se fizera nada por essaetapa de formação dos estudantes, talvez a mais im-portante, pois vai se refletir nas fases posteriores doaprendizado. Logo, toda renovação deveria começarpelo gymnasium.
Ele reconhece a necessidade de um maior in-vestimento na aprendizagem da língua materna e daarte de escrever – tarefas das mais essenciais da escolasecundária. A língua alemã encontrava-se nesse mo-mento contaminada pelo “pretenso estilo elegante”do jornalismo. O acesso dos semiletrados ao podertinha provocado uma drástica redução da riqueza edignidade da língua. A questão, no entanto, não eraapenas de pobreza vocabular – tratava-se também damá utilização dos recursos oferecidos pela língua.
A tarefa de uma escola de alta qualidade deveser sempre a de levar o estudante a compreender aimportância de estudar seriamente a língua. Se elaentrar em declínio, perder sua força vital, conse-qüentemente a cultura tenderá a se degenerar. Se oprofessor não conseguir incutir nos jovens estudan-tes uma aversão física por determinadas palavras eexpressões com que os habituaram os jornalistas eos maus romancistas, é melhor, adverte Nietzsche,renunciar à cultura. Para isso, é necessário analisar osclássicos, linha a linha, palavra por palavra, e estimu-lar os alunos a procurar exprimir o mesmo pensa-mento várias vezes e cada vez melhor.
A educação começa com hábito e obediência,isto é, disciplina. Disciplinar lingüisticamente o jo-vem não significa acumulá-lo de conhecimentoshistóricos acerca da língua, mas sim fazê-lo cons-truir determinados princípios a partir dos quais pos-sa crescer por si mesmo, interior e exteriormente.Significa torná-lo senhor de seu idioma e possibilitá-lo a construir uma língua artística a partir dos traba-lhos que o precederam, único caminho para revita-lizar a educação e a cultura alemãs.
O crescente desprezo pela formação huma-nística e o aumento da tendência cientificista nas es-
1 NIETZSCHE, 1988d, p. 666.2 NIETZSCHE, 1988b, 35 [12].
Impulso_28.book Page 35 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

36 impulso nº 28
colas, a instrução dirigida por questões históricas ecientíficas e não por um ensinamento prático, oabandono do ensino que vise à formação de umsentido artístico da língua em favor de um duvidosoestilo jornalístico, a ênfase dada à profissionalizaçãono intuito de criar pessoas aptas a ganhar dinheiro,tudo isso impede que o sistema educacional se voltepara a cultura.
Deve ser ressaltado que Nietzsche não vêcom hostilidade a implantação e a proliferação naAlemanha das escolas técnicas. Pelo contrário, ali, osindivíduos aprendem a calcular convenientemente,a dominar a linguagem para a comunicação e adqui-rem conhecimentos naturais e geográficos. De cer-to modo, elas cumprem, e com retidão, seu objeti-vo, que é o de formar negociantes, funcionários, ofi-ciais, agrônomos, médicos e técnicos.
Entretanto, o que Nietzsche censura ao afir-mar que “a cultura não é serva do ganha pão e da ne-cessidade” é o fato de o gymnasium e a universidadeterem se voltado para a profissionalização e, apesardisso, continuarem a acreditar que são lugares des-tinados à cultura, quando na verdade não se distin-guem muito da escola técnica em seus objetivos.
Nietzsche também não poupa críticas ao en-sino superior: “Uma boca que fala, muitos ouvidos emenos da metade de mãos que escrevem – eis o apa-relho acadêmico aparente, eis a máquina de culturada universidade posta em atividade”.3 O professorfala. O aluno escuta. “Liberdade acadêmica” é onome que se dá a esta dupla autonomia: de um lado,uma boca autônoma; de outro, orelhas autônomas.Atrás desses dois grupos, a uma relativa distância,está o vigilante Estado, lembrando, de tempo emtempo, que deve ser ele “o objetivo, o fim e a quinta-essência desses procedimentos de fala e de audição”.4
O estilo “acroamático” de ensino, que privi-legia a exposição oral do professor e a audição doaluno, é, justamente, o oposto do que Nietzsche en-tende que deva ser a educação na universidade. Ali,onde se deveria exigir do aluno um treinamento ri-goroso, inventou-se a autonomia. Tal autonomianada mais é do que a domesticação do aluno para
torná-lo uma criatura dócil e submissa aos interessesdo Estado e da burguesia.
Assim é necessário conter a tendência histó-rico-científica e profissionalizante na universidade –tendência que exige da educação um preparo maisrápido, aprofundado apenas o bastante para trans-formar os indivíduos em servidores eficientes e fa-zer com que a instituição se volte para os problemasda cultura, ou seja, para as questões essenciais colo-cadas pela condição humana. Dessa forma, Nietzs-che propõe que se investigue como essas questõesestão colocadas no conjunto da arte e da filosofia, asúnicas disciplinas capazes de moderar a feição his-tórico-científica que se espalha na universidade. Auniversidade, porém, não tem nenhum comporta-mento que indique seu apreço pela arte. Isso nãoquer dizer que em seu espaço não haja professorescom inclinação ou gosto pela arte. O problema éque, apesar de existirem matérias que ensinem his-tória da arte, a universidade não pode dar ao estu-dante uma instrução artística.
E para que poderia servir a instrução artísticapara o jovem? Em uma única palavra: para a vida. Aarte disciplina o “instinto desenfreado de conheci-mento” que domina todos os outros instintos aponto de colocar a vida em perigo. Uma “instruçãoartística” na universidade contrabalançaria os efeitosnefastos da compulsão de saber a qualquer preço, edisciplinaria o instinto de conhecimento e a própriaciência. Já que a ciência, na maioria das vezes, aoquerer conhecer a vida custe o que custar, “destróias ilusões” que ajudam o homem a viver. Incapaz dedar sentido e beleza à existência, de considerar a vidaem seu conjunto, coloca por terra o único ambienteem que se pode viver.
Ao instinto desenfreado da ciência, que tudoquer conhecer, que revira a vida e a vasculha em seusmínimos detalhes, Nietzsche opõe a arte. Esta, aocontrário da ciência, não se interessa por tudo o queé real, não quer tudo ver nem tudo reter – é anticien-tífica. Mais importante ainda: a arte, em lugar de dis-secar a vida, é fonte de dissimulação. Numa épocaem que vida e cultura estão separadas, a arte tem umpapel fundamental: afirma a vida em seu conjunto.Reforça certos traços, deforma outros, omite mui-tos outros, tudo em função da vida, da transfigura-
3 NIETZSCHE, 1988d, p. 732.4 Idem.
Impulso_28.book Page 36 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 37
ção do real. Em suma, a arte nos liberta, ao passoque a dura e cotidiana experiência do real nos sub-mete.
Não se pode extrair da exposição de Nietzs-che um projeto de instrução artística do jovem uni-versitário, como foi feito em relação ao ensino dalíngua. Mas, embora não indique explicitamentecomo deve ser realizada uma tal instrução, Nietzs-che deixa bem clara a sua finalidade.
Por meio dessa educação para a arte, o jovemuniversitário seria capaz de, primeiro, contestar apretensão científica de tudo conhecer; segundo,conduzir o conhecimento de modo a fazê-lo servira uma melhor forma de vida; terceiro, devolver àvida as ilusões que lhe foram confiscadas; quarto,restituir à arte o direito de continuar a cobrir a vidacom os véus que a embelezam. Todavia, a universi-dade alemã não soube dar um ensino artístico nemteve interesse em conter, por meio da arte, as ten-dências cientificistas.
Dessa forma, em vez de a arte servir como an-tídoto à contaminação da cultura pela ciência, o eru-dito serviu-se dos métodos científicos para investigara arte. A música, diz ele, é objeto de dissecação, comose fosse possível analisar com erudição o êxtase. Édesse modo que os professores universitários demos-tram seu apreço pela arte: apresentando-se como seusperitos, quando, na verdade, gostariam de suprimí-la.
Se a universidade não abre suas portas para aarte, também não as abre para a filosofia. A esse res-peito, a tese principal de Nietzsche é a seguinte: oensino universitário da filosofia não prepara o estu-dante para pensar, agir e viver filosoficamente; pelocontrário, o “instinto natural filosófico” é imobili-zado pela cultura histórica. Na universidade, a filo-sofia está “política e policialmente limitada à aparên-cia erudita”. Por isso, “permanece no suspiro ‘masse...’, ou no reconhecimento: era uma vez”.5
As questões históricas introduziram-se de talmodo na filosofia universitária que esta se resume aperguntas como: o que pensa tal ou qual filósofo?merecerá tal lição ser realmente aprendida? é ela re-almente um estudo de filosofia?6 Essa maneira de
tratar a matéria desenraizou a filosofia universitáriade todos os problemas fundamentais. Em lugar delevar os estudantes a levantarem questões sobre aexistência, preocupa-se com as minúcias da históriada filosofia. Assim, a filosofia reduz-se a um ramoda filologia. Em conseqüência, do mesmo modoque a filologia está interessada apenas nas etimolo-gias e não em um trabalho com a palavra viva, a fi-losofia restringe-se a estudar o pensamento morto,que não mais serve à vida.
A crítica de Nietzsche à filosofia universitária(que aparece na mesma época da Extemporâneas ede Sobre o Futuro de nossos Estabelecimentos de En-sino) está sob a influência de Schopenhauer, no tex-to “Sobre a filosofia universitária”, que faz parte deseu livro Parerga e Paraliponema, publicado em1851. Em breves palavras, pode-se dizer que, paraSchopenhauer, não existem filósofos na universida-de, mas professores que vivem da filosofia, interes-sados em pensar no que seus interesses materiaisexigem e no que convém ao Estado e à religião.7
Nietzsche retoma e aprofunda as críticas deSchopenhauer quanto à relação da filosofia com oEstado e a cultura histórica. Assim como Scho-penhauer, ele acha que não existem filósofos univer-sitários, mas apenas professores de filosofia, engre-nagens úteis à sobrevivência da maquinaria do Esta-do. Para ele, o filósofo universitário é um anti-sábiopor excelência. É um filósofo do Estado, da religião,colecionador dos valores em curso, funcionário dahistória, que se mascara com a filosofia para sobre-viver.
O que os filósofos universitários não haviampercebido é que o Estado moderno não era maisaquele idealizado por Platão. Este considerava neces-sária a criação de um organismo social completa-mente novo, no qual a formação do jovem ateniensenão dependesse dos pais (que consideravam loucuraa vocação filosófica dos filhos e, por isso, condena-ram Sócrates a tomar cicuta, sob a acusação de “cor-romper a juventude”). Mas o Estado moderno, aque as almas se devotam completamente, como aabelha à colméia, não tem nenhuma intenção de criarnovos Platões.
5 NIETZSCHE, 1988c, p. 265.6 NIETZSCHE, 1988d, p. 743. 7 NIETZSCHE, 1988c, p. 411.
Impulso_28.book Page 37 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

38 impulso nº 28
Se a natureza lança os filósofos como uma fle-cha para atingir um alvo, deveria ser dever do Estadoajudá-la nesse processo, interferindo na cultura e naorganização social. Mas acontece justamente o con-trário. Quem impede a produção e perpetuação dosfilósofos são os próprios filósofos universitários,que vivem do Estado.
Quando o Estado promove a filosofia, favo-rece um certo número de homens que podem viverde sua filosofia, transformando-a num ganha-pão.Ora, como se acredita que quem vive de algum ofí-cio também dele entende, os professores se com-portam diante do público como mestres do assun-to, especialistas em filosofia, e, portanto, verdadei-ros filósofos, que podem escolher e ensinar o quejulgam ser digno da atenção de suas audiências.
Nietzsche crê que Platão e Schopenhauer ja-mais poderiam ter sido filósofos universitários. Re-presentariam um perigo para o Estado: “Em qual-quer lugar em que tenha havido sociedades, gover-nos, religiões, opiniões públicas poderosas, em resu-mo, em qualquer lugar onde tenha havido tirania,ela execrou o filósofo solitário, pois a filosofia ofe-rece ao homem um asilo onde nenhuma tiraniapode penetrar, a caverna da interioridade, o labirintodo coração, o que não agrada aos tiranos”.8 O Esta-do teme os filósofos e a filosofia em geral. Por isso,tenta atrair para si o maior número de filósofos uni-versitários “que lhe dêem a impressão de ter a filo-sofia a seu lado”.9
Mas será que os filósofos se deram conta doscompromissos e restrições que teriam de suportarao se submeterem? Em alguns professores, a per-gunta agirá como dinamite, “mas a maioria se con-tentará em sacudir os ombros e dizer: por acasopode-se ser grande e puro nessa terra sem fazer con-cessão à baixeza humana?”.10
Esse compromisso com o Estado coloca emperigo o futuro da filosofia. Primeiro, porque é oEstado quem escolhe seus servidores filosóficos, naexata proporção de sua necessidade de preencher osquadros das instituições; além disso, outorga-se acompetência de escolher quem são bons e maus fi-
lósofos; segundo, porque obriga os professores apermanecerem nos seus postos e instruírem todojovem que deseja seus serviços, e isso em um horá-rio fixado de antemão. Nietzsche pergunta: podeum filósofo, de boa fé, comprometer-se a, diaria-mente, ensinar alguma coisa? “E a ensiná-la diantede qualquer um que queira ouvir? Ele não tem de sedar a aparência de saber mais do que sabe? Não temde falar diante de um auditório desconhecido sobrecoisas que somente com o amigo mais próximo po-deria falar sem perigo? E, em geral: não se despojade sua esplêndida liberdade, a de seguir seu gênio,quando esse chama e para onde chama, por estarcomprometido a pensar publicamente, em horas,sobre algo pré-determinado? E isso diante de jo-vens! Um tal pensar não está de antemão como queemasculado? Um dia, ele poderia sentir: hoje nãoconsigo pensar em nada, não me ocorre nada quepreste – e apesar disso teria de se apresentar e pare-cer pensar!”11
Para Nietzsche, o esquema acadêmico foi tãobem montado pelo Estado que não permite ao pro-fessor sofrer com a falta do que dizer, pois nem oprofessor nem o aluno pensam por si mesmos. Acultura histórica e científica foi planejada pelo siste-ma universitário para preencher qualquer lacuna.Há mesmo quem acredite que o filósofo universi-tário não precisa ser um pensador, constituindo, nomáximo, “um repensador e um pós-pensador”, umconhecedor erudito de todos os pensadores, com osquais poderá contar para poder dizer algo aos seusalunos.
Esta é, segundo Nietzsche, a concessão maisperigosa que os filósofos fazem ao Estado. Com-prometem-se a fazer o papel do historiador da filo-sofia. Ao empregar todo o seu tempo em conhecerapenas sistemas que a história apresenta como sen-do dignos da atenção de todos, veneram o passadoe devotam à morte as novas idéias que não recebe-ram o selo da consagração. “A história erudita dopassado nunca foi a ocupação de um filósofo verda-deiro, nem na Índia nem na Grécia; o professor defilosofia, ao se ocupar com um trabalho dessa espé-cie, tem de aceitar que se diga dele, no melhor dos
8 NIETZSCHE, 1988c, p. 411.9 Idem.10 Idem. 11 Idem.
Impulso_28.book Page 38 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 39
casos: é um competente filólogo antiquário, conhe-cedor de línguas, historiador – mas nunca um filó-sofo. E isso, no melhor dos casos, pois, diante damaioria dos trabalhos de erudição feitos por filóso-fos universitários, um filólogo tem o sentimento deque são malfeitos, sem rigor científico e, o mais dasvezes, detestavelmente fastidiosos.”12
Pensa-se, fala-se, escreve-se, ensina-se filoso-fia, mas tudo isso dentro dos limites da história da fi-losofia. Dessa forma, cumpre-se o desejo do Estado,que teme o desconhecido e os que pensam por simesmos, isto é, a partir das experiências renovado-ras: “Quem deixa que se interponham entre si as coi-sas, conceitos, opiniões, passados, livros, quem, por-tanto, no sentido mais amplo, nasceu para a história,nunca verá as coisas pela primeira vez e nunca seráele próprio uma tal coisa vista pela primeira vez”.13
Em vez de educar o estudante para pensar eviver filosoficamente, disciplinando-o contra acompulsão do saber, o ensino universitário acabapor desencorajá-lo a ter opiniões próprias em fun-ção da massa de conhecimentos históricos que éobrigado a assimilar. A universidade não está volta-da para a educação filosófica, mas para a prova de fi-losofia. Assim, ao invés de atrair pessoas para a ati-vidade de pensar, afasta-as.
A filosofia universitária tornou-se, nas mãosde uma multidão de pensadores puros, uma ciênciapura, isto é, um pensamento concebido como uni-versal, abstrato, neutro, desvinculado da vida e dasforças vitais. E a verdade que os filósofos julgam sera origem de todas as suas buscas não passa de umaverdade a serviço do Estado, dos valores correntes eda ordem estabelecida: “A verdade aparece comouma criatura bonachona e amiga das comodidades,que dá sem cessar a todos os poderes estabelecidosa segurança de que jamais causará a alguém o menorembaraço, pois, afinal de contas, ela é apenas ciênciapura”.14 Nietzsche observa, ainda, que uma culturadecadente pouco pode fazer pelo pensamento, anão ser engendrar uma filosofia doente.
Mas a filosofia e o artista reclamam seus direi-tos. Se a filosofia deixou de ter um lugar ao sol,
como restituir-lhe seus direitos? Em A Filosofia naÉpoca Trágica dos Gregos, Nietzsche incita o ho-mem corajoso a repudiar e banir a filosofia com pa-lavras semelhantes às que Platão se utilizou para ex-pulsar os poetas trágicos de seu Estado, mas com acondição de que ela, como os poetas trágicos, pu-desse falar e defender-se. Ela poderia dizer, então:“Povo miserável! É culpa minha se em vosso meiovaguei como uma cigana pelos campos e tenho deme esconder e disfarçar, como se eu fosse a pecado-ra e vós os meus juízes? Vede minha irmã, a Arte!Ela está como eu, caímos entre os bárbaros e não sa-bemos mais nos salvar. Aqui nos falta, é verdade,justa causa; mas os juízes diante dos quais encontra-remos justiça têm também jurisdição sobre vós, evos dirão: Tende antes uma civilização, e então fica-reis sabendo vós também o que a Filosofia quer epode”.15
Em Schopenhauer como Educador, Nietzschepropõe a instauração de um tribunal superior quevigie e julgue a cultura que a universidade desenvol-ve e divulga. A filosofia podia ser esse tribunal. Sempoderes conferidos pelo Estado e sem honras, po-deria prestar seu espírito livre do espírito do tempoe do temor inspirado pelo tempo.
O pior perigo que o filósofo corre numa so-ciedade enferma é ter o destino de um viajante so-litário, forçado a abrir caminho num ambiente hos-til, furtivamente ou aos empurrões e de punhos cer-rados. Tem contra si o espírito gregário organizado,que teme ver abalado tudo o que o mantém vivo.
Na civilização grega, o filósofo tinha o poderde denunciar o perigo que a sociedade corria e en-contrar belas possibilidades de vida. A fim de resti-tuir-lhe esse poder, Nietzsche insiste em que a filo-sofia se desvincule do Estado. Para ele, o filósofo éum centro de forças imensas que modifica todo “osistema das preocupações humanas” e põe em perigoo que quer se manter gregário. Enquanto o filósofonão estiver ligado à sociedade por uma necessidadeindestrutível, enquanto não tiver ao seu redor umasociedade sadia, pouco pode fazer pela cultura, a nãoser denunciar o que a torna doente e o que a destrói.
12 Idem.13 NIETZSCHE, 1988c, p. 404.14 NIETZSCHE, 1988c, p. 350. 15 NIETZSCHE, 1988a, p. 833.
Impulso_28.book Page 39 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

40 impulso nº 28
A vida precisa de uma cultura sadia, e, para is-so, são imprescindíveis instituições de ensino volta-das para a cultura. Elas não existem ainda, mas de-vem ser criadas. Não devem ter por objetivo criar opequeno-burguês que aspira a um posto de funcio-nário ou a um ganha-pão qualquer; ao contrário, pre-cisam voltar-se para a criação de indivíduos realmen-te cultos, formados a partir da necessidade interna dafusão entre vida e cultura e capazes de exercer toda apotencialidade de seu espírito. Estas instituições de-vem, ainda, ajudar a natureza na criação do filósofo edo artista e protegê-lo da “conspiração do silêncio”com que sua época o exclui. Quanto a esse aspecto,poder-se-ia perguntar por que Nietzsche vê comonecessárias instituições para criar o gênio já que o gê-nio, para nascer, nunca precisou delas, nem das “mu-letas da cultura”, crescendo no solo de uma culturanacional, seja ela falsa ou verdadeira. A essa possívelobjeção, Nietzsche tem uma resposta: os que per-guntam dessa maneira raciocinam historicamente eerigem dogmas para não favorecer o gênio. Não res-ta dúvida de que os alemães estão contentes comseus gênios, haja visto o número de monumentoscom que, por todo o país, se honra a sua memória.Mas ao se deduzir daí que não é preciso fazer nadapor ele, condena-se à morte tudo o que vive, e esta-belece-se o raciocínio de que tudo já está feito.
Querem ouvir, pergunta Nietzsche, o cantode um solitário? Ouçam Beethoven (1770-1827). Amúsica de Beethoven serve para lembrar aos ale-mães que os espíritos de que se orgulham foramprematuramente sufocados por não encontraremacolhida na cultura que os rodeava. Kleist (1777–1811), por exemplo, suicidou-se, e Hölderlin (1770-1779), o “Werther da Grécia”, morreu louco. Scho-penhauer (1788-1860), Goethe (1749-1832), Wag-
ner (1813-1883) sobreviveram graças ao fato de se-
rem da “natureza do bronze”, mas o efeito de suas
lutas, de seus sofrimentos está gravado nas rugas de
seus rostos. Elogiam a polivalência de Lessing
(1729-1781) – crítico e poeta, arqueólogo e teólogo
–, mas não levam em conta aquilo que o obrigou à
universalidade: a miséria, que o acompanhou duran-
te toda a sua vida. Como Goethe, os alemães deve-
riam lamentar que esse homem tenha sido obrigado
a resistir num mundo de inércia, forçado a polemi-
zar sem descanso.
Será, pergunta ainda Nietzsche, que os ale-
mães podem pronunciar o nome de Schiller (1759-
1805) sem corar? Será que a cor de sua face tingida
pela morte não diz nada aos que o elogiam? Por trás
dos elogios e das honrarias, Nietzsche vê esconder-
se o ódio dos “filisteus” contra a grandeza que está
à vista. Essa veneração serve para camuflar a incapa-
cidade de tirar proveito do passado e para livrar-se
do peso de fazer alguma coisa para o que vive e o
que quer nascer.
Com todos esses argumentos, Nietzsche dei-
xa claro o tratamento que os alemães dão aos seus
gênios e quebra o dogma de que não seria preciso
fazer nada por eles, já que os gênios, apesar de tudo,
continuariam nascendo. Com isso, prova a necessi-
dade de criar instituições para educar o corpo e o es-
pírito do indivíduo, incentivando-o a cultivar-se e
tornando-o capaz de abrigar e proteger o gênio. Isso
significará um enorme esforço para os que se pro-
põem a trabalhar para a cultura, pois terão de subs-
tituir um sistema educacional que tem suas raízes na
Idade Média por um outro ideal de formação. Con-
tudo, deverão iniciar a tarefa sem demora, já que
dela depende toda uma geração futura.
Referências BibliográficasNIETZSCHE, F. Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen. In KSA. v. 1. Berlin/New York: Walter de Gryter, 1988a.
_____________. Nachgelassene Fragmente 1869/1874. In KSA v. 7, 35 [12]. Berlin/New York: Walter de Gryter, 1988b
_____________. Schopenhauer als Erzieher. In KSA. v. 1. Berlin/ New York: Walter de Gryter, 1988c.
_____________. Ueber die Zukunft unserer Bildungsanstalten. In KSA v. 1, Berlin/New York: Walter de Gryter, 1988d.
_____________. Von Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. In KSA. v. 1. Berlin/New York: Walter de Gryter, 1988e.
Impulso_28.book Page 40 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 41
O MÉTODO NIETZSCHIANO DE CRÍTICA AO CRISTIANISMO: filologia e genealogiaTHE NIETZSCHEAN METHOD OF CRITICIZING CHRISTIANITY:philology and genealogy
Resumo A definição e escolha de um método tornou-se um problema central no pro-
cesso de investigação de uma realidade. Definir o método é o primeiro passo para a pes-
quisa sobre um objeto. Neste texto, procuraremos apontar um método nietzschiano
para sua crítica radical ao cristianismo. Procuraremos mostrar que este método é com-
posto pela filologia, que irá apontar que o cristianismo é apenas uma interpretação mo-
ral, e pela genealogia, que apontará o apóstolo Paulo como o responsável por esta in-
terpretação.
Palavras-chave MÉTODO – CRISTIANISMO – FILOLOGIA – GENEALOGIA – INTER-
PRETAÇÃO.
Abstract The definition and choice of a method has become a central problem in the
process of investigating reality. Defining the method is a first step in doing research
about a subject. In this paper, we attempt to point to a Nietzschean method for his
radical critique of Christianity. We are trying to show that this method is composed
of philology that will show that Christianity is only a moral interpretation, and of ge-
nealogy that will show the apostle Paulo as responsible for this interpretation.
Keywords METHOD – CHRISTIANITY – PHILOLOGY – GENEALOGY – INTERPRETA-
TION.
MÁRCIO DANELON
Professor de Filosofia na UNIMEP ede Ética no Curso de Direito da
Uniclar. Doutorando em Filosofiada Educação na Unicamp
Impulso_28.book Page 41 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

42 impulso nº 28
ara adentrarmos no método nietzschiano de crítica ao cris-tianismo faremos, previamente, um recorte etimológicono termo método. Metá-odós significa através do caminho,ou seja, o caminhar por entre os edifícios culturais. Nestetexto, dentro do cenário conceitual da filosofia, devemosentender o método como o caminho que ilumina a almano processo de conhecimento de um objeto. Tem-se ummétodo quando se segue um determinado caminho que
conduzirá a um determinado fim. Este assume a forma de uma trilha cujo ob-jetivo é conduzir, por entre o mato fechado de uma realidade velada, ao des-velamento do real. O método torna possível, então, a apreensão do real atra-vés de conceitos.
A questão do método é tema central e recorrente na filosofia. Já em Pla-tão, o termo método aparece em seus diálogos.1 No Sofista, durante o diálogoentre Sócrates, o estrangeiro, Teeteto e Teodoro, a palavra método aparece nastentativas de definição do que é sofista. Assim, na fala de Sócrates: “Não quei-ras, pois, estrangeiro, recusar-te ao primeiro favor que te pedimos. Mas dize-nos antes se, de costume, preferes desenvolver toda a tese que queres demons-trar numa longa exposição ou empregar o método interrogativo de que, emdias distantes, se servia o próprio Parmênides”.2
Mais adiante, o estrangeiro, antes de conceituar o real – definir o que ésofista – propõe um método para tal empreitada: “Não é nada fácil saber o quesão as pessoas, objeto de nossa análise, e dizer o que é o sofista. Mas o métodoaceito por todos, e em todo lugar, para levar a bom termo as grandes obras éo de que se deve procurar, primeiramente, ensaiar em pequenos exemplos, emais fáceis, antes de chegar propriamente aos temas grandiosos”.3
Ainda na filosofia grega, encontramos em Aristóteles o emprego dotermo método. No livro Ética a Nicômaco, Aristóteles, ao refletir sobre a jus-tiça no livro V, propõe um método – a divisão deste problema em três partes:“No que toca à justiça e à injustiça devemos considerar: 1. com que espéciede ações se relacionam elas; 2. que espécie de meio-termo é a justiça; e 3. entreque extremos o ato justo é intermediário”.4 Este método de divisão de umproblema em partes para seu conhecimento é coerente com a própria filoso-fia de Aristóteles, que ficou eternizado na história da filosofia, entre outrosatributos, por sua inigualável produção intelectual e sua grande capacidade desistematizar e organizar o conhecimento.
No início do período medieval, encontramos na filosofia de SantoAgostinho elementos de uma discussão acerca do método e do conhecimen-to. Em Santo Agostinho, o conhecimento e a fé não se encontram separados,mas, ao contrário, se misturam, não existindo uma oposição entre Filosofiae Teologia. Para este filósofo, o conhecimento pode ser de dois tipos: refe-rente às coisas sensíveis e às coisas inteligíveis, conforme afirma no De Ma-
1 Ver, por exemplo, A República, mais especificamente o livro VI 504.2 PLATÃO, 1987, p. 130.3 Ibid., 1987, p. 131.4 ARISTÓTELES, 1987, p. 81.
PPPP
Impulso_28.book Page 42 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 43
gistro: “Pois todas as coisas que percebemos, perce-bemo-las ou pelos sentidos do corpo ou pela mente.Chamamos às primeiras ‘sensíveis’, às segundas ‘in-teligíveis’, ou, para falar segundo costumam os nos-sos autores, às primeiras ‘carnais’ e às segundas ‘es-pirituais’”.5 Quando se refere às coisas sensíveis, ossentidos fornecem as informações e as imagens quesão conduzidas até a memória incumbida de as re-organizarem. Quando o conhecimento se refere àscoisas “do espírito”, este somente é produzido peloprocesso de reflexão interior. Em tal conhecimento,está posto o processo de auto-reflexão propostopor Santo Agostinho.
Nesse sentido, o conhecimento verdadeironão é de ordem sensível e nem mesmo inteligívelnatural, mas produzido por uma inteligência que se-ja, impreterivelmente, iluminada. Deus seria, então,o fundamento de toda verdade; é através da ilumi-naçhão divina que o homem, por um processo in-teligível interno, atinge a verdade imutável e eterna.
Ainda na Idade Média, porém já em seu térmi-no, encontramos em São Tomás de Aquino uma im-portante reflexão sobre o conhecimento e o método.Segundo esse pensador, é possível uma confluênciaentre fé e razão na produção do conhecimento. SãoTomás aceita, por meio da conciliação fé/razão, a ra-zão fundamentar os conhecimentos da fé.6
São Tomás admite que certos conhecimentossomente são possíveis através da iluminação divina.Para São Tomás, o ser humano é composto de duassubstâncias: corpo e alma. É da função intelectiva daalma que se pode chegar ao tipo de conhecimentoacessível à razão. Porém, este conhecimento nãoprescinde do corpo, mas parte dos dados da sensa-ção. Assim, o conhecimento é racional/empírico,pois remete a esses dois planos da produção do co-nhecimento. O primeiro momento da elaboraçãodo conhecimento cabe ao sensível, que coleta os da-dos do mundo natural. Esses dados formam a ma-téria-prima com a qual o intelecto vai trabalhar naformação dos conceitos. Nesse sentido, o segundo
momento é o intelectivo, em que o homem, muni-do das informações sensíveis, raciocina, julga, abs-trai, entende, em síntese, chega à essência das coisas.Desse modo, a verdade em São Tomás seria a iden-tificação do conceito – racional/empírico – com arealidade.
A problemática do método está presente,portanto, desde a filosofia grega, e perpassa a IdadeMédia. Mas é na Idade Moderna, mais precisamentea partir do século XVI que o método ganha ampli-tude, a ponto de constituir-se no cerne do debate fi-losófico da modernidade. Em função das radicaistransformações político-sociais, econômicas e tec-nológicas ocorridas naquele período, e do adventodas ciências naturais a partir do século XVII, a cons-trução e definição de um método para o conheci-mento da realidade ganha posição de destaque naprodução filosófica da época. Francis Bacon foi umdos primeiros a elaborar um método para a aquisi-ção do conhecimento. Para ele, todo conhecimentoproduzido pelo homem deveria ter fins utilitários,ou seja, deveria estar a serviço do homem, propor-cionar maior controle sobre a natureza e uma me-lhor forma de vida. No Novum Organum, Baconcoloca a necessidade de um método para o conhe-cimento: “Resta-nos um único e simples métodopara alcançar os nossos intentos: levar os homensaos próprios fatos particulares e às suas séries e or-dens, a fim de que eles, por si mesmos, se sintamobrigados a renunciar às suas noções e comecem ahabituar-se ao trato direto das coisas”.7 No mesmotexto, faz uma análise crítica do método até entãoempregado na produção do conhecimento, e pro-põe um novo caminho:
Só há e só pode haver duas vias para a inves-tigação e para a descoberta da verdade.Uma, que consiste no saltar-se das sensa-ções e das coisas particulares aos axiomasmais gerais e, a seguir, descobrirem-se osaxiomas intermediários a partir desses prin-cípios e de sua inamomível verdade. Esta é aque ora se segue. A outra, que recolhe osaxiomas dos dados dos sentidos e particula-res, ascendendo contínua e gradualmente
5 AGOSTINHO, 1973, p. 352.6 Já são consagradas as famosas cinco provas da existência de Deus queSão Tomás desenvolve na Suma Teológica e que, esquematicamente, des-crevemos: 1. pelo movimento; 2. pela noção de causa; 3. pela necessidade;4. pela noção de perfeição; 5. pela ordem do universo. 7 BACON, 1973, p. 26.
Impulso_28.book Page 43 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

44 impulso nº 28
até alcançar, em último lugar, os princípiosde máxima generalidade. Este é o verdadeirocaminho, porém ainda não instaurado.8
Este novo método, Bacon denomina métodoindutivo:
Na constituição de axiomas por meio dessaindução, é necessário que se proceda a umexame ou prova: deve-se verificar se o axio-ma que se constitui é adequado e está naexata medida dos fatos particulares de quefoi extraído, se não os excede em amplitudee latitude, se é confirmado com a designa-ção de novos fatos particulares que, por seuturno, irão servir como uma espécie de ga-rantia. Dessa forma, de um lado, será evita-do que se fique adstrito aos fatos particula-res já conhecidos; de outro, que se cinja asombras ou formas abstratas em lugar decoisas sólidas e determinadas na matéria.9
Na esteira dessa discussão moderna, Descar-tes foi, junto com os empiristas, um dos principaisfilósofos a refletir sobre o tema. No texto Regraspara a Direção do Espírito, Descartes afirma na regraIV a importância do método: “O método é neces-sário para a busca da verdade”.10 E, na mesma regra,expõe o seu conceito a respeito: “Quanto ao méto-do, eu entendo, além de regras certas e fáceis que aexata observação permitirá, a não importa quem, ja-mais tomar o falso por verdadeiro e, sem despenderinutilmente nenhum esforço da inteligência, alcan-çar, através de um aumento gradual e contínuo dosaber, o verdadeiro conhecimento de tudo que serácapaz de conhecer”.11
Descartes produziu obras específicas sobre ométodo, entre elas Regras para a Direção do Espíritoe Discurso do Método, uma das principais obras da li-teratura filosófica, e que tem como subtítulo Parabem conduzir a própria razão e procurar a verdadenas ciências. Já na primeira parte Descartes coloca aquestão: “Mas não temerei dizer que penso ter tidomuita felicidade de me haver encontrado, desde ajuventude, em certos caminhos, que me conduzi-
ram a considerações e máximas, de que formei um
método, pelo qual me parece que eu tenha meio de
aumentar gradualmente meu conhecimento e de
alçá-lo, pouco a pouco, ao mais alto ponto”.12
Refletindo sobre o próprio caminho filosófi-
co que o conduziu do estudo das Letras à Matemá-
tica, Descartes propõe, a partir dessa reflexão, um
método para bem conduzir nossa razão:
Por esta causa, pensei ser mister procurar al-
gum outro método que, compreendendo as
vantagens deste três,13 fôsse isento de seus
defeitos. (...) Assim, em vez desse grande
número de preceitos de que se compõe a
Lógica, julguei que me bastariam os quatro
seguintes, desde que tomasse a firme e
constante resolução de não deixar uma só
vez de observá-los.
O primeiro era o de jamais acolher alguma
coisa como verdadeira que eu não conhe-
cesse evidentemente como tal; isto é, de evi-
tar cuidadosamente a precipitação e preven-
ção, e de nada incluir em meus juízos que
não se apresentasse tão clara e distintamente
a meu espírito. (...)
O segundo, o de dividir cada uma das difi-
culdades que eu examinasse em tantas par-
celas quantas possíveis e quantas necessárias
fossem para melhor resolvê-las.
O terceiro, o de conduzir por ordem meus
pensamentos, começando pelos objetos
mais simples e mais fáceis de conhecer, para
subir, pouco a pouco, como por degraus, até
o conhecimento dos mais compostos. (...)
E o último, o de fazer em toda parte enu-
merações tão completas e revisões tão gerais
que eu tivesse a certeza de nada omitir.14
Este método, em síntese, constitui-se no mé-
todo da matemática,15 pela certeza e clareza dos juí-
zos alcançados por ela. Isso fica bastante claro, em
Descartes, na regra XIV:
8 Ibid., p. 22.9 Ibid., p. 22.10 DESCARTES, 1990, p. 18.11 Ibid., p. 19.
12 DESCARTES, 1987, p. 29.13 Esses três são a lógica, a geometria e a álgebra. Descartes está falandodesde o campo da matemática como método, justamente pelo rigor e pelacerteza que ela contém, diferentemente das letras, com as quais Descartesrompeu.14 DESCARTES, 1987, pp. 37-38.
Impulso_28.book Page 44 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 45
Com efeito, o emprego das regras que euvou dar agora é mais bem fácil, no seu estu-do, ao qual é inteiramente suficiente, quenão importa nenhum outro gênero de ques-tões. Sua utilidade é tal para adquirir umamais alta sabedoria que eu não recearei emdizer: esta parte de nosso método não foiinventada por causa dos problemas mate-máticos, mas são estes sobretudo os que de-vemos estudar, quase só pelo valor de a cul-tivar.16
Através de suas obras, Descartes marcou osentido com o qual o termo método passou a serusado na filosofia a partir da modernidade, na me-dida em que foi, talvez, o grande sistematizador dareflexão sobre o tema. Também em Nietzsche, acre-ditamos que um suposto método de crítica ao cris-tianismo passa por essa herança cartesiana, comoum caminho que conduz o espírito para o bem co-nhecer uma realidade. Nietzsche não formulou umateoria sobre o método pois, bufão como era, ria detodo conhecimento rigoroso, universal e verdadeiro.Porém, independente da sátira nietzschiana à ciência,sua crítica ao cristianismo segue um determinadocaminho,17 segue uma direção. Dessa forma, juntocom Nietzsche, nos abstemos quanto à intricadadiscussão secular da filosofia sobre o método, e en-
tenderemos por método o sentido etimológico dapalavra. Assim, neste texto, ele aparece como umcaminho que permitiu a Nietzsche olhar a religiãocristã desde um lugar particular da sua crítica.
Dentro da reflexão sobre o método, uma dasquestões mais centrais e incisivamente debatidas é arelação entre o método utilizado e a realidade que seprocura conhecer. A realidade a ser conhecida devedecidir qual o método a ser eleito, e a eleição de ummétodo que se mostra limitado implica em uma fra-tura no conhecimento produzido sobre o objeto.Quando pensamos, balizados por Nietzsche, nummétodo de crítica ao cristianismo, a escolha do mé-todo assume um caráter fundamental, na medidaem que a realidade a ser debatida – o cristianismo –possui sua especificidade. Como o cristianismoconstitui-se numa religião, torna-se possível apontaro processo histórico de sua construção e os atoresresponsáveis por sua criação e propagação. É nessesentido de entendimento do cristianismo que é pos-sível adentrarmos em um dos dois momentos dométodo nietzschiano de crítica ao cristianismo: agenealogia, na certeza de que apontará quem fun-dou o cristianismo e quais os responsáveis pela uni-versalização dessa religião. Por outro lado, no pro-cesso de construção do cristianismo – que é uma re-ligião historicamente construída – está implícito emseu bojo uma forma de interpretação moral deDeus, ou seja, está presente uma forma específica deinterpretar a idéia de Deus, da mesma forma que oislamismo, o judaísmo ou o budismo encerram,cada qual, sua forma particular de conceber a figurade Deus. Desse modo, é entendendo o cristianismocomo uma forma de ler e dar publicidade a Deus queentramos no outro momento do método nietzschia-no de crítica ao cristianismo: a filologia. É a filologiao instrumento que Nietzsche usou para tomar ocristianismo como uma forma, nem verdadeira nemfalsa, mas particular, de interpretar Deus.
Quanto a esse sentido etimológico da palavramétodo, gostaria de relacioná-lo com três citações deNietzsche em Genealogia da Moral. “A indicação docaminho certo foi o problema do qual deveriam pro-priamente significar, somente em consideração eti-mológica, a designação de ‘bom’ cunhada pelas di-versas línguas; encontrei, então, que essas recondu-
15 Na introdução ao volume de Descartes da Coleção Os Pensadores, Gil-les-Gaston Granger associa essas quatro etapas do método à matemática –sempre muita cara a Descartes –, e mais especificamente à álgebra. CitoGranger: “As regras do método que o filósofo quer aplicar universalmentenão aparecem em parte alguma de maneira mais manifesta do que no raciocí-nio matemático. Em se se quiser comparar os procedimentos de que ele real-mente lança mão em sua Geometria aos preceitos do Discurso do Método eda Regulae, não se pode deixar de notar que estas últimas reproduzem egeneralizam as regras de sua técnica algébrica. Dividir a dificuldade, ir dosimples ao complexo, efetuar enumerações completas, é o que observa rigo-rosamente o geômetra quando analisa um problema em sua incógnita, esta-belece e resolve suas equações”. DESCARTES, 1987, Introdução, p. 11.16 DESCARTES, 1990, p. 111.17 Na célebre obra de Walter Kaufmann Nietzsche Philosopher, Psychologist,Antichrist, o autor faz uma reflexão bastante interessante sobre ummétodo nietzschiano num capítulo cujo título é Nietzsche’s Method. Nestecapítulo, o autor toma a escrita de Nietzsche em forma de aforismos,como um método que usou para elaborar suas reflexões críticas sobre aciência, a religião, a metafísica. Assim, a crítica aos “ídolos” da moderni-dade passa, além do conteúdo da reflexão, pela forma, até certo ponto sub-versiva, de elaborar a crítica. Nesse sentido, Kaufmann esclarece que ométodo de Nietzsche escrever através de aforismos não tem nenhumcompromisso com a sistematização, com a estrutura lógica ou com a coe-são na construção da reflexão. Para o autor, a forma em aforismos já é umacrítica ao academismo no rigor das elaborações teóricas que predominavanas universidades, além de carregar a beleza e o gosto que o jogo das pala-vras proporciona.
Impulso_28.book Page 45 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

46 impulso nº 28
zem todas a idêntica metamorfose conceitual.”18
Gostaria de sublinhar nesta citação o termo cami-nho certo para a análise do conceito de “bom”. Ouseja, Nietzsche reconhece haver um caminho, ouum método, que o conduziria a uma análise críticados conceitos morais. Gostaria de sublinhar, tam-bém, um outro termo: o conceito moral bomcunhado pelas diversas línguas é produto de meta-morfose conceitual. Os conceitos morais, comobom, bem, mal, justo, são produtos de construçõesculturais que, por isso, variam de língua para língua,de cultura para cultura, de época para época. ParaNietzsche, os conceitos religiosos “Deus”, “peca-do”, “paraíso”, “alma”, também são variáveis de re-ligião para religião. O que têm em comum é o fatode todos serem produtos de interpretações efetua-das pelas diversas religiões. Dessa forma, conclui-seque os conceitos religiosos emanados do cristianis-mo não possuem nenhum critério de verdade uni-versal, eterna e imutável, mas, para Nietzsche, sãointerpretações historicamente construídas. Aqui en-tramos no primeiro passo do método de crítica deNietzsche ao cristianismo: a filologia, pois, ao falarque o termo bom depende de metamorfose concei-tual, afirma-se que os conceitos morais e religiosossão produtos de diferentes interpretações fundadasnuma linguagem. Numa outra passagem, isto ficamais claro:
Tendo em vista uma possibilidade deste gê-nero, propõe-se a seguinte questão: essamerece tanto a atenção dos filólogos e doshistoriadores quanto daqueles profissionaisda filosofia: ‘quais indicações fornece a ciên-cia da linguagem, especialmente a pesquisaetimológica, para a história da evolução dosconceitos morais?’.19
Nesta afirmação, Nietzsche volta a tomar a fi-lologia como ferramenta para a crítica dos valoresmorais. Aqui, porém, ele chama a atenção tambémdos historiadores da moral, ou seja, os genealogistas.Pensar a história da evolução e transformação dosvalores morais e religiosos é desvendar o intricadoemaranhado da construção histórica dos valores
morais. E pensar a história dos valores morais e re-ligiosos é possível a Nietzsche ao tomar a genealogiacomo ferramenta, como método que lhe possibili-tará abordar a evolução histórica das interpretaçõessobre os valores morais/religiosos. Dessa forma, agenealogia, como método, proporcionou a Nietzs-che condições para afirmar que os valores morais docristianismo não são valores morais marcados pelaeternidade, não são valores que se perdem na névoada metafísica ou que surgem e pairam sobre nossasvidas como verdade inquestionável. A genealogiapermitiu a Nietzsche apontar, também, que existeum responsável pela deflagração dessa interpretaçãocristã tornada universal, e que esses valores são hu-manos, demasiadamente humanos. O papel da ge-nealogia fica patente, também, nesta outra passa-gem: “Necessitamos de uma crítica dos valores mo-rais, a começar a colocar em questão, uma vez, o valormesmo desses valores – e para tal propósito é neces-sário o conhecimento das condições e circunstânciasem que nasceram, sob as quais desenvolveram emodificaram-se”.20 Nesta passagem fica bastanteclaro o papel da genealogia como método: criticaros valores morais a partir do entendimento do pro-cesso histórico de construção. Assim, a crítica aosvalores morais pressupõe um segundo momento –que é o da genealogia –, marcado pelo estudo dascondições e circunstâncias em que nasceram essesvalores. Portanto, este texto irá de uma análise filo-lógica do cristianismo para a genealogia, como sen-do os dois momentos do caminhar nietzschiano de(des)construção do cristianismo.
A FILOLOGIAA filologia, como ciência que estuda a língua
em toda a sua completude, que estuda a construçãolingüística de um povo, fez parte, desde a juventudede Nietzsche, de sua forma particular de olhar a cul-tura universal. Desde a infância, Nietzsche, atravésde seus avós paterno e materno, tomou contatocom um estudo hermenêutico rigoroso da Bíblia. Oavô paterno, o pastor protestante Friedrich AugustLudwig Nietzsche, foi reconhecido publicamentepor suas obras,21 em que propunha um rigoroso es-
18 NIETZSCHE, 1988, Primeira Dissertação, § 4.19 Ibid., Primeira Dissertação, § 17, nota.
20 Ibid., Prefácio, § 6.21 Cf. JANZ, 1987, p. 31.
Impulso_28.book Page 46 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 47
tudo racional dos textos bíblicos.22 O avô materno,o pastor David Ernest Oehler, orgulhava-se da suaimensa biblioteca, que continha livros com textosde teologia, filologia e dos exegetas germânicos mo-dernos, entre os quais Scheleirmacher e Carnap.Este universo cultural foi amplamente vivenciadopelo futuro filósofo, que passava longas temporadasna casa dos avós estudando a Bíblia como prepara-ção informal para ser pastor, como os avós e o pai.
Se desde a infância Nietzsche estudava a Bí-blia com o rigorismo criterioso da filologia, essa ba-gagem cultural foi influência decisiva na preferênciapela Escola Provincial de Pforta, onde prosseguiriaseus estudos. À época, ele já tinha um conhecimen-to diferenciado tanto da Bíblia quanto da formacomo os filólogos a estudavam.
O contato com o rigorismo do estudo de tex-tos bíblicos foi amplamente alimentado nos estudossecundários de Nietzsche em Pforta, uma escolabastante conceituada pela forte formação filológicanos estudos bíblicos23 e dos textos clássicos da cul-tura grega e romana, conforme afirma Janz: “O quePforta significou para Nietzsche é de maior peso noque diz respeito a sua evolução inteira. Aqui foramassentadas as bases extraordinariamente sólidas deseu conhecimento sobre a Antigüidade, esse conhe-cimento que iria determinar, em primeira esfera edurante muitos anos, a direção de sua filosofia”.24
A direção tomada pela filosofia de Nietzscheno primeiro período de suas obras foi justamente oestudo da cultura grega a partir da filologia, consa-
grada em O Nascimento da Tragédia. Foi, portanto,
durante os anos de 1858-1862 que se assentaram em
Nietzsche as sólidas bases filológicas de estudo dos
clássicos. Cito Janz: “Os bens culturais que Nietzs-
che teve em Pforta eram, pois, de natureza paradig-
maticamente literária e humanística. Chegou a co-
nhecer os autores fundamentais da Antigüidade
com uma profundidade pouco comum, tendo, ade-
mais, aprendido a lê-los e interpretá-los com uma
penetração e maestria filológica próprias de Pfor-
ta”.25
O estudo filológico acompanhou Nietzsche
em sua graduação na Universidade de Leipzig, entre
os anos de 1863 e 1869. Nesse período, pronunciou
na Sociedade Filológica fundada por seu mestre
Ritschi diversas conferências sobre Ésquilo, Home-
ro, Tucídides, Diógenes Laercio, Sófocles e os pré-
socráticos.26
Seus primeiros anos como professor da Uni-
versidade de Basiléia foram marcados notadamente
pelos cursos que ele ministrava e propunha, uma
profunda e rigorosa interpretação filológica dos di-
álogos de Platão.27 Graças a sua sólida formação,
pôde apropriar-se com maestria da filologia como
uma ferramenta de estudo, análise e interpretação.
Usando-a como um método de leitura dos textos
gregos clássicos, produziu textos que o alçaram à
condição de professor respeitado entre seus alunos.
Porém, utilizando novamente a filologia como mé-
todo, Nietzsche empreendeu, a partir da Escola de
Pforta, sua ruptura com o cristianismo e, em mea-22 Entre as obras, Janz destaca duas: Aportaciones al Desarrollo de un Pen-samiento Racional sobre Religion, Educación, Deberes de los Súbditos yAmor al Prójimo, de 1804, e Gamaliel, o la inextinguible duración del cristi-anismo para edificación y pacificación en el momento de inquietud que vivehoy el mundo teológico, de 1796. Cf. JANZ, 1987, pp. 30-31.23 O Colégio de Pforta foi, historicamente, um centro de estudos religio-sos de tradição católica e, posteriormente, protestante, como afirmaHalévy: “O Colégio de Pforta dista duas léguas de Naumburgo. Desde asorigens da Alemanha, houve mestres lecionando em Pforta. Um grupo demonges cistercienses, que no século XII deixaram o Ocidente latino paravirem instruir os nativos germanos ou eslavos e convertê-los ao Cristo,instalaram-se em pastagens dominadas, à direita e à esquerda, por colinasabruptas e cobertas de florestas à sombra das árvores. Ergueram ali essasedificações monásticas que vemos ainda hoje. (...) No século XVI, os bene-ditinos foram expulsos pelos revolucionários luteranos, mas o seu colégionão parou de funcionar. Pforta, transformada segundo os padrões do espí-rito novo, tornou-se um dos centros da Reforma cristã e científica. (...)Simultaneamente com a religião, aprenderam as três línguas sagradas, a deMoisés, o hebraico, a dos Evangelhos, o grego, a dos Padres, o latim”.HALÉVY, 1989, pp. 15-16.24 JANZ, 1987, p. 110.
25 Ibid., p. 70.26 Entre esses estudos de filologia sobre a cultura grega, podemos desta-car: em 1864, em Leipzig, Nietzsche realizou na Sociedade Filológica fun-dada pelo seu mestre e professor em Leipzig, Ritschi, uma conferênciasobre Teógnis, na qual foi ovacionado. Em 1866, fez um estudo sobreÉsquilo, a pedido de um amigo de Ritschi, Wilhelm Dinderf. Em 1867,seus interesses filológicos recaíam sobre questões homéricas, estudando acronologia dos épicos antigos. Ainda em 1867, Nietzsche realizou umapesquisa, que foi premiada, sobre as fontes de Diógenes Laércio. Em 1869,em sua aula inaugural na Basiléia, falou sobre Homero. Ainda em 1869proferiu duas conferências: História da Lírica Grega e Metódica Investiga-ção das Fontes da História dos Filósofos Pré-socráticos”. E, em 1870,enunciou duas palestras: O Drama Musical Grego e Sócrates e a Tragédia.Cf. HALÉVY, 1989.27 Entre 1871 e 1876, ministrou uma série de cursos a respeito da vida edos diálogos de Platão, que, na época, era seu objeto de estudo. Entre asobras estudadas, destacamos A República, Timeu, Fédon, O Sofista, As Leise Fedro. Sobre esse assunto, ver, p.e., NIETZSCHE, Introduction a la Lec-ture des Dialogues de Platon, Collection Polemos, Éditions de l’Éclat, 1991.
Impulso_28.book Page 47 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

48 impulso nº 28
dos da década de 80 do século XIX, procedeu à crí-tica mais severa que aquela religião já sofrera.
A crítica de Nietzsche ao cristianismo passapor uma crítica da ordem da linguagem, em funçãode sua formação filológica. Seu rompimento com areligião cristã dá-se na fase pueril, justamente no pe-ríodo de sua formação filológica, como afirma Salo-mé: “A primeira metamorfose que Nietzsche reali-zou em sua vida situa-se no crepúsculo de sua in-fância ou, pelo menos, de sua puberdade. É o rom-pimento com a fé da Igreja cristã”.28 Em 10 demarço de 1861, quando estudante em Pforta, ele eseu amigo P. Deussen recebem a confirmação pro-testante, mas a excitação causada por esse aconteci-mento não dura muito tempo justamente por causado método filológico de estudo da Bíblia, comomostra Deussen:
Recordo muito bem o estado de ânimo sa-grado florescendo sobre o mundo que nosembargava durante as semanas anteriores eposteriores à confirmação. Havíamo-nosdeclarados dispostos inclusive a entregarnossas vidas para estar com Cristo, e todosos nossos pensamentos, sentimentos e im-pulsos irradiavam uma felicidade supraterre-na, que não podia durar muito, suposto que,dada a sua condição de pequena planta arti-ficialmente cultivada, estava, a fé cristã, fada-da a murchar sob a pressão do estudo e davida cotidiana. (...) Pouco a pouco, foi-se fa-zendo crises de todos os tipos, por obra doexigente método histórico-crítico com quese tratava em Pforta os clássicos e que, demodo mais natural, viria a ser aplicado tam-bém, enfim, ao domínio bíblico.29
Em março de 1862, então com 17 anos e ain-da estudante em Pforta, Nietzsche escreve um textopara a Germânia intitulado Fatum e História, emque denunciava os dogmas do cristianismo comoconjecturais:
Se pudermos contemplar a doutrina cristã ea história das igrejas com os olhos isentosdos prejuízos, nos veríamos obrigados a ex-
pressar algumas conclusões opostas às idéiasgerais vigentes. Contudo, reduzidos desdenossos primeiros dias ao jugo dos costu-mes, freados pelas impressões da infância naevolução natural do nosso espírito e deter-minados pela formação de nosso tempera-mento, cremo-nos obrigados a considerarcomo um delito a eleição de um ponto devista mais livre desde e a partir do qual pos-samos emitir um juízo não partidarista e deacordo com os tempos sobre a religião e ocristianismo. (...) O desconsolador resulta-do tem sido uma infinita confusão de idéiasnos povos; grandes transformações haverãode ocorrer ainda para que a massa compre-enda que o cristianismo descansa sobre con-jecturas: a existência de deus, a imortalidade,a autoridade da Bíblia, a inspiração, e tantasoutras coisas que nunca deixaram de serproblemas.30
Essas críticas temporãs de Nietzsche ao cris-tianismo tiveram como cenário a formação filológi-ca em Pforta, que, com seu método crítico de estu-do da Bíblia, conduziu o filósofo a fazer severas crí-ticas àquela religião. Ao utilizar a filologia para isso,aproximou-a da filosofia, e aproximou, também, afilosofia da linguagem, uma vez que sua crítica aocristianismo se dá pelas vias da linguagem, matéria-prima da filologia.31
A filologia permitiu a Nietzsche olhar o cris-tianismo e sua doutrina moral sob o ponto de vistada linguagem, tomando a doutrina moral cristãcomo um discurso, uma forma de falar sobre Deus,pecado, salvação ou paraíso. A partir do olhar do fi-lólogo, o cristianismo é um texto, e se constituinuma forma de interpretação moral. Nesse sentido,o estatuto da interpretação é decisivo no século XIX,como afirma Foucault: “A partir do século XIX, os
28 SALOMÉ, 1992, p. 63.29 DEUSSEN, apud JANZ, 1987, pp. 82-83.
30 NIETZSCHE, Fatum e História, apud JANZ, 1987, pp. 86-87.31 Michel Foucault, na obra As Palavras e as Coisas, faz uma arqueologia dohomem e das ciências humanas tomando como primado evidenciar aordem das coisas que fundamentam o saber, do século XVI ao século XIX.A ordem que perpassa a construção do saber é o discurso. Para Foucault,Nietzsche foi, no século XIX, o primeiro a introduzir a linguagem comoesfera de análise crítica: “A linguagem só entrou diretamente e por si pró-pria no campo do pensamento no fim do século XIX. Poder-se-ia mesmodizer no século XX, se Nietzsche, o filólogo – e nisso também era ele tãoerudito, a este respeito sabia tanto e escrevia tão bons livros –, não tivessesido o primeiro a aproximar a tarefa filosófica de uma reflexão radicalsobre a linguagem”. FOUCAULT, 1990, p. 321.
Impulso_28.book Page 48 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 49
símbolos encadearam-se numa rede inesgotável etambém infinita não porque tenham repousadonuma semelhança sem limite, mas porque tinhamuma amplitude e uma abertura irredutíveis”.32 E éigualmente decisivo na filosofia nietzschiana: “Tam-bém em Nietzsche está claro que a interpretaçãopermanece sem acabar. O que é para ele a filosofiasenão uma espécie de filologia sem fim, que se de-senrola cada vez mais, uma filologia que não nuncaseria absolutamente fixada?”.33 Fica claro, então, se-gundo Foucault, que a filologia referenciou o filó-sofo a tomar a moral cristã como uma forma de in-terpretação. Porém, seguindo ainda Foucault, a in-terpretação implica a anulação de um ponto origi-nário que desencadearia a interpretação e, também,de um ponto final, de uma teleologia. Nesse senti-do, tudo seria interpretação: “Dessa mesma forma,Nietzsche apodera-se das interpretações que são jáprisioneiras umas das outras. Não há para Nietzs-che um significado original. As mesmas palavrasnão são senão interpretações”.34 A partir da demar-cação desse ponto, o cristianismo perde sua aura deverdade revelada, de universalidade; perde a oficiali-dade de seu discurso, pois se constitui, apenas, emmais uma forma de interpretação religiosa. Parece-nos que foi para esse diagnóstico que o caminharpela filologia conduziu Nietzsche. No texto Anti-cristo, ele nos dá uma definição de seu conceito defilologia:
Por filologia, em um significado muito ge-ral, se deve entender a arte de ler bem – desaber entender os fatos sem falseá-los cominterpretações, sem perder, no desejo decompreender, a cautela, a paciência, a fineza.Filologia como ephexis (indecisão) na inter-pretação: trate-se de livros, de curiosidadesjornalísticas, de destinos ou de fatos meteo-rológicos – para não falar da salvação da al-ma.35
Nessa perspectiva, a filologia constitui-senuma atividade de ler textos, sejam eles banais,como meteorologia, ou mais complexos, como o
texto bíblico que anuncia a salvação da alma. Nessamesma ótica, ainda, a filologia, entendida como aciência que estuda a construção lingüística de umacultura, proporcionou a Nietzsche as condiçõespara entender os dogmas do cristianismo apenascomo uma forma de falar; isto é, a salvação da alma,o paraíso, a vida eterna são meras construções da or-dem da linguagem. Em síntese, foi com o método fi-lológico de interpretação que pôde tomar o cristia-nismo como um texto, como uma construção in-terpretativa sem nenhum fundamento na realidade.Isso fica claro na seguinte passagem: “Nem a moralnem a religião, no cristianismo, têm algum ponto decontato com a efetividade. Somente causas imaginá-rias (‘Deus’, ‘Alma’, ‘eu’, ‘espírito’), somente efeitosimaginários (‘pecado’, ‘redenção’, ‘clemência’, ‘casti-go’, ‘remissão dos pecados’). Uma transação entreseres imaginários (‘Deus’, ‘espírito’, ‘almas’)”.36
Em outro texto, A Gaia Ciência, ele delimitaa atividade do filólogo: “Distribui livros sagrados atodo mundo, de tal modo que terminaram por cairnas mãos de filólogos, isto é, destruidores de todacrença que repousa em livros”.37 Assim, o métodofilológico deve recair sobre textos sagrados do cris-tianismo como matéria-prima para a análise. E foiesse método que lhe permitiu ler nas entrelinhas dodiscurso religioso a carga interpretativa que ele trazem seu bojo.
A filologia aparece como um método na filo-sofia nietzschiana no próprio sentido da ciência fi-lológica, uma vez que ela se constitui na arte de des-velar, nas entrelinhas do discurso moral e/ou religio-so, a forma com a qual foi construído o próprio dis-curso, esmiuçando o caráter arbitrário com que elefoi erigido historicamente. Nessa ótica, encontra-mos no texto Aurora o aforismo de título “A filolo-gia do cristianismo”, no qual se lê:
Quão pouco o cristianismo educa o sensode honestidade e da justiça. Eu posso avaliarmuito bem a característica dos escritos deseus sábios: eles expõem com tal segurançaas suas conjecturas como se fossem dog-mas, e raramente interpretam, de modo que
32 FOUCAULT, 1997, p. 20.33 Ibid., p. 21.34 Ibid., p. 23.35 NIETZSCHE, 1995, § 37.
36 Ibid., § 15.37 NIETZSCHE, 1999, § 358.
Impulso_28.book Page 49 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

50 impulso nº 28
um filólogo, ao perceber isto, fica entre acólera e o riso, e sempre pergunta: ‘Como épossível? É honesto tudo isso? É, pelo me-nos, decoroso?’.38
É essa a perspectiva de análise nietzschianacom o método filológico: o problema do cristianis-mo está na forma como foi construído, na formacomo sua moral, seus dogmas, suas crenças foraminterpretados.
Para Nietzsche, o cristianismo é uma religiãocriada a partir de uma forma de interpretar os valoresmorais, e, segundo ele, uma forma equivocada de in-terpretação: “Ao contrário, a história do cristianismo– desde o começo, isto é, da morte na cruz – é a his-tória de um mal interpretar, desenvolvido gradativa-mente sempre de maneira mais grosseira de umsimbolismo originário”.39 Nessa linha, a filologia iráapontar exatamente que o cristianismo é uma máinterpretação moral, é um discurso moral errado.
Ao tomar a filologia como método para in-terpretação e crítica do cristianismo, o filósofo as-sume uma posição frente à religião, ou seja, o lugarde onde faz a crítica ao cristianismo é o da lingua-gem, pois é desse lugar que a filologia o instru-mentalizou para empreender sua crítica.
A crítica nietzschiana ao cristianismo pela viada linguagem vinda da filologia perpassou toda suaobra. Assim, no Anticristo, lemos: “O modo comoum teólogo, não importa se em Berlim ou em Ro-ma, interpreta uma ‘palavra da Bíblia’ (...) é sempreousado, de tal forma que coloca um filólogo no ápi-ce da agitação”.40 É exatamente pelo teor da inter-pretação do teólogo que Nietzsche o classifica deuma má interpretação: “Perdoe-me este velho filó-logo, que não pode resistir à maldade de pôr o dedosobre arte-de-interpretação ruim...”.41 É com essainterpretação ruim do teólogo que o bom filólogofica agitado, uma vez que é ele quem vai des-cons-truir o discurso do teólogo, é ele quem vai apontarque os dogmas apregoados pelo cristianismo sãosimples discursos conjecturais. Em outro texto, noCrepúsculo dos Ídolos, encontramos:
O juízo moral tem em comum com o juízoreligioso a crença em realidades que nãoexistem. A moral é tão somente uma inter-pretação de determinados fenômenos, ou,para falar com maior precisão, uma falsa in-terpretação. Semelhante ao juízo religioso, ojuízo moral é relativo a um grau de ignorân-cia em que falha até mesmo a noção de real,a distinção entre o real e o imaginário.42
Fica claro na citação que, munido do referen-cial da ciência filológica, Nietzsche pôde afirmarque o cristianismo é tão somente um tipo de inter-pretação e, mais ainda, uma falsa interpretação, umainterpretação que não possui nenhum critério deverdade. Da constatação da arbitrariedade dos juí-zos e dos discursos do cristianismo, afirma no ParaAlém do Bem e do Mal: “Não poderia o filósofo ele-var-se acima da credulidade da gramática”.43 Tal ele-vação do cenário da linguagem é estritamente neces-sária, já que as crenças religiosas repousam sobreuma forma de interpretação e construção lingüísti-ca. Logo, as crenças não possuem nenhum funda-mento, mas são crenças num discurso religioso,uma vez que Deus, alma, paraíso, vida eterna sãoidéias, são falas que recebemos como herança cultu-ral. Nesse contexto, ele afirma no Crepúsculo dosÍdolos: “Temo que não nos desvencilharemos dedeus porque ainda acreditamos na gramática...”.44
Este é o ponto central da crítica filológica de Niet-zsche: Deus é um discurso, é uma idéia historica-mente construída, é um amontoado de palavras semqualquer referência com o real, ou seja, Deus é umainvenção, uma construção discursiva fundada numainterpretação de idéias.
Para que a crítica ao cristianismo seja efetiva,cabe ainda uma reflexão: se Deus, o cristianismo eseus dogmas são meras construções lingüísticas, sesão discursos morais, se são amontoados de palavrasarbitrariamente organizadas, fica uma pergunta:quem pronunciou tal discurso? Quem foi o respon-sável pela construção do discurso cristão? Quem foio responsável, por meio da linguagem, por inventara idéia de Deus, a idéia de paraíso, de alma e de vida
38 Idem, 1981, § 84.39 Idem, 1995, § 37.40 Ibid., § 52.41 Idem, 1999, § 22.
42 NIETZSCHE, 1995, Os Melhoradores da Humanidade, § 1.43 Idem, 1999, § 34.44 Idem, 1995, A Razão na Filosofia, § 5.
Impulso_28.book Page 50 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 51
eterna? Essas questões não constituem o campo dafilologia, pois ela apenas constata a arbitrariedade dodiscurso religioso. Destarte, o método nietzschianode crítica ao cristianismo pressupõe um segundomomento: o da genealogia. Nesse sentido, o pontocrucial da crítica consiste, além da constatação dasvariadas interpretações que os conceitos abarcam,no apontamento do responsável pelo discurso tor-nado oficial, como afirma Foucault em As Palavrase as Coisas: “Para Nietzsche, não se tratava de sabero que eram em si mesmos o bem e o mal, mas quemera designado, ou antes, quem falava”.45 Assim, di-zer o que é Deus, pecado, salvação, alma, é apenasum ponto da crítica. Uma vez que o discurso estádado e a interpretação se universalizou, ficar só naconstatação da arbitrariedade das interpretações éperder o senso histórico. Para ele, a crítica se efeti-vará ao apontar quem interpretou, passando, assim,para a genealogia. Em última instância, se a filologiase caracteriza pelo des-velamento do discurso reli-gioso, ou seja, se revela a forma como foi construídoo discurso cristão, a genealogia se propõe a respon-der uma outra pergunta: quem construiu esse dis-curso religioso, isto é, que tipo de homem fundou odiscurso cristão para efetuar a dominação? Assim, apergunta básica da genealogia é: quem fala? É comessa pergunta que Nietzsche se metamorfoseia defilólogo para genealogista, e sua efetiva crítica aocristianismo se dá no final de sua vida, exatamenteno terceiro período de sua produção filosófica.
A GENEALOGIA
Tomando novamente Foucault como refe-rência dialógica, vemos que a genealogia aparececomo uma instância em que o des-velamento dodiscurso irá sublinhar o processo de formação dodiscurso. A genealogia também toma o discursocomo objeto, não mais para apontar suas arbitrarie-dades, mas para indicar os tortuosos caminhos deconstrução da fala oficial. Em A Ordem do Discurso,Foucault conceitua a genealogia: “Quanto ao aspec-to genealógico, este concerne à formação efetivados discursos, quer no interior dos limites do con-trole, quer no exterior, quer, a maior parte das vezes,
de um lado e de outro da delimitação. (...) A gene-alogia estuda sua formação ao mesmo tempo dis-persa, descontínua e regular”.46 Um pouco maisadiante, no mesmo texto, aponta, pela genealogia, opoder intrínseco de quem constitui os domínios so-bre o objeto, ou seja, de quem define o que o objetoé: “A parte genealógica da análise se detém, em con-trapartida, nas séries da formação efetiva do discur-so: procura apreendê-lo em seu poder de afirmação,e por aí entendo não um poder que se oporia ao po-der de negar, mas o poder de constituir domínios deobjetos, a propósito dos quais se poderia afirmar ounegar proposições verdadeiras ou falsas”.47
É neste sentido da genealogia apontada porFoucault que Nietzsche, usando-a, irá constatar quefoi Paulo quem exerceu o domínio sobre o cristia-nismo afirmando a verdade e a falsidade sobreDeus, pecado, alma, paraíso. Conceituando a gene-alogia, Foucault, no capítulo “Nietzsche, a Genea-logia e a História” da Microfísica do Poder, afirma:
A genealogia é cinza;48 ela é meticulosa e pa-cientemente documentária. Ela trabalhacom pergaminhos embaralhados, riscados,várias vezes reescritos (...) para a genealogia,um indispensável demorar-se; marcar a sin-gularidade dos acontecimentos, longe detoda finalidade monótona; espreitá-lo láonde menos se os esperava e naquilo que étido como não possuindo história – os sen-timentos, o amor, a consciência, os instin-tos; aprender seu retorno não para traçar acurva lenta de uma evolução, mas para reen-contrar as diferentes cenas onde eles desem-penharam papéis distintos...49
Mais adiante, lemos: “A genealogia não seopõe à história como a visão altiva e profunda do fi-lósofo ao olhar de toupeira do cientista; ela se opõe,ao contrário, ao desdobramento meta-histórico dassignificações ideais e das indefinidas teleologias. Ela
45 FOUCAULT, 1990, p. 321.
46 FOUCAULT, 1998, pp. 65-66.47 Ibid., pp. 69-70.48 Cf. o Prefácio da Genealogia da Moral, em que Nietzsche afirma: “Poisé óbvio que uma outra cor deve ser mais importante para um genealogistada moral: o cinza, isto é, a coisa documentada, o efetivamente constatável,o realmente havido, numa palavra, a longa, quase indecifrável escrita hiero-glífica do passado moral humano”. NIETZSCHE, 1988, Prefácio, § 07. 49 FOUCAULT, 1995, p. 15.
Impulso_28.book Page 51 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

52 impulso nº 28
se opõe à pesquisa da ‘origem’”.50 A genealogia, naótica nietzschiana, não deve ir em busca da origemdos acontecimentos, mesmo porque não existe umaorigem, um elemento detonador dos fatos, mas, aocontrário, todos os fatos abarcam interpretações. Oque a genealogia busca é a transformação que a rea-lidade sofreu, ou seja, o importante é o processo deconstrução da realidade, pois a origem é um mito, émetafísica:
Por que Nietzsche genealogista recusa, pelomenos em certas ocasiões, a pesquisa da ori-gem (Ursprung)?51 Porque, primeiramente,a pesquisa, nesse sentido, se esforça para re-colher nela a essência exata das coisas, suamais pura possibilidade, sua identidade cui-dadosamente recolhida em si mesma, suaforma imóvel e anterior a tudo o que é ex-terno, ‘o que era imediatamente’, o ‘aquilomesmo’ de uma imagem exatamente ade-quada a si; é tomar por acidental todas as pe-ripécias que puderam ter acontecido, todasas astúcias, todos os disfarces; é querer tirartodas as máscaras para desvelar enfim umaidentidade primeira. Ora, se o genealogistatem o cuidado de escutar a história em vezde acreditar na metafísica, o que é que eleaprende? Que atrás das coisas há ‘algo ime-diatamente diferente’: não seu segredo es-sencial e sem data, mas o segredo que elassão sem essência, ou que sua essência foi
construída peça por peça a partir de figurasque lhe eram estranhas.52
O genealogista vira as costas para o sentidohistórico dos acontecimentos, para a lei que rege ahistória, pois a história é feita de abalos, de lutas porimposições de uma interpretação sobre uma supos-ta origem verdadeira. Afirmar que a origem está nacriação do homem por Deus é, para Nietzsche, semimportância, pois é um contra-senso histórico que agenealogia denuncia. Na verdade, o fundamental é aconstatação do processo de luta pela universalizaçãodesse discurso.
Nesse mesmo texto, Foucault caracterizou agenealogia nietzschiana como uma análise da prove-niência (Herkunft) e a história da emergência (En-testehung).
Termos como Entestehung ou Herkunft mar-cam melhor do que Ursprung o objeto pró-prio da genealogia. São ordinariamente tra-duzidos por ‘origem’, mas é preciso tentar areconstituição de sua articulação própria.Herkunft é o tronco de uma raça, é a prove-niência, é a antiga pertinência a um grupo –de sangue, de tradição, de ligação entre aque-les da mesma altura ou da mesma baixeza.Freqüentemente a análise da Herkunft põeem jogo a raça ou o tipo social.53
Dessa forma, segundo Nietzsche, a proveniên-cia irá apontar que os valores cristãos foram cons-truídos por um modo escravo de fundar valores, ouseja, a raça que inventou o cristianismo é a raça dosescravos. Por outro lado, a emergência caracteriza-se pela luta na imposição de uma forma de valorar;é o processo de luta entre o nobre e o escravo pelaimposição do valor moral. Cito Foucault: “Entes-tehung designa de preferência a emergência, o pontode surgimento. É o princípio e a lei singular de umaparecimento. (...) A emergência se produz sempreem um determinado estado das forças”. E Foucaultconclui: “A emergência é, portanto, a entrada, é a in-terrupção (...)”.54 Assim, a emergência analisa oafrontamento entre as forças, a guerra, o combate
50 Ibid., p. 16.51 Foucault, na parte II do texto “Nietzsche, a Genealogia e a História”demarca, nas obras de Nietzsche Humano, Demasiado Humano, de 1878,e Genealogia da Moral, de 1887, o uso de dois termos distintos do alemãopara designar um mesmo problema: a origem dos conceitos morais. Aalternância desses dois termos é precedida pelos objetivos do filósofo, ouseja, sobre que tipo de origem dos valores morais ele deseja refletir. Assim,encontramos o termo Ursprung quando deseja falar sobre a origem, nosentido ideal ou metafísico, dos conceitos morais. Cito Foucault: “Urs-prung é também utilizado de uma maneira irônica e depreciativa. Em que,por exemplo, consiste este fundamento originário (Ursprung) da moralque se procura em Platão? (...) Ou ainda: onde é preciso procurar essa ori-gem da religião (Ursprung) que Schopenhauer situava em um certo senti-mento do além?”. FOUCAULT, 1995, p. 16. Esse sentido do uso dotermo Ursprung (origem) é usado por Nietzsche ao apontar a pesquisa daorigem dos valores morais cristãos feita por um não genealogista, p.e.,quando o padre cristão vai reconstruir a origem da moral cristã. De outromodo, quando deseja falar da origem da moral no sentido da genealogia,Foucault demarca que Nietzsche utiliza outro termo, Herkunft. Cito Fou-cault: “Um dos textos mais significativos do uso de todas estas palavras edos jogos próprios do termo Ursprung é o prefácio de Para Genealogia daMoral. O objeto da pesquisa é definido no início do texto como a origemdos preconceitos morais; o termo então utilizado é Herkunft”. FOU-CAULT, 1995, p. 17.
52 FOUCAULT, 1995, pp. 17 e 18.53 Ibid., p. 20.54 Ibid., pp. 23-24.
Impulso_28.book Page 52 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 53
pela imposição da vontade. Nesse sentido, a emer-
gência é a luta do escravo e também é a luta do no-
bre pela imposição da forma de avaliar. Nesse cená-
rio da genealogia é que Nietzsche irá apontar a du-
plicidade da moral, no Para Além de Bem e Mal:
“Numa perambulação pelas muitas morais, as mais
finas e as mais grosseiras, que até agora dominaram
e continuam dominando na terra, encontrei certos
traços que regularmente retornam juntos e ligados
entre si; até que finalmente se revelaram dois tipos
básicos, e uma diferença fundamental sobressaiu. Há
uma moral dos senhores e uma moral dos escravos”.55
Retomando uma passagem do Prefácio da
Genealogia da Moral anteriormente citada, Nietzs-
che aponta que sua tarefa genealógica consiste em
des-velar as formas nas quais se fundaram os discur-
sos morais: “(...) finalmente uma nova exigência se
faz ouvir. Enunciemos esta nova exigência; necessi-
tamos de uma crítica dos valores morais, começan-
do a colocar uma vez em questão o valor mesmo
desses valores – e para tal propósito é necessário o
conhecimento das condições e circunstâncias em
que nasceram, sob as quais desenvolveram e modi-
ficaram-se”.56
É essa a tarefa de Nietzsche em sua crítica ao
cristianismo: des-velar a contingência dos valores
morais cristãos e apontar quem fundou o discurso
moral da religião cristã. Se a filologia lhe permitiu
apontar que os valores morais são frutos de inter-
pretações, ela é limitada no sentido de não tornar
possível verificar as condições históricas do surgi-
mento dos valores. Assim, a genealogia consiste no
segundo momento da crítica ao cristianismo, uma
vez que ela possibilitou ao filósofo apontar as forças
operantes no processo de construção dos valores
cristãos.
Na perspectiva de Nietzsche, é tarefa da ge-
nealogia apontar quem efetuou essa má interpreta-
ção moral. Segundo ele, cabe ao apóstolo Paulo a
responsabilidade por essa interpretação, porque,
consoante a genealogia, interpretou e fundou os va-
lores morais do cristianismo:
A “boa notícia” foi seguida rente aos calca-nhares pela pior de todas: a de Paulo. EmPaulo toma corpo o tipo oposto ao porta-dor da “boa notícia”, o gênio no ódio, na vi-são do ódio, na inexorável lógica do ódio. Oque esse disangelista não ofereceu em sacri-fício ao ódio! Antes de tudo, o redentor, eleo pregou em sua cruz. A vida, o exemplo, oensinamento, a morte, o sentido e o direitodo Evangelho inteiro – nada mais existia,quando esse moedeiro falso por ódio lançoumão somente daquilo que podia aproveitar.57
Assim, o cristianismo é uma construção mo-ral manifestado num discurso fundado pelo homemPaulo. Portanto, o cristianismo é a religião de Paulo,pois foi ele quem interpretou e construiu o discursomoral cristão. Na leitura nietzschiana, Paulo “falsi-ficou a história de Israel mais uma vez para fazê-laaparecer como a pré-história de seu feito: todos osprofetas falaram de seu ‘redentor’... A Igreja falsifi-cou mais tarde até mesmo a história da humanidadeem pré-história do cristianismo”.58 Nesse cenário,Paulo reinterpretou o cristianismo do fundadorcom o objetivo de domínio, de tornar universal asua forma de interpretar os valores morais, comoafirma Nietzsche:
Paulo simplesmente deslocou o centro degravidade daquela inteira existência para trásdesta existência – na mentira do Jesus ressus-citado. No fundo, simplesmente não podiaaproveitar a vida do redentor – ele necessi-tava da morte na cruz e de algo mais ainda.(...) Sua necessidade era a potência; comPaulo, queria o padre, mais uma vez, chegarà potência – só podia aproveitar conceitos,ensinamentos, símbolos, com os quais se ti-ranizam massas, se formam rebanhos.59
Este era o objetivo de Paulo ao construir odiscurso moral/cristão: fundar o rebanho e exercero domínio sobre ele, impondo sua forma de inter-pretar. Para Nietzsche, portanto, Paulo encarna aforma escrava de interpretar os valores morais. Aofundar o cristianismo como a religião do rebanho,
55 NIETZSCHE, 1999, § 260.56 Ibid., § 260.
57 Idem, 1995, § 42.58 Ibid., § 42.59 Ibid., § 42.
Impulso_28.book Page 53 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

54 impulso nº 28
primou pela degeneração do homem, ao criar os
ideais morais do cristianismo. Dessa forma, é o pró-
prio representante da revolta escrava, na moral efe-
tivada na fundação da religião cristã baseada na for-
ma paulina de interpretação: “O cristianismo tem
sua base na rancor dos doentes e no instinto contra
os sadios, contra a saúde. Todo o bem formado, or-
gulhoso, soberbo, a beleza, antes de tudo, molesta-
lhe o ouvido e os olhos. Recordo outra vez as ina-
preciáveis palavras de São Paulo: ‘Deus escolhe o
que é fraco perante o mundo, o que é insensato pe-
rante o mundo, o que é ignóbil e desprezado’
(...)”.60
Sob essa perspectiva, foi Paulo quem colocou
na boca de Deus que ele escolhe os fracos, os mal-
nascidos, os doentes e pobres de espírito, pois foi o
apóstolo quem inventou esse deus que prima pela
fraqueza e pela resignação. Isto fica claro no Anti-
cristo: “O conceito cristão de Deus – Deus como di-
vindade dos enfermos, Deus como aranha, Deus
como espírito – é um dos mais corrompidos con-
ceitos de Deus que se tenha obtido na terra”.61 Esse
conceito de Deus é uma improbidade cristã justa-
mente porque é a forma de Paulo interpretar a idéia
de Deus. Cito Nietzsche:
Paulo compreendeu que a mentira – que “a
crença” era necessária: a Igreja, mais tarde,
compreendeu, por sua vez, Paulo. Aquele
“Deus” que Paulo inventou para si, um deus
“que envergonha a sabedoria do mundo”
(...) é, na verdade, somente a resoluta deci-
são de Paulo a chamar “Deus” sua própria
vontade. (...) Paulo quer envenenar “a sabe-
doria do mundo”; seus inimigos são os bons
filólogos e médicos.62
Para finalizar, gostaria de chamar a atenção
sobre a última frase de Nietzsche: os inimigos de
Paulo, ou seja, os inimigos dessa interpretação mo-
ral, são os bons filólogos, justamente porque é pela
filologia que se pode desconstruir a forma paulina
de interpretação moral.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
À guisa de conclusão, tomo uma passagem
do texto A Gaia Ciência:
Nunca ouviram falar de um louco que em
pleno dia acendeu sua lanterna e pôs-se a
correr no mercado gritando sem cessar: “–
Procuro Deus! Procuro Deus!”. Como lá se
encontravam muitos que não acreditavam
em Deus, suscitou grandes gargalhadas. “–
Está talvez perdido?”, disse um. “– Está per-
dido como uma criança?”, perguntou outro.
“– Ou estará escondido? Terá medo de nós?
Terá partido?”, gritavam e riam todos da
grande confusão. O louco saltou em meio a
eles e transpassou-os com seu olhar: “–
Onde anda Deus?”, gritou. “– Vou lhes di-
zer! Nós o matamos: vós e eu! Somos to-
dos nós seu assassino! Mas como fizemos
isto? Como pudemos esvaziar o mar até a
última gota? Quem nos deu a esponja para
apagar o horizonte inteiro? Que fizemos
quando desprendemos a corrente que ligava
a terra ao sol? Para onde que se move agora?
Para onde nós vamos? Longe de todo sol?
Não é nosso eterno cair? Para a frente, para
trás, para o lado, para todos os lados? Ha-
verá ainda um em cima e um em baixo?
Não erramos como através de um nada in-
finito? Não sentimos na face o sopro do va-
zio? Não fará mais frio? Não seguirá a vir
noites, cada vez mais noites? Não devere-
mos acender lanternas durante a manhã?
Não escutamos ainda o ruído dos coveiros
que enterram Deus? Não sentimos ainda o
cheiro da putrefação divina? Os deuses
também se decompõem! Deus morreu!
Deus continua morto! E nós o mata-
mos!”63
Nietzsche, através do louco, anuncia a morte
de Deus.64 Dado este fato, cabem perguntas: como
é possível assassinar Deus, sendo ele todo podero-
60 Ibid., § 18.61 Ibid., § 18.62 Ibid., § 18.
63 Idem, 1999, § 125.64 No Assim Falou Zaratustra, Nietzsche também usou de um persona-gem para proclamar a morte de Deus. Nesste texto, é Zaratustra, no Pre-âmbulo, quem anuncia que Deus está morto: “Noutros tempos, o pecadocontra Deus era o maior dos pecados; mas Deus morreu, e com ele morre-ram tais pecados”. NIETZSCHE, 1997, Preâmbulo de Zaratustra, § 3.
Impulso_28.book Page 54 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 55
so? Como é possível matar Deus se ele não é umente material?
O ponto central desta questão é exatamenteisso: é possível, sim, o assassinato de Deus, na medi-da em que ele se constitui num discurso, numa for-ma de interpretação; assim, a morte de Deus é pos-sível quando Deus for uma idéia construída por umaforma de interpretação. É a esse resultado que o ca-minhar de Nietzsche pela ciência filológica chegou.
Retomando a passagem: os homens foram osresponsáveis pela morte de Deus porque foram oshomens os criadores de Deus. Assim, Deus é a ma-terialização de uma idéia humana, demasiada huma-na. Sendo os homens os criadores de Deus atravésde um discurso tornado oficial, somente eles po-dem ser seus assassinos. Independente do peso daeliminação da idéia de Deus em nossa consciência,como bem apontou o louco, o homem é plenamen-te livre para tal ato. No final desta mesma citação,Nietzsche escreve: “Conta-se ainda que esse loucoentrou, neste mesmo dia, em diversas igrejas e en-toou seu Requiem aeternam Deo. Expulso e interro-gado, disse que era limitado a responder invariavel-mente deste modo: ‘De que servem estas igrejas sesão tumbas e monumentos de Deus?’”.65
Nessa passagem, Nietzsche conduz o loucoaté as igrejas. Uma vez assassinado Deus, as igrejassão os sepulcros de Deus. Mas, por que na igreja?Para o filósofo, Paulo foi o responsável pela inter-pretação cristã de Deus, sendo o grande fundadordo cristianismo. Ora, o apóstolo precisava tornaruniversal e aceita por todos a sua forma de idealizar
Deus, e as igrejas foram, exatamente, o meio eficaz,pois até hoje os homens vão até elas. Desta forma,conseguiu que a sua “boa-nova” fosse a “boa-nova”para todos.
A aplicação do método genealógico de buscapela “origem” do cristianismo conduziu Nietzscheaté a figura de Paulo. Para Nietzsche, o Deus cristãoé o Deus de Paulo, um Deus metafísico.66 E a igrejafundada por Paulo é o sepulcro de um Deus ausen-te, distante, que torna a vida humana um martíriopelo sentimento de culpa, remorsos e arrependi-mentos pelo pecados cometidos contra esse Deus.No entender do filósofo, essa igreja tornou a vidahumana um fardo, na medida em que concebeu oshomens como seres desafortunados, que precisamexpiar seus pecados para alcançar, não nesta vidaterrena marcada pelo sofrimento, a vida plenano paraíso. Para Nietzsche, este é o maior erro dareligião de Paulo: negar os homens, negar a vida naterra. Ao negar os homens e a vida terrena, o cristia-nismo tornou-se o maior inimigo dos homens. Aomatar aos poucos e muito lentamente a vida huma-na, a igreja tornou-se a tumba de Deus, do Deusconcebido por Paulo e que ama não a vida, mas amorte; que não deseja a felicidade humana, mas umavida de expiações e arrependimentos; que não eno-brece os homens, mas torna-os seres malogrados eressentidos.
Referências BibliográficasAGOSTINHO. De Magistro. Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
ANDREY, M.A. et al. Para Compreender a Ciência. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo/Educ, 1988.
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1987.
BACON, F. Novum Organum. Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
DESCARTES, R. Régles pour la Direction de l’ Esprit. Paris: Librairie Philosophique J. Vein, 1990.
__________. Discurso do Método. Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1987.
FOUCAULT, M. A Ordem do Discurso. São Paulo: Edições Loyola, 1998.
65 NIETZSCHE, 1999, § 125.
66 Paulo era um conhecedor da filosofia de Platão e, para Nietzsche, o cris-tianismo paulino era a aplicação na religião da metafísica platônica. Isso ficaclaro no Prólogo de Além do Bem e do Mal: “Mas a luta contra Platão, ou,para dizê-lo de modo mais simples e para o ‘povo’, a luta contra a pressãocristã-eclesiástica de milênios – pois o cristianismo é o platonismo para o‘povo’ (...)”. NIETZSCHE, 1999, Prólogo.
Impulso_28.book Page 55 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

56 impulso nº 28
__________. Nietzsche, Freud e Marx. São Paulo: Princípio, 1997.
__________. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1995.
__________. As Palavras e as Coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1990.
GEFFRÉ, C. et al. Nietzsche e o Cristianismo. Petrópolis: Vozes, 1981.
HALÉVY, D. Nietzsche: uma biografia. Rio de Janeiro: Campus, 1989.
JANZ, C.P. Nietzsche: infancia y juventud. Madri: Alianza, 1997.
KAUFMANN, W. Nietzsche Philosopher, Psychologist,Antichrist. New Jersey: Princeton University Press, 1974.
NIETZSCHE, F. Cosí Parló Zarathustra. Milão: Arnoldo Mondadori Editore, 2000.
__________. Além do Bem e do Mal. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
__________. La Gaia Scienza. Milão: Arnoldo Mondadori Editore, 1999.
__________. Crepusculo degli Idoli. Milão: Arnoldo Mondadori Editore, 1995.
__________. L’Anticristo. Milão: Arnoldo Mondadori Editore, 1995.
__________. Genealogia da Moral. São Paulo: Brasiliense, 1988.
__________. Obras Incompletas. Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1983.
__________. Aurora. Milão: Arnoldo Mondadori Editore, 1981.
PLATÃO. Sofista. Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1987.
SALOMÉ, L.A. Nietzsche em suas Obras. São Paulo: Brasiliense, 1992.
Impulso_28.book Page 56 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 57
HISTÓRIA E VERDADE:do absolutismo ascético à ascese do relativismoHISTORY AND TRUE: from asceptic absolutism to the ascesis of relativism
Resumo Neste artigo aprecia-se brevemente o perspectivismo filosófico que Nietzsche
delineou como resposta ao historicismo. Sublinha-se a atualidade do seu diagnóstico,
em vários aspectos gnosiológicos e, sobretudo, éticos e axiológicos. Porém, sustenta-
se que Nietzsche errou ao encerrar-se nas malhas do “eterno retorno”, negando toda
a possibilidade de escolha deliberada ou de ação livre, e que a sua visão do futuro, não
reconhecendo um terceiro termo entre o individualismo exacerbado e a frivolidade da
vida quotidiana, se conservou nos limites do niilismo que se propôs superar, por não ter
sido capaz de lidar adequadamente com as idéias de verdade e de justiça num horizonte
de relatividade histórico-cultural. Em contraponto, insinua-se que os desafios do pre-
sente, apreendidos à luz de um racionalismo que não ignora a matriz intersubjectiva de
que nasce, são suficientes para contrabalançar a atração solipsista do “espírito puro” e
o risco de despersonalização decorrente da massificação e do consumismo.
Palavras-chave NIETZSCHE – HISTORICISMO – IDEOLOGIA – COTIDIANO – RELA-
TIVISMO – RACIONALISMO.
Abstract In this article we briefly appreciate the philosophic perspectivism that Ni-
etzsche delineated as a response to historicism. We note the relevance of his diagnosis
in various gnosiological as well as ethical and axiological aspects. However, we hold
that Nietzsche made the mistake of falling into the trap of the “eternal return,” the-
reby denying any possibility of deliberate choice or free action and that his vision of
the future, by not recognizing a third term between exacerbated individualism and
the frivolity of every-day life, was kept within the limits of nihilism that he proposed
to overcome. Therefore, he was not able to deal adequately with the ideas of truth and
justice within a horizon of historic and cultural relativity. On the other hand, it is in-
sinuated that the challenges of the present learned through the light of rationalism,
that does not ignore the intersubjective matrix from where it came, is sufficient to
counterbalance the solipsistic attraction of the “pure spirit” and the risk of deperso-
nalization current in the mass society and in consumerism.
Keywords NIETZSCHE – HISTORICISM – IDEOLOGY – EVERY-DAY LIFE – RELATI-
VISM – RATIONALISM.
JOSÉ JOÃO
PINHANÇOS DE BIANCHI
Doutor em Ciências da Educação,coordenador do Departamento
de Ciências da Educaçãoda Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro (Portugal)[email protected]
Impulso_28.book Page 57 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

58 impulso nº 28
Longe de acreditar que não há nada em que acreditar, eleacreditava unicamente que é necessário acreditar em maiscoisas do que se imaginam ao princípio.
CLAUDE ROY1
História, como grande narrativa da gênese e da evoluçãodo mundo e da humanidade, é uma das traves mestrasdas tradições construídas ou inventadas pelas sociedadesna fundação de uma auto-imagem coletiva, nomeada-mente daquelas que se exprimem em religiões (ou quase-religiões) assentes em livros (as literaturas védica, bramâ-nica, upanishádica, budista, jainista, confucionista, taois-ta, as sagas eslavas e escandinavas, o Talmude, o Alcorão,
a Bíblia...) que se apresentam como explicações comosgónicas e lugares de ex-plicitação do sentido da existência humana.
Como nos lembrou Karl Jaspers, a tradição européia “afunda as suasraízes no pensamento cristão da história como plano de salvação”,2 em cujoâmbito todas as épocas da existência mundana se dissolvem numa intempo-ralidade expectante dos últimos dias, os dias da Redenção, suspendendo o de-vir histórico: “Suas viragens eram, quanto ao passado, do domínio do inex-plorável (o Pecado de Adão, a Revelação de Moisés e a eleição do povo ju-daico, as Profecias) ou, como futuro, o termo escatologia”.3
A partir do século XVI, todavia, a mentalidade científica fez-se acom-panhar de uma “consciente secularização da existência humana (...) que, noséculo XVIII, atinge o seu apogeu”.4
O século XVIII, o “século das luzes”, ao conceber a história como ciência– ao procurar trazer a história do plano transcendente, do sagrado, para o pla-no imanente, da razão e da experiência –, propô-la como autoconsciência daaventura da vida do homem. Redefinido o seu ponto de partida, “o caminhoque antes conduzira à escatologia, ao juízo final, parecia agora levar à plenitudeda civilização”.5
Longinquamente herdeiro da visão platônica de um elegante quadro deformas perfeitas e perfeitamente ordenadas, e imediatamente alicerçado nascartesianas clareza e distinção ou nos princípios kantianos, pressupostamenteprévios a toda experiência, o Iluminismo procurou descortinar na cadeia dosacontecimentos um fio condutor, uma racionalidade capaz de localizar a in-terpretação dos fatos históricos no domínio do averiguável, daquilo que sepode submeter ao escrutínio da razão e à prova documental.6
1 ROY, 1958, p. 58.2 JASPERS, 1968, p. 13.3 Ibid., p. 14.4 Ibid., p. 15.5 Ibid., p. 15.6 Cf. GARDINER, 1974, pp. 3-9.
AAAA
Impulso_28.book Page 58 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 59
Conceptualmente, o programa iluminista or-ganizou-se em torno de um critério de inteligibili-dade, segundo o qual as sociedades aparecem comoconjuntos organicamente interligados e cujos pro-cessos de mudança ocorrem em direção a estadosde sucessivamente acrescida auto-suficiência ou nocaminho de tensões e de impasses que desembocamna sua substituição por novas formas organizativas,mais profícuas e estáveis.7 No seu cerne, está, por-tanto, uma idéia de progresso,8 a “primeira ideologiamoderna, o primeiro dogma ‘científico’ da históriahumana”,9 que continuou a alimentar o pensamen-to historicista do século XIX, como se constata emHegel10 (o processo de desenvolvimento do espíri-to, na senda da auto-consciência), em Marx11 (oprocesso de desenvolvimento da sociedade, no tri-lho da justiça e da igualdade), em Darwin e emSpencer12 (o processo de desenvolvimento das es-pécies e dos grupos, na via seletiva dos mais aptos).
Metodologicamente, a perspectiva origináriadas Luzes orientou-se, pela vigilância historiográfica– a crítica minuciosa das fontes, a atenta exegese dosdocumentos, o rigor hermenêutico –, para a produ-ção nomotética que culminaria na atitude positivista(em Comte, de certo, mas também, em geral, naHistória Científica, que desde então se constituiuem disciplina escolar, e para a qual o conhecimentohistórico depende do fluir dos acontecimentos pre-téritos segundo uma linha necessariamente conver-gente no presente).13
Resumindo, diremos que a compreensão daHistória passou de uma aceitação da ordem divina,transcendente e desligada da ordem vivenciada, para
a atribuição de uma ordem imanente, presente nopróprio desenrolar da vida e dos eventos.
No primeiro momento, importava sair da ca-verna das impuras e obscuras ilusões dos sentidospara alcançar o luminoso entendimento de desígniossuperiores: um caminho de ascese – de ascensão e depurificação – procurando o Absoluto.
No segundo momento, à confiança no incog-noscível, substitui-se a fé no conhecimento, a crençade que o que ilumina, o que esclarece, é a Razão; acrença de que as coisas, se cuidadosamente perscru-tadas, são evidentes, têm, em si mesmas, a razão su-ficiente da sua existência e das suas transformações,são inteiramente abarcáveis pela inteligência. Apa-rentemente, a compreensão é trazida para o campodo humano, do que, como tudo o que é humano, éinstável e contigente. Mas, afinal, a Razão, com mai-úscula, permanece acima do vivido, intangível e in-temporal, preenchendo o vazio deixado por outroAbsoluto.
Feitas bem as contas, como sublinhou KarlPopper, a idéia iluminista de que a vida humana pro-gride racionalmente, permitindo antever o que o fu-turo nos reserva, é apenas uma metamorfose do ve-lho sonho “de que a história tem um enredo cujoautor é Javé, e que esse enredo pode, em parte, serdeslindado pelos profetas”.14 No seio de esquemasfilosóficos que têm como fundo comum o histori-cismo, Razão e Fé são, em última análise, fontesequivalentes de certezas igualmente reconfortantes.
É contra o “conforto metafísico” das certezasabsolutas que se rebela Nietzsche. A sua voz ergue-separa denunciar o pendor puerilmente moralizantedas conjecturas que julgam descobrir, na natureza ouna história, uma linha de demarcação que defina oque é verdadeiro ou justo: “O idealista, tal como o pa-dre, tem na mão todas as grandes noções (...) e lança-as com um benévolo desprezo contra o “intelecto”,os “sentidos”, as “honras”, o “conforto”, a “ciência”;vê tais coisas abaixo de si como forças perniciosas esedutoras, acima das quais “o espírito plana”, numaabstração pura. (...) O puro espírito, eis a pura men-tira...”.15
7 Veja-se, por exemplo, “A Ciência Nova”, de Giambattista Vico, in GAR-DINER, 1974, pp. 15-27; “Idéia de uma História Universal de um Pontode Vista Cosmopolita”, de Immanuel Kant, in GARDINER, 1974, pp.28-41; e “O Progresso do Espírito Humano”, de Antoine-Nicolas Con-dorcet, in GARDINER, 1974, pp. 62-70.8 Para uma perspectiva global da evolução da idéia de progresso, cf.MAGALHÃES-VILHENA, 1979, especialmente pp. 57-112.9 BOORSTIN, 1999, pp. 283.10 Veja-se, por exemplo, “História Filosófica”, de Georg Wilhelm Frie-drich Hegel, in GARDINER, 1974, pp. 73-88.11 Veja-se, por exemplo, “Concepção Materialista da História” e “A Inevi-tável Vitória do Proletariado”, de Karl Heinrich Marx, in GARDINER,1974, pp. 155-169.12 Veja-se, por exemplo, “O Positivismo Evolucionista”, in ABBAG-NANO, 1984, pp. 7-63.13 Veja-se, por exemplo, “A Filosofia Positiva e o Estudo da Sociedade”, deAugusto Comte, in GARDINER, 1974, pp. 90-100.
14 Karl R. Popper, “Previsão e Profecia nas Ciências Sociais”, in GARDI-NER, 1974, p. 337.15 NIETZSCHE, 1997a, p. 23.
Impulso_28.book Page 59 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

60 impulso nº 28
Àquele modo de pensar, Nietzsche contra-põe a inevitabilidade das escolhas incertas e o papelincontornável das deliberações subjetivas, desnu-dando o caráter ilusório das descrições tidas comoindependentes dos interesses e motivações dos seusautores, como se fossem um resultado automáticoda aplicação de regras metodológicas: “O que incitaa olhar-se metade dos filósofos com desconfiança ea outra metade com ironia não é darmo-nos perma-nentemente conta de como são ingênuos (...) mas asua pouca honestidade. (...) Fingem todos ter des-coberto e alcançado as suas verdadeiras opiniõespelo desenvolvimento de uma dialética fria, pura edivinamente despreocupada”.16
Retomando, embora com muitas novidades,a proposta (de Schopenhauer) do “mundo comovontade e representação”, Nietzsche recorda-nosque é na paixão e no gosto, no querer corpóreo dosinstintos, e não numa inteligência etérea, aparente-mente impassível e desinteressada, que deverá serprocurada a raiz das explicações: “Admitindo quenada seja “dado” como real a não ser o nosso mun-do de desejos e paixões (...) não será permitido ex-perimentar e perguntar se aquele “dado” não chegapara se compreender também, a partir dele, o chama-do mundo mecanicista (ou material). (...) Enfim, nãoé só permitido fazer-se esta tentativa: a consciência dométodo ordena que tal se faça”.17
Porém, absolutizando ele próprio a “vontadede poder”, reconstrói a metafísica, num modo de-sencantado e áspero que se deixa atrair niilistica-mente pelos abismos da irracionalidade e da incog-noscibilidade, erigidos em absolutos negativos: “Ohomem moral não está mais perto do mundo inte-ligível do que o homem natural – pois não há mun-do inteligível”.18
Mesmo quando se deixou distorcer pelo exa-gero, a insurreição de Nietzsche contra a sonolênciaapaziguadora das religiões institucionalizadas e con-tra o historicismo otimista das ideologias do pro-gresso propiciou, em muitos dos seus passos, umdiagnóstico incontornável, evidenciando como nãopodem deixar de ser contra natura as perspectivas
que encerram a vida num quadro de categorias abs-tratas, divorciadas da materialidade do corpo, igno-rantes das necessidades biológicas e dos desejos quenelas se enraízam, geradoras de um sentimento deculpa ou de imperfeição onde apenas se cumpre a ir-reprimível apetência de viver. E incontornável é,além disso, a sua constatação de que no tempo da“morte de Deus” – um tempo de desencantamentoque, mais do que o seu, é o nosso tempo – é grandeo risco do vácuo axiológico, da desorientação, dadecadência cultural, da desistência da livre determi-nação, da satisfação com uma caricatura de felicida-de, na entrega ao hedonismo frívolo de “uma vidade minguadas aspirações, feita de alegrias breves,sem ver mais longe que de um dia para outro”.19
Porque as suas palavras parecem ter-nos sido direta-mente dirigidas, porque parece ser de nós, que vive-mos mergulhados no morno e securizante bem-es-tar das sociedades consumistas, que falam as suaspalavras:
Ai! Aproxima-se o tempo em que o ho-mem se tornará incapaz de gerar uma estreladançante. Ai! O que se aproxima, é a épocado homem mais desprezível, do homemque nem se poderá desprezar a si mesmo.Olhai! Vou-vos mostrar o Último Homem:“O que é amar? O que é criar? O que é de-sejar? O que é uma estrela?” Assim falará oÚltimo Homem, piscando os olhos.A terra ter-se-á então tornado exígua, nelase verá saltitar o Último Homem, queapouca todas as coisas. A sua espécie é tãoindestrutível como a do pulgão; o ÚltimoHomem será o que viver mais tempo.“Descobrimos a felicidade”, dirão os Últi-mos Homens, piscando os olhos.Terão abandonado as regiões onde a vida érigorosa; pois o homem precisa de calor.Ainda se amará o próximo e se roçará porele, porque é necessário calor.A doença, a desconfiança hão-de parecer-lhe outros tantos pecados; é só preciso veronde se põem os pés! Insensato é aqueleque ainda tropeça nas pedras e nos homens!Algum veneno de vez em quando, coisa queproporciona sonhos agradáveis. E muito ve-
16 Idem, 1998, p. 18.17 Ibid., p. 51. 18 Idem, 1997c, p. 91. 19 Idem, 1997b, p. 50.
Impulso_28.book Page 60 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 61
neno para acabar, a fim de se ter uma morteagradável.Trabalhar-se-á ainda, porque o trabalho dis-trai. Mas ter-se-á cuidado para que esta dis-tração nunca se torne fatigante.Uma pessoa deixará de se tornar rica ou po-bre; são coisas demasiado penosas. Quemquererá ainda governar? Quem quererá ain-da obedecer? São duas coisas demasiado pe-nosas.Nenhum pastor e um só rebanho! Todosquererão a mesma coisa, todos serão iguais;quem quer que tiver um sentimento dife-rente entrará voluntariamente no manicô-mio.“Noutro tempo toda a gente era doida”, di-rão os mais sagazes, piscando os olhos.Ser-se-á sagaz, saber-se-á tudo o que se pas-sou antigamente; desta maneira se terá comque zombar sem cessar. Ainda se questiona-rá, mas depressa surgirá a reconciliação, commedo de estragar a digestão.Ter-se-á um pouquinho de prazer durante odia e um pouquinho de prazer durante anoite; mas respeitar-se-á a saúde.“Descobrimos a felicidade”, dirão os Últi-mos Homens, piscando os olhos.20
Mas não é igualmente certeira a conclusão deque, se os homens assassinaram Deus, tudo lhes épermitido. Assim seria, se o ceticismo fosse a únicaalternativa à salvação sobrenatural ou à utopia pro-gressista, se à antevisão de um futuro paradisíaco, nocéu ou na terra, somente se pudesse contrapor o in-ferno ou a anomia, se em vez da fantasia do saberabsoluto não houvesse senão a ignorância completa,se à “idade da inocência” nada pudesse suceder alémdo vazio e da desilusão. Mas não, porque entre otudo e o nada do saber absoluto há todo o espaço daverdade relativa, e se ela não permite delinear um fu-turo desejável, com os detalhes de um ponto dechegada a alcançar, é ainda bastante para identificaro que no presente se quer superar, e para definiruma direção para o percurso a fazer.
Impetuosamente arrastado pela força do seudesmedido pessimismo, Nietzsche acabou por errarna formulação do problema. Não admira, portanto,
que errada tenha sido também a solução que pro-pôs. O futuro do mundo não é, de certo, o “eternoretorno do idêntico”, condenando a humanidade aoamor fati, numa estóica resignação com o seu cíclicodestino. O futuro do homem não é, seguramente, asubordinação à implacável “vontade de poder” do“super-homem”. Como criadores de valores, e de-sejando ver reconhecido o seu próprio valor, os ho-mens não estão forçados à aceitação voluntária deum destino obrigatório, determinado por pretensosvalores vitais, nem à dissolução num quotidianoabúlico, imposto pelo egocentrismo ético de quemesqueceu que o único reconhecimento autêntico é oque se verifica entre iguais.
O viver humano decorre sob o signo da in-tencionalidade. Frágil como todas as ilusões, tudo oque nos assegura da nossa humanidade é a ilusão deque somos humanos, quer dizer, livres, responsáveispelo que conseguimos ou tentamos. A nossa vidahumaniza-se, torna-se vida humana, na ilusão indis-solúvel de que podemos escapar ao império dos fa-tos, de que podemos decidir à revelia dos determi-nismos que subjugam as coisas e os acontecimen-tos, de que o que conta são as ações deliberadas, pas-síveis de escolha, submetidas ao nosso arbítrioindividual ou colectivo. Muito além das circunstân-cias objetivas em que vivemos, muito além das pos-sibilidades e dos limites dos espaços físicos, biológi-cos e sociais em que nos situamos, e dos dinamis-mos, talvez inexoráveis, que os configuram e nosdeterminam, sentimo-nos sujeitos de sucessos e defracassos, de iniciativas e de omissões, de acordos ede recusas.
Habita-nos o sentimento de que a nossa vidaé um enredo do qual somos autores, o sentimentode que, contraditando o acaso e a necessidade, o quenos acontece é aquilo que fazemos. Este sentimentoinscreve-nos num tempo e num espaço imaginários,subjetivos, em que nos apropriamos da nossa vida elhe atribuímos um sentido, em que a nossa vida sesingulariza como um trajeto pessoal, destacando-sesobre um fundo de eventos sem propósito. Falamos,conseqüentemente, do sentido da vida e de vidascom e sem sentido como de percursos com orienta-ção definida num intricado tecido de memórias e deaspirações que nos religam ao passado e nos impe-20 Ibid., pp. 17-19.
Impulso_28.book Page 61 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

62 impulso nº 28
lem para o futuro: vidas harmoniosas, plenas, fluin-do entre recordações aceites e antecipações deseja-das, ou vidas desconjuntadas, rarefeitas, entrinchei-radas no presente, tentando fugir do que ficou paratrás e temendo o porvir.
História e projeto, a vida humana é a vida quecomeça antes do princípio e se prolonga para alémdo fim.21 Todavia, não há sossego no ilimitado ho-rizonte temporal da vida vígil, ciente de que agora ésempre antes e depois. É demasiado inclemente aresponsabilidade do espírito livre, entregue a si mes-mo, demasiado agreste a condição do espírito sepa-rado do corpo, desligado dos objetos, privado dosliames que o prendem ao mundo, demasiado inós-pita a solidão do espírito que enjeita o aconchego davida em comum.22 É excessivamente intensa a exal-tação da vida que não se deixa entravar pelo ritmodas coisas mundanas. A lucidez permanente é insu-portável.
A plenitude do ser é tão perturbadora quantoo vazio absoluto do nada. Atemoriza-nos a vastidãoindefinida que nos envolve, quando nos assumimoscomo seres absolutamente indeterminados. Por isso,somente em ocasiões extremas somos capazes deafrontar resolutamente as conseqüências da nossa li-berdade e nos dispomos a correr o risco de subordi-nar a nossa vida à compulsão voluntária de uma in-tenção com valor absoluto. A maioria das vezes, aco-modamo-nos na mansidão do relativo e do contin-gente. Abdicamos da singularidade angustiante donosso ser único e uno em favor de uma existênciatranquila, impermeável à angústia, saturada pelasbrandas aflições do dia-a-dia, preenchida pelos pe-quenos problemas da gestão do cotidiano. Os hábi-tos e os artefatos da nossa comunidade são, então,os modos e as matérias-primas do nosso agir. Anossa vida sente-se e pensa-se, evoca-se e antevê-secom as palavras e os símbolos da cultura comum.Redigimos a nossa biografia íntima na língua em
que os outros nos falam. Alienamo-nos na ficção deuma intencionalidade limitada como se fôssemossimples objetos de decisões alheias, como se as nos-sas intenções individuais fossem meras reformula-ções impessoais do querer coletivo. Preferimos aamena escravidão de quem se imagina impulsionadopela pressão cega de forças externas à insegurança eà incerteza radicais de quem desenha o seu própriodestino.
Por trás da abdicação da integridade resiste,no entanto, um resíduo nostálgico do nosso ser in-teiro, uma tentação de plenitude que nos inquieta. Aideologia é a sutura inconsciente das fissuras que seabrem à inquietação, a representação racionalizadada vida fragmentária que nos resta quando nos refu-giamos no cálido torpor do casual e do fugaz. A ide-ologia é a obliteração das lacunas e das incongruên-cias inerentes à nossa renúncia ao esforço de tentarpensar o complexo e abranger a totalidade, a ocul-tação da irracionalidade intrínseca à cisão em queconsentimos dividir-nos entre os imperativos daconsciência e as prescrições da sobrevivência, o es-quecimento do conflito sem remédio entre a nossainsaciável apetência de infinito e a condenação ao pre-cário e ao efêmero em que nos deixamos aprisionar, osono que apazigua o nosso pensamento ferido pelacontradição entre o relativo em que escolhemos vi-ver e o absoluto para que apela a nossa humanidade.Através da simplificação, da troca da realidade com-plexa pela aparência simples, da substituição dotodo pelas partes, a ideologia reduz as fraturas da in-teligência incompleta, cola os fragmentos avulsosdo entendimento parcial, preenche os vazios dacompreensão truncada, furta-se à ignorância e à dú-vida, cria a miragem da descrição adequada e dopensamento suficiente. Através da generalização, daatribuição do estatuto de regras gerais aos modosparticulares do estar atual, da conversão da utilidadede hoje em critério para ontem e para amanhã, datransformação dos fatos em normas, da isenção daresponsabilidade alegando a coercitividade das cir-cunstâncias, legitima o pragmatismo fácil e cômodoque identifica o valor com o uso, exime-se das es-colhas arriscadas e desconfortáveis, exonera-se pe-rante as decisões dilemáticas. Através da repetição,da simulação da permanência, finge prolongar o pre-
21 ARENDT, 1999, p. 31: “Estar vivo significa viver num mundo que pre-cedeu a nossa própria chegada e que sobreviverá à nossa própria partida”.22 Ibid., pp. 220-221: “A intensidade da experiência do pensar (...) mani-festa-se na facilidade com que a oposição entre pensamento e realidadepode ser invertida, de tal maneira que só o pensamento parece ser real, aopasso que o que simplesmente é parece ser tão transitório que é como senão existisse (...) estas singularidades do pensar brotam do (...) alheamentoinerente a todas as atividades do espírito; o pensar lida com ausências eisola-se do que está presente e à mão”.
Impulso_28.book Page 62 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 63
sente num retorno previsível, disfarça a finitudenuma atualidade perpétua, oferece-nos a segurança eo equilíbrio, promete-nos a serenidade, a extinção damágoa da vida que se escoa irreversivelmente.
O cotidiano é, por excelência, o tempo ideo-lógico, o tempo reduzido ao presente. Enredados natrama da vida diária, entontecidos pelo corrupio dasnossas ocupações, das nossas obrigações, das nossasrotinas, atrelados ao movimento alucinante das coi-sas, à cintilante metamorfose das mercadorias quenos encandeia, entretidos pelo tagarelar contínuo,pelas cíclicas solicitações da interação social em quenos dispersamos, ficamos completamente absorvi-dos pela atualidade, não nos sobra qualquer parcelade tempo para o passado nem para o futuro. Por is-so, grande parte da nossa vida é vivida em função deobjetivos imediatos, de pequenas ambições, limita-se ao curto prazo, encerra todas as esperanças nasfronteiras do disponível.
Conseguiremos esquivarmo-nos ao solipsis-mo angustiante e à queda na banalidade do cotidia-no? Como poderemos ser nós próprios e conservara nossa liberdade sem deixarmos de ser solidários?
O nosso tempo é o primeiro em que o cená-rio da destruição total da biosfera, da irreparável ca-tástrofe ecológica, não é apenas uma possibilidadedelirante, imaginada por masoquismo ou paranóia.Esse perigo, indiscutivelmente real, explica a nossaincapacidade para conceber utopias positivas, a nos-sa propensão para as previsões distópicas. Mas sóum pensamento afogado na autocomiseração, órfãode absoluto e paralisado pela nostalgia das certezasdefinitivas se recusa a compreender que todo “o ca-minho se faz caminhando” e que, para caminhar,não é preciso definir um destino ou um ponto dechegada. Basta reconhecer, em cada momento, a di-reção em que se quer prosseguir, e que esta pode serapenas a do afastamento em relação àquilo que sedeseja evitar. Olhar esperançosamente para o futuronão depende de saber como será o dia de amanhã;depende somente de perceber que, tal como onteme hoje, não será a falta de desafios que levará à falên-cia do ânimo. Porque não são as soluções acabadasque dão sentido à vida. A vida tem sentido porqueé permanentemente problemática.
Por muito tempo, sem dúvida, serão demasia-
das as imperfeições no mundo e na vida dos homens
para que se possa imaginar que não existe escapatória
diante do destino sombrio e apático que Nietzsche
traçou para o “último homem”. Há muito mais do
que tédio e acrítico hedonismo quando diante dos
nossos olhos se desfiam interminavelmente os
exemplos de fome, de miséria, de doença, de violên-
cia... O que quererá dizer pensar se o pensamento
não refletir tamanhas evidências?
Se soubermos avivar a consciência da nossa
individualidade, que é também a nossa igualdade bá-
sica como seres humanos e, portanto, a matriz da
solidariedade que nos une, a consciência de que só
podemos ser com os outros, venceremos a prisão
do ceticismo e redescobriremos, dia a dia, a certeza
de que vale a pena estar vivo, lembrando o passado
e edificando voluntariamente um futuro melhor.
Partilharemos com Nietzsche a ambição de
não nos deixarmos ofuscar pela capacidade sedutora
da Razão, quer dizer, de formas de racionalidade ti-
das como absolutas ou independentes das vicissitu-
des do viver concreto em cada tempo e em cada lu-
gar. Mas, acolhendo a lição do Pragmatismo, não re-
cusaremos a validade daquilo que, a cada momento,
serve à formulação e à solução dos problemas pos-
tos pela existência.
Tal como alguns daqueles que nos habituamos
a chamar “pós-modernos”, os pragmáticos descon-
fiam da força mítica e da eficácia mistificadora das
“grandes narrativas” (ideológicas ou científicas), e
nos previnem dos erros resultantes da colocação do
sentido fora do espaço e do tempo.23 No entanto, se
não nos facultam o conforto de indiscutíveis certe-
zas utópicas e intemporais, animam-nos ainda com a
convicção de que as crenças e as opiniões podem ser
avaliadas, através dos serviços que prestam às formas
de vida a que se referem, e que têm um determinado
“grau de veracidade”, mensurável por meio da ade-
23 LYOTARD, 1989, p. 12: “(...) o ‘pós-moderno’ é a incredulidade emrelação às metanarrativas”.
Impulso_28.book Page 63 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

64 impulso nº 28
são coletiva que suscitam, e aperfeiçoável, através da
“razão comunicativa”.24
Dado que a razão ao nosso alcance é a que ela-boramos em conjunto na comunicação, ou seja, nacoordenação de esforços em que, no seio da comu-nidade, subsistimos, nos comprovamos e sabemosque somos, é em vão que poderemos procurar nahistória qualquer justificação para a nossa vida. Averdade, a adequação da descrição das coisas e dosacontecimentos, é sempre relativa. E é, pois, neces-sário conviver com a carência de absoluto que daíderiva. É preciso passar do absolutismo ascético àaceitação de um estado de privação em que, defini-tivamente, tudo o que se tem são representaçõesprecárias, socialmente construídas com as constri-ções impostas pelos modos de dizer, as formas deconversação de que cada comunidade dispõe. É ne-cessário suportar a intranquilidade resultante da de-
terminação parcial e provisória, é necessário viver naascese do relativismo, recordando continuamenteque verdade e justiça relativas são ainda verdade e jus-tiça, e que aquela intranquilidade é também o quenos impulsiona na busca repetida e hesitante da nos-sa sempre incompleta humanidade.
Podemos terminar tomando de empréstimoas últimas palavras de Karl Popper em A SociedadeAberta e os seus Inimigos:
Em vez de posar como profetas, devemosconverter-nos em forjadores do nosso des-tino. Devemos aprender a fazer as coisas omelhor possível e a descobrir os nossos er-ros. E, desde que nos tenhamos desembara-çado da idéia de que a história é o nosso juiz,uma vez que tenhamos deixado de nos pre-ocupar com a questão de saber se a históriaterá ou não de nos justificar, então talvez, al-gum dia, consigamos controlar o poder.Desta maneira poderemos, pelo nosso lado,chegar a justificar a história. E é certo queela necessita seriamente dessa justificação.25
Referências BibliográficasABBAGNANO, N. História da Filosofia. V. XI. 3ª. ed., Lisboa: Editorial Presença, 1984.
ARENDT, H. A Vida do Espírito. V. I. – Pensar. Lisboa: Instituto Piaget, 1999.
BOORSTIN, D. Os Pensadores. Lisboa: Gradiva, 1999.
GARDINER, P. Teorias da História. 2ª. ed., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1974.
JASPERS, K. A Situação Espiritual do nosso Tempo. Lisboa: Moraes, 1968.
LYOTARD, J.F. A Condição Pós-moderna. 2ª. ed., Lisboa: Gradiva, 1989.
MAGALHÃES-VILHENA, V. Progresso: história breve de uma idéia. 2ª. ed., Lisboa: Caminho, 1979.
NIETZSCHE, F. Para Além de Bem e Mal. 7ª. ed., Lisboa: Guimarães Editores, 1998.
__________. O Anticristo. 9ª. ed., Lisboa: Guimarães Editores, 1997a.
__________. Assim Falava Zaratustra. 11ª. ed., Lisboa: Guimarães Editores, 1997b.
__________. Ecce Homo. 6ª. ed., Lisboa: Guimarães Editores, 1997c.
ROY, C. La Malheur d’Aimer. Paris: Gallimard, 1958.
24 A expressão razão comunicativa remete, sintomaticamente, para JürgenHabermas. Porém, pode-se notar que já Karl Popper entreabriu idênticoentendimento, por exemplo, quando escreveu: “Fundamentalmente (oracionalismo) consiste em admitir que ‘eu posso estar equivocado e tupodes ter razão e, com algum esforço, podemos ambos aproximarmo-nosda verdade’”. POPPER, 1967, p. 314. 25 POPPER, 1967, pp. 400-1.
Impulso_28.book Page 64 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 65
RISA, PERSPECTIVAY DELIRIO: el caso NietzscheLAUGHTER, PERSPECTIVE AND DELIRIUM: the case of Nietzsche
Resumen Nietzsche lee la esencia del sujeto y sólo ve en ella a un sujeto que está siempreleyendo. No hay verdades últimas, afirma Nietzsche, sino juicios contingentes que res-ponden a la voluntad de imponerse en una incesante batalla de discursos. Nietzschemuestra, además, la articulación que subyace entre la moral del rebaño y la razón moder-na: cómo en nombre de la ciencia objetiva, de las ideologías del progreso y de la produc-tividad se domestican los individuos. Todo esto, Nietzsche lo logra con el arte de la pers-pectiva; arte que nace de la propia relación de Nietzsche con su propia salud inestable.
Palabras-llave IRONÍA – PERSPECTIVISMO – MORAL – SALUD – DISCURSO – CULTURA.
Abstract Nietzsche reads the essence of the subject in a mirror that only reflects, in turn,a subject who is always reading. There is no ultimate truth, says Nietzsche, but only con-tingent arguments which rely on the will to impose arguments within an everlasting battleof discourse. He goes further on, unmasking the tight links between the “herd” moralityand the modern “ratio”; and claiming that science, objectivity, progress and productivityare all ideological concepts that have been used to tame individuals and, thus, inhibit au-thentic individuality. And this has been achieved by Niethzsche through perspectivism –an art that is born from Nietzsche’s relationship with his own unstable health.
Keywords IRONY – PERSPECTIVISM – MORALITY – HEALTH – DISCOURSE – CULTURE.1
1 Entre sus libros publicados se destacan: Ni Apocalípticos ni Integrados: aventuras de la modernidad en AméricaLatina (Santiago, Fondo de Cultura Económica, 1994, Premio Iberoamericano de LASA, Latin American Stu-dies Association, 1997) y Después del Nihilismo: de Nietzsche a Foucault (Barcelona, Editorial Andrés Bello, 1997,finalista en el Concurso Ensayo Anagrama 1995, en España).
MARTÍN HOPENHAYN
Master en Filosofía (Universidadde París VIII). Ha sido profesor de
filosofía en la Universidadde Chile y Universidad
Diego Portales, y actualmentetrabaja en la Comisión
Económica para AméricaLatina y el Caribe, CEPAL*
*
Impulso_28.book Page 65 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

66 impulso nº 28
Discernimos en su risa una doble resonancia; y vemosdibujarse de a ratos, sobre su mirada, el rictus de undemente y la sonrisa de un vencedor.
LOU SALOMÉ, a propósito de Nietzsche
LA GENEALOGÍA Y EL ARTE DE REPOSAR SOBRE EL VACÍO
ada de ingenuo hay en Nietzsche cuando invierte la re-lación entre interpretación y valor, y afirma que sóloexisten interpretaciones morales de los hechos, pero nohechos propiamente morales.2 La fuerza de esta propo-sición radica no sólo en que le sustrae al mundo su pre-tendido valor intrínseco, y al valor su pretendida objeti-vidad. Además prefigura lo que un siglo después seráuna de las tónicas predominantes en el pensamiento fi-
losófico, a saber, la reducción del mundo al texto. Esto último implica releerlos actos del lenguaje como si éstos fuesen el reducto final del Ser; y releer lahistoria, la razón y la subjetividad como si ellas no fuesen más que narrativasy narraciones.
De allí en adelante el filósofo estará confinado al meticuloso trabajo dedesmontar o deconstruir discursos. A medias lingüista y a medias historiador,trasciende el discurso exclusivamente filosófico (inscrito en esa carrera de re-levos que la filosofía ha visto tradicionalmente como su propia historia inter-na). Ahora la filosofía se abocará a auscultar los textos que circulan por elimaginario social y la producción de conocimientos. Así, después de Nietzs-che se puede decir que el filósofo sale a la calle. Pero la calle, a su vez, no esmás que un juego de lecturas que hacemos sobre ella.
En este punto de la genealogía nietzscheana el mundo queda reinter-pretado como un tramado de lecturas. La interpretación de los hechos ter-mina remitiendo a otras interpretaciones, lo que da a los hechos su dirección,su sentido y hasta su existencia, en un juego en que el escrutinio último essólo un relato más, pero que a diferencia de otros tiene la fuerza para hacerseirreductible. La ironía consiste en leer la esencia del sujeto y ver en ella, in-versamente, a un sujeto que está siempre leyendo. De este modo el propioironista termina formando parte, con su lectura, de un universo en que sólodescubre lecturas y en el cual no hay fundamentos inseparables de ellas. Lamirada irónica sobre el mundo muestra al mundo como un juego sin fondocuyo vacío se recubre y escamotea con capas y capas de interpretaciones.Pero esa mirada queda, al mismo tiempo, ironizada por su propia evidencia.La muerte de Dios es una nueva certeza: la del eslabonamiento inacabable deperspectivas sobre una realidad de la cual sólo podemos predicar ese mismoeslabonamiento.
Esta mirada irónica des-sustancializa su objeto. Es connivente con suobjeto en cuanto reconoce tanto en él como en sí misma la ausencia de otracosa (la mirada como non plus ultra, o sea la ausencia de verdades últimas).
2 Para el desarrollo de esta aseveración, ver NIETZSCHE, 1986.
NNNN
Impulso_28.book Page 66 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 67
Con ello la ironía mezcla al intérprete con el hecho,permuta al lector y lo leído, ambos sumergidos en elvaivén de las lecturas. Pero al mismo tiempo la ironíase coloca muy por encima de su objeto por cuanto lo“liquida” en el doble sentido de la palabra: acaba conél en tanto objeto real, y lo licúa en el baile de las in-terpretaciones. Hay allí un poder casi omnímodo delintérprete sobre el mundo, por cuanto disuelve elmundo y disuelve el yo cada vez que reduce al mun-do y al yo a una suma eslabonada (pero en últimainstancia, aleatoria) de lecturas. El mundo aparececomo un juego de interpretaciones en un campo se-mántico de lucha, un vendaval de relatos que levan-tan su propia polvareda.3 Pero ese mismo poder om-nímodo es su confesión de impotencia cuando setrata de asir lo real o verdadero. Somos dioses por-que narramos y somos nada porque sólo existimosen la narración.
En este desfondamiento que la lectura ejercesobre el mundo hay desolación y carcajada. Desola-ción, porque nada tiene cuerpo más allá del mundosimbólico en que se habla, se mira y se interpreta;porque todo deviene fantasma o juego de lenguaje,y nos quedamos virtualmente solos frente a todo loque es sin ser del todo.4 Carcajada, porque remiti-mos a los sujetos a su modesto sitio narrativo, ysiempre tiene algo de burlesca la mirada que sólo en-cuentra capa sobre capa de otras miradas allí dondeotros postulan la verdad, el bien y la realidad.
Pero lo irónico no es la carcajada misma, sinoel filo desde el cual se desprenden hacia uno y otrolado la desolación y la risa: mezcla que resulta deesta mirada que se sabe texto y que sólo ve texto enderredor; doble sentido de la contorsión que con-nota a la vez desesperación e hilaridad. El ironistaprovoca, con ello, un movimiento paradójico en que
libera al sujeto del peso de ser, pero lo arroja a la in-gravidez del mero texto. Fin de la culpa por cuantono hay hechos morales, pero fin, también, de la con-fianza en el valor de las cosas. La muerte de Dios co-rre por este filo entre lo dulce y lo agraz. Por algoNietzsche juega tanto al bufón como al héroe trági-co, al sátiro y al solitario, a la víctima y al sepulturero.
El ironista-Nietzsche es tanto desenmascara-dor como enmascarador. Primero desentraña, tras laaparente existencia real del mundo y de los sujetosque lo pueblan, la certeza atronadora de que todo estexto. La carcajada cae sobre el mundo como el re-lámpago incendiando lo que ilumina. A imagen delDionisos griego, este ironista vierte sobre los he-chos la única certeza que de ellos se deriva, a saber,su sustancial-insustancialidad. Ríe del mundo sus-trayéndole la gravedad propia de quien se pretendereal. Y en el mismo movimiento enmascara su pro-pia mirada: reducido el mundo a juego de lenguaje ychisporroteo de narraciones, se lanza este ironista ajugar el juego, diferir y divertir su propia insustan-cialidad en el baile de las transfiguraciones y en lamultiplicación de personalidades: Nietzsche-Dioni-sos, Nietzsche-Cristo, Nietzsche-Zaratustra, Nie-tzsche-Wagner y anti-Wagner. No ya la máscara en-gañosa que pretende ocultar y remitir un cuerpotras de sí, sino la máscara lúdica que encarna a la per-sona en lo único que tiene de real, a saber, su erráticatextura.5
INietzsche puso en la filosofía la idea de que
no hay verdades últimas para decidir sobre la acciónde las personas, sino juicios que nacen y crecen al in-terior de la historia confrontándose en la inacabablebatalla de los discursos. Sin una lucha por imponer-se la interpretación moral de los hechos resulta inex-plicable.6 Sade lo ilustra invirtiendo el orden, valedecir, colocando en la base de hechos moralmente
3 Aquí coincide el concepto de ironista propuesto por Richard Rorty: “Elironista (...) piensa que nada tiene una naturaleza intrínseca o una esenciareal. Cree, por tanto, que el advenimiento de términos como ‘justo’ o‘científico’ o ‘racional’ en el vocabulario final del día, no es motivo parasuponer que la investigación socrática sobre la esencia de la justicia o laciencia o la racionalidad, nos lleverá mucho más allá de los juegos de len-guaje del día” (RORTY, 1989, pp. 74-75).4 “En suma, las categorías de ‘intencionalidad’, ‘unidad’, ‘ser’, categoríasque empleamos para darle algún valor al mundo, las volvemos a eliminar;de modo que el mundo parece carecer de todo valor (...) uno no puedesoportar este mundo, y no obstante uno no quiere renegar de él (...) noestimamos lo que conocemos, y no tenemos derecho a seguir estimandolas mentiras que nos debería gustar oír a nosotros mismos” (NIETZS-CHE, 1969, p. 13).
5 Véase al respecto la distinción que hace Vattimo entre la “máscara buena”y la “máscara mala” a propósito de la filosofía nietzscheana (Vattimo,1989). Y en otro sentido lo proponen Deleuze y Guattari: “No existe elyo-Nietzsche, profesor de filología, que pierde de golpe la razón, y quepodría identificarse con extraños personajes; existe el sujeto nietzscheanoque pasa por una serie de estados y que identifica los nombres de la histo-ria con esos estados: yo soy todos los nombres de la historia...”(DELEUZE & GUATTARI, 1974, p. 29).6 Ver NIETZSCHE, La Genealogía de la Moral (1990), y FOUCAULT,Nietzsche, la Genealogía, la Historia (1983).
Impulso_28.book Page 67 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

68 impulso nº 28
inadmisibles, como la violación y el crimen, un dis-curso sobre los mismos que los libera de toda obje-ción y los yergue en ejemplares. Nietzsche invierteel juego, mostrando la calumnia contra la vida en eldiscurso del pastor o sacerdote. Para Sade no haynada de malo en la abyección despótica, para Nie-tzsche nada de bueno en la piedad cristiana. En estode invertir el signo moral de un hecho conforme ala rediscripción del mismo, Sade y Nietzsche resul-tan emblemáticos; el primero por la inversión liber-tina de la justificación moral de los hechos y el se-gundo por vía de la genealogía que siempre muestralo bueno en lo malo y lo malo en lo bueno. Con elloambos se ajustan al concepto de Rorty según el cualel ironista es capaz de hacer que cualquier cosa pa-rezca indistintamente buena o mala, dependiendode como la redescribe.7
La genealogía nietzscheana es, en este sentido,el arte de interpretar las interpretaciones. Pone enevidencia las valoraciones que llevan a interpretar detal o cual modo y que mueven a manipular un dis-curso en una u otra dirección. Se aboca a extrovertir,remite los juicios a la historia que los había previa-mente construido, explicita el carácter no universalni incondicional de las interpretaciones, y luego delos valores que le subyacen.8 Rompe con la confian-za en un sustrato incondicionado que subyace a lasecuencia de acontecimientos. En lugar de la oposi-ción apariencia-verdad, juego y lucha de interpreta-ciones. Pero a su vez estas interpretaciones son re-
interpretadas por el propio Nietzsche como más-
caras. El matiz burlón le imprime un carácter pun-zante. Nada detrás de este baile: el mundo está vacíode sustrato y sólo se puebla con máscaras.
La ironía nietzscheana avanza un paso más.Las máscaras no son inocuas por más que carezcande profundidad real. Moldean cuerpos materialespese a la ilusoriedad de las mismas. Pero aquí Nie-tzsche vuelve a interrogar: ¿quién es ese cuerpo ma-terial moldeado por narraciones o interpretaciones?Sólo como pantalla puede el cuerpo reflejar las in-terpretaciones, asumir la forma que le imprimen las
máscaras. Ni modo de pensar el cuerpo como ma-terialidad irreductible. Siempre es reflejo de algo,producto o efecto de algo que a su vez está signadopor la insustancialidad. La metáfora pasa del lado delrelato al lado del cuerpo. Es sobre ese cuerpo que sesimbolizan las máscaras – la máscara moldea al cuer-po y no al revés: lo simbólico es corporal, o másbien mediación entre un cuerpo pre-simbólico y unjuego de interpretaciones. En el propio cuerpo en-fermo de Nietzsche el recalentamiento del lenguajeestalla y provoca un organismo inmovilizado poresa tensión. La catatonía es respuesta, efecto, elo-cuencia de lo mudo. Kafka es otro caso emblemáti-co: la hipocondría primero, la tuberculosis después,metáfora siempre de un espíritu implosivo. ¿Y no esirónico que aquello que presumimos como nuestroreducto material no sea sino máscara de la máscara,pantalla en que se asientan las interpretaciones? “Lagenealogía, nos recuerda Foucault, es como el aná-lisis de la procedencia, se encuentra por tanto en laarticulación del cuerpo y de la historia. Debe mos-trar el cuerpo impregnado de historia, y a la historiacomo destructor del cuerpo.”9 Al remontar al ori-gen, la genealogía permite reinterpretar nuestrospropios síntomas a la luz de lo que pueda revelar esatrayectoria invertida.
IILa crítica genealógica no se conforma con re-
ducir todo a texto, precisamente porque esta reduc-ción no resuelve nada. Todo lo contrario: resalta lasdiferencias una vez que se detiene en la textura.Nada más heterogéneo y conflictivo que el juego delas narrativas.
En este juego de las diferencias, la genealogíaes a la vez la crítica y el ejercicio postcrítico. Crítica,porque a través suyo Nietzsche impugnó todo con-cepto que inhibe el libre desarrollo de la voluntad: lametafísica platónica, la moral cristiana y la raciona-lización moderna. Más aún: el propio trabajo de lagenealogía, al remitir los discursos a las pretensionesde dominio que estos discursos alojan y ocultan,muestra críticamente la filiación entre las distintasfiguras de dominio – el platonismo, el moralismo yel hiperracionalismo. En estas tres figuras hay un re-7 RORTY, 1989, p. 63.
8 Véase al respecto la distinción que propone Deleuze, a propósito de lagenealogoía nietzscheana, entre evaluaciones afirmativas y negativas, yvalores activos y reactivos (DELEUZE, 1962). 9 FOUCAULT, 1983, p. 142.
Impulso_28.book Page 68 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 69
lato que lo explica todo, que disciplina los cuerpos ymoldea la conciencia; y en los tres coincide quienposee el conocimiento y quien dictamina los com-portamientos.
Pero también es postcrítica porque opera ellamisma en la lógica de las narrativas y admitiendodesde la partida que todo es interpretación. Vale de-cir, sólo se concibe después de la muerte de Dios,cuajando en el espacio que ha quedado abierto trasel desenmascaramiento de las ilusiones trascenden-tales. De modo que si por un lado remite crítica-mente toda verdad a su condición de máscara, la ge-nealogía es también en sí misma ese otro baile demáscaras de la vida postmoral y postmetafísica. Par-ticipa así de dos tiempos, de la crítica que desenmas-cara y del juego que enmascara, o de la lucha por li-berarse y la carcajada de la libertad. Y en este leer untiempo desde el otro ironiza, navega por el filo quearticula el ojo clínico y la nueva salud.
RATIO Y MORAL: ESLABONANDO ANTÍPODAS
En esta tensión entre crítica y afirmación lagenealogía nietzscheana pone el acento en la contra-dicción básica que reconoce en la cultura moderna:la incongruencia entre el discurso de la individuali-dad y el hecho de que el sujeto de ese mismo dis-curso acaba racionalizando – y maximizando – supropia subordinación a la ratio.10 Ironía en la lecturadel genealogista: la máquina de moldear que quisié-ramos tener a distancia y usarla sólo para dominar lanaturaleza, se instala en la subjetividad para hacercon ella el mismo trabajo de racionalización. El es-fuerzo del sujeto moderno que se empeña en cons-tituir su autonomía mediante el dominio del mundoy la superación de la escasez, se revierte cuando elinstrumento queda introyectado por su amo. El su-jeto acaba reificado por su propia facultad. Viejotema de la alienación como proceso en el cual nospostramos ante los ídolos que nosotros hemos crea-do. Esa misma razón que debía liberarnos de los ata-vismos de la moral opera como ella, domesticando
y cuadriculando al sujeto que la empuña. El dispo-sitivo de la mala conciencia es el antecedente, en elcampo de la moral, de la posterior racionalizacióndel sujeto por las técnicas modernas de dominio.Nietzsche explicita el relevo entre moral y ratio:“Esta es cabalmente, la larga historia de la proceden-cia de la responsabilidad. Aquella tarea de criar unanimal al que le sea lícito hacer promesas incluye ensí como condición y preparación (...) hacer antes alhombre, hasta cierto grado, necesario, uniforme,igual entre iguales, ajustado a cierta regla, y, en con-secuencia calculable...”.11
La genealogía es irónica por cuanto muestra lafiliación entre términos que parecen irreconciliables,como son la moral cristiana y la ratio moderna. Esteeslabonamiento de antípodas tiene un segundo mo-mento en que la genealogía desentraña el nexo ínti-mo entre la razón y el delirio. Con ello vuelve la iro-nía a violar el sentido común. Porque mientras esteúltimo coloca ambos términos en extremos opues-tos (el delirio es de quien “ha perdido la razón”), lagenealogía rompe el sentido común mostrando eldelirio como exacerbación de la ratio.12
Nietzsche vio la morbidez delirante que sub-yace a una racionalización excesiva. Y esta filiaciónentre razón y delirio, tal como fue intuida desde laironía nietzscheana, encuentra su interpretación ex-trema en Gilles Deleuze y Felix Guattari.13 Bajo estaperspectiva la racionalización que impone el régi-men de producción capitalista, sea en su versión desociedad industrial o postindustrial, es también unaforma específica de delirio. Más aún cuando se glo-baliza y yergue en modelo único. El tono revulsivode Deleuze-Guattari quiere graficar la filiación entreesta racionalización productiva y la locura, filiaciónque ya había mostrado el Marqués de Sade en losdiscursos de sus libertinos y Nietzsche en su genea-logía. En el caso Sade se trata de mostrar cómo la ra-cionalización maximalista del deseo lo aniquila –paso de la ratio maximizadora a la aniquiladora, pri-sión del cuerpo sexuado en la auto-exigencia demaximización del placer. Nietzsche muestra la arti-
10 La ratio incluye una triple operación reductiva: del ser a la razón, de larazón a las funciones de cálculo y manipulación, y de la voluntad a relacio-nes de dominio enmascaradas – y basadas – en el uso de dicha razón.
11 NIETZSCHE, 1986, p. 67.12 Rorty afirma incluso que “lo opuesto a la ironía es el sentido común”(op. cit., p. 74).13 DELEUZE & GUATTARI (1974).
Impulso_28.book Page 69 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

70 impulso nº 28
culación que subyace entre la moral del rebaño y larazón moderna. La evidencia de esta filiación deses-tabiliza. Si la racionalización moderna que debíaconstituir el resorte subjetivo para el progreso y laconquista de la libertad, está sujeta a su propia dosisde delirio maximizador: ¿Dónde está uno a salvo
del delirio? Pero una vez más: es la ratio moderna,con su propio delirio de salvación, la que induciría acreer que debemos ponernos a salvo, como si exis-tiese un terreno hiperracional donde pudieren con-jurarse todos los delirios. El razonamiento da lavuelta completa. Detrás de este corolario tiene quereír, agazapado, el ironista.
Por un camino distinto Michel Foucault recu-pera, en su historia de las prisiones, la filiación queNietzsche estableció entre racionalización y moral.En el análisis de Foucault, la prisión moderna devie-ne el modelo histórico de un nuevo discurso en quela ratio asume las riendas en el campo de la moral yla conducta. Esta racionalización moderna tambiénordena el tratamiento de la criminalidad, “la reclu-sión individual en su triple función de ejemplo te-mible, instrumento de conversión y condición paraun aprendizaje.”14 La prisión es al mismo tiempo unrégimen de saberes y una forma de sojuzgar y mo-delar. La racionalización siempre tiene algo de disci-plinaria, como una máquina que moldea el alma.15
¿No nos recuerda esto la escuela del libertinaje enLos 100 días de Sodoma o La Filosofía en el Tocadordel Marqués de Sade? En ambos casos, un sistemade entrenamiento del cuerpo y la asimilación de undiscurso que se acopla a esa disciplina corporal.
Para Nietzsche la construcción que el sacer-dote hace de una interioridad culposa tiene un efec-to normalizador análogo a la regimentación deltiempo de los reclusos visto por Foucault. Permite,como el tránsito de la disciplina penitenciaria a laproducción fabril, extender el vínculo entre el adoc-trinamiento religioso y la socialización general. Lamoral fluye hacia un cuerpo al que le pone límites:
“El desventurado ha escuchado, ha comprendido:ahora le ocurre como a la gallina en torno a la cualse ha trazado una raya: no vuelve a salir de ese cír-culo de rayas.”16 Lo que Nietzsche atribuye al ar-quetipo del sacerdote, Foucault lo sitúa en la racio-nalización moderna del castigo. Tanto la genealogíadel delirio17 como del régimen disciplinario(Foucault) contienen formas de la crítica a la ratiomoderna, y buscan localizar el vínculo entre pro-ductividad y subjetividad al estilo en que Nietzscheestableció la filiación entre moral, razón y sujeto. Yuna vez más aparece el desenlace irónico en que laracionalización modula la propia subjetividad que
la crea. Ejemplo elocuente es el campo de la sexua-lidad. La racionalidad productivista se cuela en el de-seo para someterlo a esa misma lógica optimizado-ra. El libertino de Sade y el film pornográfico ilus-tran este deseo que aparentemente se maximiza,pero que al cabo queda atrapado en la maquinariapornográfica, sometido al régimen de rendimiento,negando esa libertad que pretendía actualizar. Tantomás logrado cuanto mayores orificios en juego, másvolumen de los órganos y más secreción de líqui-dos. Al fondo de la alcoba, agazapado, ríe el ironista.
La lucha entre el impulso desbordante de lavida y esta tendencia racionalizadora no tiene, enNietzsche, desenlace reconciliador. La dialéctica he-geliana había querido colmar la brecha entre la ra-cionalización y la libertad del sujeto uniendo al finaldel camino el apogeo de la razón en el reino de la li-bertad. Pero la integración entre la dimensión des-bordante de la existencia y su racionalización (his-tórica, metafísica o moral) lo fuerza a suponer, a suvez, la primacía de una razón superior capaz de con-jugar ambos términos heterogéneos. La síntesissiempre supone un operador trascendente que su-bordina la rebelión a la marcha de la racionalización.La ironía Nietzsche, en cambio, exacerba la tensióny a la vez la priva de un garante que asegure el des-enlace conciliador que acabe domesticando la rebe-lión. Esta no-coincidencia entre historia y razón, oentre biografía y racionalización, abre la posibilidadreal de libertad. El ironista resiste, con su risa cen-
14 Ver FOUCAULT, 1975. 15 Como grafica Foucault: “Una adopción meticulosa del cuerpo y deltiempo del culpable, un encuadramiento de sus gestos, de sus conductas,por un sistema de autoridad y de saber (...) el enderezamiento de la con-ducta por el pleno empleo del tiempo, la adquisición de hábitos (...) no secastiga para borrar un crimen, sino para transformar un culpable” (FOU-CAULT, 1975, pp. 130-133).
16 NIETZSCHE, 1986, p. 163.17 DELEUZE & GUATTARI (1974).
Impulso_28.book Page 70 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 71
trífuga, la fuerza centrípeta de la racionalización.Será necesario sostener esta brecha para mantener latensión de lo inacabado – brecha que en Nietzschese da como recurrencia del destino trágico en quetodo vuelve a desmoronarse – y para hacer perdurarla libertad en esta incesante lucha del sujeto contratodo aquello que quiere definirlo, consagrarlo o re-sumirlo.18
¿QUIÉN RÍE?
IEl genealogista se remonta del discurso al su-
jeto que lo enuncia, va del qué se dice al quién lo
dice y para qué lo dice19. A la pregunta genealógicadel ¿Quién habla?, cabe complementar con la pre-gunta ¿Quién ríe? cuando el genealogista preguntapor quién habla. Se trata de devolver la pregunta porel quién al propio interrogador, y descubrir que esequién que pregunta por el quién, al preguntar ya
está riendo. Hay en el desenmascaramiento unaparte de burla que le es propio. Siempre merma laseriedad en el discurso cuando éste queda explicadocomo artilugio de una voluntad que quiere impo-nerse a través suyo sin que se note pero a la vez ex-
poniéndose en su ocultamiento. El sujeto detrásdel discurso queda extrovertido en clave de carica-tura. ¿Y cómo no atribuir al genealogista una cuotade ironía en este gusto de bufón por poner a otrosal desnudo?
Nietzsche no sólo lucha por desentrañar lamentira o la estafa moral. Lucha, también, porquequiere reírse. La risa desarma las pretensiones del su-jeto por constituir un discurso de pretendida validezgeneral con el que se representa a sí mismo. La fun-ción disolutiva que Nietzsche tempranamente le ad-judica a la naturaleza dionisíaca no da lugar a la auto-representación estable y consistente del sujeto. Lanaturaleza no puede, en su versión dionisíaca, cons-tituir el fundamento de esa subjetividad porque suirrefrenable extroversión no da lugar ni tiempo para
la representación clara y ordenada de un yo. “Espreciso, dice Zaratustra, tener todavía caos dentrode sí para poder dar a luz una estrella danzarina.”20
La risa cósmica está presente en esta natura-leza dionisíaca que arrasa doblemente con el plato-nismo21. En primer lugar pulveriza el trascendenta-lismo, pues en la perspectiva dionisíaca todo es in-manente al juego del cosmos. En segundo lugararrasa con el esencialismo, pues en el desborde dio-nisíaco no hay verdad nuclear ni sustrato detrás de laexistencia. ¿Y qué le ocurre a Dionisos, o más biena Nietzsche mirando por el ojo disolutivo de Dio-nisos, en esta aventura por precipitar el platonismohacia el abismo? Aquí cabe remitir la interpretaciónal intérprete: si Dionisos ríe cuando desarma, Nie-tzsche tendrá que reír cuando elige la perspectiva deDionisos para desarmar.
La risa cósmica de Dionisos es a la vez disol-vente y productiva. Todo lo que se quiera absolutoes retratado por Nietzsche como fatuo, aunque noinofensivo. Mostrarlo no es mera denuncia. Tam-bién quiere ser apertura hacia otra cosa. Abre el es-pacio antes ocupado por los discursos totalizadoresde la metafísica y prescriptivos de la moral. En eseespacio que abre advienen nuevas figuras. De estemodo la risa cósmica aniquila y fertiliza, destruyepara dejar campos de creación. Contra la sobrede-terminación que impone el peso de la historia, lasfugas de esa historia por parte del que ríe.
La recuperación del juego Dionisos-Apolomarca la diferencia. En contraste con la idea, tantomoral como metafísica, de interioridad sustancial, laindividuación apolínea está expuesta al vacío sinfondo, del mismo modo como burla ese vacío a tra-vés de su transfiguración en nuevos relatos. Doble
juego de Nietzsche: primero el genealogista burla
lo que se pretende superior al vacío; luego el iro-
nista burla el vacío al recrear desde él aquello que
lo disimula. Sólo así se entiende el relato como re-creación y no como sustancia. A diferencia de la in-dividualidad fundada en guiones continuos, la indi-viduación es creatividad incesante que imprime for-ma al caos. Lo singular se juega en estas configura-18 En el mismo tono, Bataille repica: “En la representación de lo inacabado
he encontrado la coincidencia de la plenitud intelectual y de un éxtasis quehasta entonces nunca había alcanzado (...) desde la pendiente vertiginosaque trepo, veo ahora la verdad fundada en lo inacabado (como Hegel, porel contrario, la fundaba sobre lo acabado...)” (BATAILLE, 1973, p. 261).19 Ver DELEUZE, 1962.
20 NIETZSCHE, 1980, p. 39.21 Ver DELEUZE, 1962. Deleuze habla de la voluntad por “revertir el pla-tonismo” (renverser le platonisme) en Nietzsche.
Impulso_28.book Page 71 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

72 impulso nº 28
ciones de fuerzas que logran levantar un relato yburlar con ello la eterna repetición de lo mismo; fi-guraciones que asumen su provisoriedad y que enesa provisoriedad logran sustraerse a la succión de
lo indiferenciado.
La risa cósmica está allí para sabotear la nor-malización progresiva y la producción acumulativa:el tránsito entre lo apolíneo y lo dionisíaco es impo-sible de prescribir ni de atesorar. Si Nietzsche apelaa estas figuras de la mitología es porque desde allípretende ironizar toda definición esencialista y dejaral sujeto vibrando en un estado cuya tersura vienedada por su precariedad: precariedad en que el ser
de da con toda la fuerza de una nueva expresión y
toda la debilidad de una mera apariencia. Es partede una broma del tiempo y por lo mismo sufre ygoza las dos caras de la moneda: condenado a no se-dimentar, pero liberado del trabajo de fundamentaruna representación absoluta de sí mismo. Vuelve laironía con el filo que une el anverso y el reverso, laliberación y el desamparo.
IIA través del recurso al Olimpo Nietzsche
pluraliza los dioses para impugnar aquel Dios cris-tiano que monopoliza nuestra lectura del mundo.En los dioses del Olimpo “habla una religión de lavida, no del deber, o de la ascética, o de la espiritua-lidad; todas estas figuras respiran el triunfo de laexistencia, un exuberante sentimiento de vidaacompaña a su culto (...) comparada con la seriedad,santidad y rigor de otras religiones, corre la griegapeligro de ser infravalorada como si se tratase de unjugueteo fantasmagórico”.22
Tras esta operación crítica busca recuperardos experiencias reprimidas por la era moral-meta-física. En la primera el sujeto “suelta” su identidadpara experimentar la vorágine de una biografía quereconoce como ser-en-el-devenir. Allí nos libera-mos de nuestra propia ilusión – e imposición – deconsistencia. La segunda es la experiencia de aper-tura a una auto-recreación incesante dentro de lapropia biografía en que tenemos la posibilidad de di-ferenciarnos respecto de nosotros mismos.
Para ello se desplaza de Homero a Heráclito.Ve en la heraclítea inocencia del devenir la acepta-ción del movimiento que permite desplazarse entreantípodas: flujo entre la succión indiferenciante deltiempo y la afirmación de singularidades sobre esemismo tiempo. Flujo entre la cristalización del cos-mos en contingencia, y la reabsorción de la contin-gencia por el cosmos. El devenir heraclíteo se abrecomo un desfile de máscaras donde nada puede to-marse demasiado en serio (porque todo es efímero),pero a la vez todo tiene su peculiar intensidad (por-que nada es repetible).
Pero hará falta atribuirle al juego del devenirun carácter benévolo, a fin de que las antípodas pue-dan pensarse como anverso y reverso de una mismatrayectoria: de la disolución (desidentidad) a la re-creación (singularidad) y viceversa. No significaesto que el devenir divida el tiempo entre estas dosformas radicales de la experiencia, sino que juega
con las combinaciones que ambos extremos pro-veen como imágenes-límite: la risa que disuelve y laque recrea. La riqueza de la vida, para Nietzsche, ra-dica en la potencia de la mezcla para conjugar yconjurar estos extremos mediante infinitud decombinaciones. Hay que jugar hasta el final, y sóloen la medida en que no nos bajamos del juego y nosapasionamos por la mezcla de la disolución y la re-creación, estiramos este lado benévolo del devenir.Por ello Nietzsche va y vuelve del Olimpo.
La voluntad, en este sentido apolíneo, es pro-ductiva pero no tiene la pretensión de durar que leimprime la interpretación moral del mundo. Aceptasu finitud y celebra lo efímero como condición a laque tampoco ella escapa. Más aún: al calor de la lu-cha – o juego – entre figuración y disolución, la vo-luntad sólo puede vadear la interpretación catastro-fista de su situación si apela a un espíritu agonísticode juego y lucha. De allí la metáfora heraclítea de lainocencia del devenir como niño que juega. Desdeesta perspectiva agonística cabe preguntar: ¿no esta-mos, acaso, tensados entre la voluntad constructivadel progreso y la tentación de jugar libremente en elteatro del devenir? Baudelaire describió la moderni-dad como eternidad en el instante. El modernismo– en este sentido – es el reverso del mito construc-tivo de la modernidad. Nietzsche no quiere remon-22 NIETZSCHE, 1983, p. 237.
Impulso_28.book Page 72 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 73
tar el tiempo hacia una premodernidad arcaica sinoactualizar en la modernidad, único tiempo en que lalibertad radical ha sido pensable, esta voluntad de
soltar. Dionisos y Apolo no son más que metáforaspara un tiempo en que el héroe trágico puede reapa-recer como singular y provisorio, pero liberado delsigno de la fatalidad. Y la risa cósmica tiene esa doblecara: nos hace insignificantes a la luz de la eternidad,pero también nos hace eternos en la vibración delinstante.
IRONÍA Y PERSPECTIVAEl devenir es también devenir de perspectivas,
cambio en la posición del intérprete. El perspectivis-ta es ironista en tanto mira bizqueando, juega contiempos distintos cuando mira, troca la perspectivahabitual o literal por una lectura oblicua de su obje-to: una mirada que arroja luz a la vez que apaña luz.El desplazamiento de la perspectiva es consustanciala la ironía en tanto ésta exacerba rasgos del objetoque la mirada directa sólo percibe en su moderadadimensión dentro del conjunto. Al exacerbar estosrasgos la ironía caricaturiza su objeto, lo deformapara exhibirlo en aquello que puede pasar desaper-cibido al ojo habitual. Así rompe la familiaridad conel objeto. Torna grotesco al desproporcionar lo quemira, pero en esa deformación transparenta lo quesuele quedar opacado o enmascarado. Sobre todocuando el objeto es otro sujeto que se defiende.
Para transparentar deformando, hay que de-formar también la perspectiva que mira. Una corre-lación se construye entre la exacerbación de rasgosdel objeto y la exacerbación en la mirada que lo de-forma. De este modo el cambio en la forma de mi-rar produce un doble efecto en el sujeto que mira.Por una parte el efecto de distorsión dado que des-enfoca lo que mira, bizquea para desproporcionar suobjeto y hacer aparecer otros matices. Por otra parteel efecto de exuberancia dado que enriquece al ob-servador ampliando su gama de perspectivas.
Este último efecto de exuberancia retrotrae alvínculo entre perspectivismo y multiplicidad. Para elNietzsche heraclíteo y homérico la pasión por lomúltiple también tiene su correlato en la capacidaddel sujeto de desdoblarse en múltiples perspectivaspara ver y verse. De este modo la mirada bufonesca
del Nietzsche sátiro no sólo torna grotesco lo quemira, sino también pluraliza el espectro con que semira, encarna en el ojo propio esta pasión por lomúltiple.
De manera que en medio del desafío a lo múl-tiple Nietzsche introduce una clave: el devenir múl-tiple se expresa en la conciencia como desplaza-
miento de perspectiva. La pluralidad de miradas es,pues, la forma subjetiva del devenir. El perspectivis-mo hace carne la broma del tiempo: movimientoque no solidifica, cuyo ritmo desmorona y recrea, yque se experimenta como desplazamiento de laperspectiva en la propia conciencia.23 El ironista de-viene pluralista: de mofarse de la pretensión de uni-dad en los otros salta a la aceptación de la multipli-cidad en su propia visión. De la ironía que agrede suobjeto se remonta a la exuberancia del sujeto quecambia de miradas.
El perspectivismo ironiza también al sujetoinstalado o rigidizado en una perspectiva estable.Pone en evidencia el vínculo entre homogeneidad ymezquindad al contrastarlo con la exuberancia de lomúltiple. Contra el pensamiento homogéneo quefija la identidad al margen del devenir, el perspecti-vismo une lo heterogéneo en un devenir incesanteentre lo plural y lo singular: plural, porque abre lamirada al movimiento de posiciones y a interpreta-ciones múltiples, afirma el desplazamiento de inter-pretaciones como devenir-en-el-sujeto y devenir-del-sujeto. Pero es también singularidad de cada in-terpretación porque todo queda puesto en perspec-tiva, afirmado en su especificidad, insubordinable averdades absolutas o a miradas ubicuas.
Nuevo eslabonamiento de antípodas: la plu-
ralidad de perspectivas es la singularidad del deve-nir en el pensar, la forma específica como el devenirse acuña en el pensar. La tarea del perspectivismo es,a su vez, conjugar lo plural y lo singular, transmutarla oposición en nutrición recíproca, hacer fecundarel anverso por el reverso (como lo dionisíaco y loapolíneo). Primero remite la verdad a la singularidadde un fenómeno (o a sus múltiples configuraciones
23 No es casual que Heráclito, el filósofo del devenir, opere contra la moralculposa: “Heráclito ha visto profundamente, y no vio ningún castigo de lomúltiple, niguna expiación del devenir, ninguna culpa de la existencia.”(DELEUZE, 1962, p. 28).
Impulso_28.book Page 73 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

74 impulso nº 28
singulares), y ya no al fenómeno como caso de unaley genérica. Segundo, el desplazamiento de pers-pectivas abre la posibilidad de producir múltiples
contextos singulares de interpretación, le da sen-tido a cada perspectiva como momento singulardentro de un devenir múltiple y exuberante en pers-pectivas: “Por muchos caminos diferentes y de múl-tiples modos, proclama Zaratustra, llegué yo a miverdad: no por una única escala ascendí hasta la al-tura desde donde mis ojos recorren el mundo.”24
En este eslabonamiento el perspectivismoabre a la lógica del descentramiento (no hay una in-terpretación central o privilegiada) y a la lógica de ladiferencia (todas las interpretaciones son singula-res). Hay descentramiento si hay desplazamientointerpretativo, y si dicho desplazamiento tambiéndesplaza el eje en torno al cual gira el intérprete. Estedescentramiento no elimina la interpretación, sinoque la desestabiliza y privilegia los lugares por sobreel lugar desde el cual se mira. Así como la miradagenealógica desestabiliza a su objeto, el perspectivis-mo desestabiliza al sujeto que lo ejerce.
Por otra parte no hay proceso de diferencia-ción si no hay un devenir-singular en medio de mu-chas posibilidades, pero tampoco lo hay si no existeun pluralismo interpretativo que socave la preten-sión de un valor absoluto. En tanto sujeto ya plura-lizado, está abierto a una diversidad de perspectivasque, puestas unas frente a otras, producen el movi-miento de diferenciación entre distintos puntos devista. La diferencia es allí diferencia entre perspecti-vas, bisagra que articula lo singular de una perspecti-va y lo plural de sus virtuales desplazamientos, bre-cha entre distintas interpretaciones, momento de lano-identidad, tensión singular-plural.
El perspectivismo, a la vez que impugna sin-gulariza. Así se vuelve doblemente intersticial: deuna parte, porque los desplazamientos de miradasiempre abren brechas en la pretendida lisura de laidentidad, crean zonas inéditas de lectura del mun-do; y de otra parte porque el perspectivismo mismo,como forma del pensar, también es intersticial: plie-gue entre la crítica y la afirmación, eslabón o bisagra
entre el desenmascaramiento de lo que se pretendehomogéneo y la invención que afirma lo nuevo.
En su doble momento de crítica y creatividadel perspectivismo eslabona la relativización del sen-tido con la proliferación de sentidos, el vaciamientocon la pluralidad. Al relativizar la verdad hace visi-bles otras miradas que yacían reprimidas bajo elmolde verdad-error, apariencia-esencia o bien-mal.Y al mismo tiempo que despuebla el mundo de supretensión de jerarquía absoluta lo abre a la irrup-ción de singularides relativas. La diferencia, a su vez,tiene también doble cara: como acto por medio delcual fisura la identidad – y en esta fisura va el dolor,pero también una descompresión en la pérdida deconsistencia –; y como forma de ejercer, en el espa-cio abierto por la misma fisura, la plasticidad parainstalar otra cosa. Mediante esa doble cara el pers-pectivismo vuelve a eslabonar: libera la subjetividadde un eje único, y hace de este descentramiento lafuente de movilidad para la recreación del sujeto.Un déficit de ubicuidad remata en un superávit dedesplazamiento.
El eslabonamiento de antípodas no es mera-mente especulativo. Permea la vida anímica del su-jeto que ejerce el arte de la perspectiva. De una partelo arroja a las consecuencias de un mundo sin ordenprefigurado, con el “buen vértigo” y el “mal vértigo”que tal desnudez provoca. Lleva al propio sujetoperspectivista a experimentarse como relativo y efí-mero. No obstante, en la medida que el sujeto ex-perimente afirmativamente dicho relativismo podráliberarse del peso de juzgar esa misma desnudez. Pa-radójica inferencia del perspectivista: amenazadopor el juicio lapidario que puede ejercer sobre él laverdad (“todo es interpretación”), no puede sinodevolver la jugada, juzgar esa misma verdad comodescentrada y singular. El juicio lapidario ya no es talpor cuanto queda reinterpretado en perspectiva, re-ducido desde su prepotencia a un lugar modesto enel mapa de los lugares posibles. Se completa la vuel-ta: el perspectivista ironiza la verdad del perspecti-vismo (“todo es interpretación”) para aligerarla ensu propio cuerpo. Disuelve el efecto disolutivo
aplicándole, reflexivamente, la carcajada cósmica.Esa misma carcajada que inicialmente desampara losobjetos al someterlos al “bizqueo”, ahora salva del24 NIETZSCHE, 1980, p. 272.
Impulso_28.book Page 74 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 75
desamparo al sujeto que bizquea. Si todo es inter-pretación, hasta esta afirmación lo es. Nada de queasustarse demasiado.
Aún así el desplazamiento no puede detener-se. Tal como en el devenir lo único fijo es pasar, enel “mundo como interpretación” los únicos hechosson, a su vez, lecturas. Si el perspectivismo es la tra-ducción del devenir a la voluntad subjetiva, esta vo-luntad es libre salvo para detenerse. No tiene el po-der de elegir entre desplazarse o dejar de hacerlo,sino la potencia interpretativa para desplazarse enmovimientos distintos, cambiar al interior de un seren que todo es de por sí cambio. El perspectivismoes así devenir dentro del propio devenir: réplica deldevenir del mundo en una subjetividad que se repo-siciona sin cesar. Y también intensificación del de-venir del mundo con el devenir de la interpretaciónen el sujeto situado en el mundo.
Pero a diferencia del devenir del mundo, el su-jeto que asume el perspectivismo refluye sobre sí, semira a sí mismo, remonta sus propias miradas haciaadelante y hacia atrás. Esta es la mayor ironía al in-terior del propio perspectivismo: su forma de rom-per es siempre relativa y reversible, porque preten-derse absoluta y definitiva sería traicionar al pers-pectivismo que hace posible la ruptura; pero al rela-tivizar rompe con mayor radicalidad, porque rompetambién con la pretensión de lo definitivo. De unaparte el perspectivismo es irreversible como fracturade todo juicio absoluto, pero de otra parte la radi-
calidad del corte no puede disociarse de su rever-
sibilidad, porque lo radical está en el carácter rever-sible de toda perspectiva. En tanto perspectivismono puede descartar el retorno ni consagrar un girodefinitivo tampoco, y tiene que pensarse como un iry venir entre la crítica y la afirmación, la expansióny la entropía. Es contradictoria en el perspectivismouna ruptura definitiva con la historia y, paradójica-mente, el perspectivismo es la ruptura más radicalcon el modo moral-metafísico que se impone en lahistoria. Vaya ironía.
La misma voluntad perspectivista que ha de-sarrollado su riqueza interpretativa no se instala demanera estable en la afirmación, sino que siemprevuelve a ejercer nuevas formas de la crítica. El pers-pectivista debe alimentarse recurrentemente del bu-
fón o sátiro que habita en él, porque la mirada iró-
nica que bizquea sobre el mundo renueva el despla-
zamiento en las interpretaciones. Pero para eso debe
también alimentar al bufón o al sátiro, hacerlo ac-
tuar en la escena de las perspectivas. Por eso en el
propio Nietzsche hay un eterno retorno de la pers-
pectiva crítica, o de la perspectiva en su uso crítico.
Siempre vuelve el perspectivismo a caricaturizar las
pretensiones centrípetas del juicio moral y metafísi-
co, y siempre lo hace para liberarse un poco más,
siempre zafarse un poco más del abrazo imaginario
de la identidad y la unidad. Esta impugnación de la
identidad unitaria es incesante en el perspectivismo,
porque el sujeto que lo ejerce siempre tiene que huir
de sí para mantener vivo el baile de las perspectivas
(y aquí la ironía ironiza al ironista). Y así como en el
campo personal siempre es necesario deconstruir la
identidad para alimentar el flujo interpretativo (el
devenir dentro de sí); así también en su desarrollo
histórico el perspectivismo se vuelca incesantemen-
te contra sus orígenes: nace del ala más seculariza-
dora del Iluminismo y siempre vuelve a reinterpre-
tar críticamente el Iluminismo para liberarse de las
trampas de la ratio y de las grandes proclamas del sa-
ber. De una parte el perspectivismo es heredero del
proyecto de liberar el espíritu que nace de las Luces;
pero ese mismo ímpetu libertario lo obliga a ironi-
zar siempre sobre otros rasgos del Iluminismo,
como son la ratio y la pretensión de totalidad, que
sabotean la emancipación del espíritu.
El perspectivismo desenmascara y también
enmascara. Cada nuevo punto de vista es como una
máscara o producción de máscara: coloca en el ob-
jeto una expresión adicional, lo ve distinto, le super-
pone una apariencia no consagrada. En la exuberan-
cia interpretativa opera, en este sentido, la “máscara
buena”: no la del engaño sino de la exaltación, no la
máscara que oculta sino la que expresa, no la que es-
tafa sino la que juega.25 Este juego de máscaras de-
berá entenderse como incesante originalidad en el
desenmascaramiento; y también como voluntad
que crea enmascarando, hace de sus interpretacio-
25 Ver al respecto la interpretación que Gianni Vattimo hace de la máscaraen Nietzsche, en Vattimo, 1989.
Impulso_28.book Page 75 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

76 impulso nº 28
nes figuras, cultiva la forma en su vocación produc-tiva y autoproductiva.
Este soporte lúdico del perspectivismo – suvoluptuosidad productiva, su vocación por las más-caras – devuelve nuevamente a Nietzsche al esteti-cismo modernista, en que la libertad se asocia a laplasticidad. El juego de máscaras afirma la libertadcomo libre movimiento y metamorfosis del espíri-tu. Así entendido, el perspectivismo retorna delmandato utópico de “transformar el mundo”(Marx) a la invitación autopoiética de “cambiar la vi-da” (Rimbaud). La utopía libertaria cuaja en la so-ñada comunión entre la creación artística y la plas-ticidad interior de la conciencia, tan cara a las van-guardias estéticas modernas. Allí se funde la metá-fora poética (la “buena” máscara) con el ímpetu dela libertad: poetización del mundo y autopoiesis,extroversión creativa y autocreación, transfigura-ción de la mirada y reinvención del acto mismo demirar. Ese es el punto de llegada.
Pero a la vez no puede haber punto de llegada.En su máxima tensión este mismo ideal se torna es-pasmódico. Precisamente porque es contradictoriocomo ideal, por cuanto propone liberarse de losideales para hacer posible la estetización de la liber-tad, la libertad como plasticidad de las interpreta-ciones no permite la fijación en ningún ideal, ni si-quiera en la plasticidad qua ideal. Eterno retorno dela utopía modernista que eternamente se malogra:esta libertad poetizante no puede constituir un or-den estable o un principio para un orden. Sólo dis-continuamente puede la libertad perspectivista ma-nifestarse. Tendrá que ser inconsistente para serconsistente. El ironista ríe de nuevo.
FRONTERA Y DELIRIO (O PERSPECTIVISMO E HIPOCONDRÍA)
ILiberada de esquema, la subjetividad se vive
en la ilimitada expansión de la mirada y del rango deperspectivas con que mira. ¿Pero dónde está el lími-te entre el delirio psicótico y esta autorrepresenta-ción del sujeto en que se entremezclan alquímica-mente la expansión de la conciencia con su riquezainterpretativa? Para antipsiquiatras, modernistas ra-
dicales y exploradores psicodélicos no parece habermucha distancia entre delirio y autocreación: todoviaje interior tiene sentido por cuanto expande laconciencia más allá de las inhibiciones gregarias ynos introduce en el vértigo creativo del perspectivis-mo. Alucinar es el grado zero de la perspectiva. Perouna vez más, la subjetividad que no reconoce un or-den simbólico obra como el fuego heraclíteo, porautocombustión.
No es casual la resistencia a llevar hasta sus úl-timas consecuencias el desafío nietzscheano de lamuerte de Dios. ¿Miedo a asumir el devenir comoperspectivismo, a experimentar al punto de quedaranclado en el limbo de las metamorfosis? A modode ejemplo, la sentencia de Cioran: “Sin ningunatradición que me lastre, cultivo la curiosidad de esadesorientación que pronto será patrimonio de to-dos (...). Ya nos anulamos en el cúmulo de nuestrasdivergencias con nosotros mismos. Negándose yrenegándose sin cesar, nuestro espíritu ha perdidosu centro para dispensarse en actitudes, en meta-morfosis tan inútiles como inevitables.”26
En este punto aparece una frontera imaginariade la modernidad, el fantasma que la acecha y el vér-tigo que la seduce. ¿Cuántos suicidios o muertes au-ténticamente modernos connotan esta frontera in-habitable pero siempre deseable – Sade, Rimbaud,Nietzsche, Van Gogh, Artaud, Kerouac, Passolini,Hendrix, Jim Morrison, Pollock, Fassbinder – enque el perspectivismo alcanza su grado zero o con-dición de intensidad pura? Umbral o frontera: lapoetización del delirio en este lugar-sin-límite cons-tituye un signo de interrogación para quien se plan-tea llevar el perspectivismo a sus últimas consecuen-cias. La utopía modernista que aspira a conjugar laexuberancia interpretativa con la expansión del su-jeto se desgarra en esta pregunta por la sustentabi-
lidad del delirio. La fulgurante carrera de ArthurRimbaud, el rockero Morrison y el cineasta Fass-binder, y sus muertes prematuras, son elocuentes. Ylo mismo puede decirse del último Nietzsche, enquien la intensidad interpretativa tuvo como desen-lace el mutismo catatónico.
26 CIORAN, 1987, p. 99.
Impulso_28.book Page 76 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 77
IIEl delirio es la localización del perspectivismo
hacia adentro, rebotando aleatoriamente en el reinode la virtualidad. Pero es también la brecha insolubleque se produce entre un Logos universal (de la“adecuación del concepto a la cosa”) y su resonan-cia-disonancia interna, el desajuste entre lo que laPalabra prescribe como correlato intelectual delmundo, y la respuesta disonante que provoca el des-plazamiento en la perspectiva interna. En cierta for-ma incluye a la ironía, pero de manera reflexiva: enel delirio el ironista cae preso de su propia bufonería,se objetiva él mismo como lo infinitamente ironiza-do, queda “oblicuado” por dentro.
Algo se transmuta en el baile de las perspec-tivas. Un desbocamiento del sátiro o un frenesí en laironía llevan a que el delirio se constituya en el lugarde confrontación entre la carne y la ley, entre cuerpoy Logos. El juego de los desplazamientos se con-vierte en la lucha de lo irreconciliable. Hasta que loirreconciliable violenta a dos puntas: la razón cua-dricula al sujeto del delirio, pero a la vez el delirioinunda la mirada de la razón con el torrente de lossentidos. El caso emblemático en este juego de an-típodas es Sade: el delirante que no da la espalda a larazón en su delirio sino que, a través del discurso li-bertino, lleva la razón a su paroxismo.
Pero por otro lado no existe el desempate enesta fricción entre perspectivismo y racionalización(o entre delirio y normalización). La lucha entre elLogos y la singularidad se da, en última instancia, enla mente del loco. La violencia del perspectivismo sehace patente en esta confrontación que el deliranteprotagoniza contra el discurso gregario. Pero al mis-mo tiempo revela la violencia de la normatividadque busca domesticar la singularidad. En esta resis-tencia vuelve a instalarse la ironía respecto de laspretensiones de la razón para contener el delirio.Artaud, como Nietzsche, no puede evitar un son deburla al calor de sus propias batallas. Su delirio de-viene finalmente una impugnación al statu quo pre-cisamente porque reivindica lo no normado de laperspectiva – aquello que puede hacerla singular.
IIIVolvamos ahora al caso Nietzsche, en quien el
poder para resignificar a medio camino su propio
pensar va precedido de un aprendizaje que se nutrede las metamorfosis en la propia carne. El perspec-tivismo se imbrica no sólo con las mutaciones entreestados de salud, sino también con las mutacionesentre las interpretaciones que el propio Nietzscheva haciendo de esos estados. En esta línea puedepensarse que el lugar desde el cual Nietzsche cons-truye una filosofía perspectivista es la relación consu propio cuerpo enfermo. No es desde un pensa-miento que se pretende trascendental respecto delcuerpo que lo sostiene, sino desde un pensar empu-jado por el propio cuerpo a ir desplazando la pers-pectiva que asume respecto de dicho cuerpo.
Esta inmediatez del relato respecto del cuerpoy del afecto de quien lo formula no lo condena a laautorreferencia. Por el contrario, lo singular del
caso Nietzsche es el salto que va de este vínculo
inmediato del cuerpo con su pensar, a la pertinen-
cia de ese pensar para interpelar el espíritu de una
época y una cultura. El flujo desde las contorsionesde un cuerpo singular hasta la interpretación de loscódigos sedimentados de toda una cultura hacen deNietzsche un eslabón – y un corte – en la posta dela historia de la filosofía.
Como en Kafka, el cuerpo enfermizo de Nie-tzsche lo obliga a experimentar con sus propios es-tados de conciencia y expresar, mediante estas osci-laciones, las contradicciones de una historia que re-basa su caso individual. La debilidad queda revertidacomo singularidad del filósofo, y el modelo de filo-sofía que Nietzsche construye a partir de su saludprecaria consiste en un pensar que hace de su cuer-po la pantalla de la cultura, una filosofía que transitadesde la auto-observación del sujeto singular a la in-terpretación del sujeto colectivo. Y sólo una miradaoblicua hace posible cierta cuota de penetración eneste relanzamiento hacia afuera de aquello que partesiendo una reinterpretación de la propia salud.
Cuanto más intensivos los desplazamientos alinterior del propio sujeto-Nietzsche, más extensi-vos los hace a las contradicciones de la cultura ju-deocristiana; y cuanto más singulares los padeci-mientos, más resume en ellos los avatares históricosde un espíritu moderno que lucha por emanciparse.El pensamiento ha dado así la vuelta completa: des-de tener que hacerse cargo de su cuerpo, hasta hacer
Impulso_28.book Page 77 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

78 impulso nº 28
todos los descargos sobre la conciencia colectiva desu tiempo. El movimiento abajo-arriba al interior sealquimiza en movimiento adentro-afuera.
Pero no podría hacerlo si no hubiese, dialéc-ticamente hablando, movimientos previos afuera-abajo, vale decir, de la cultura al cuerpo. De allí quela mirada perspectivista no sólo reinterpreta el cuer-po enfermo o hipocondríaco, sino también distin-gue en la interpretación las agresiones externas so-matizadas por ese cuerpo. Y de allí también, mástarde, la apertura en que esa mirada desentraña lasagresiones del medio que la circunda. Lo que per-manece finalmente es este flujo indiscernible afuera-abajo-arriba-afuera, que el perspectivismo “somati-za” en nuevas interpretaciones del mundo, y quetransfigura en miradas bizqueadas sobre la realidad.Hay, pues, una dimensión productiva de este mirarmúltiple que le permite al sujeto exorcizar-develan-do. La “sanación” pasa por releer el mundo a la luzde los síntomas que se hacen carne en el propiocuerpo. Sade, Nietzsche y Kafka transitan en líneapor este sendero.
Presumamos que esta circularidad ocurre ylleva de la mirada irónica al perspectivismo, de éstea la mayor vulnerabilidad en la salud del que mira, deesta vulnerabilidad a una auto-reinterpretación de lasalud y la enfermedad propias, de esta reinterpreta-ción a un mayor perspectivismo volcado sobre elmundo, y de este perspectivismo a un cambio en lamirada crítica sobre el entorno. Pero de no asumir elcarácter selectivo de esta circularidad, el problemapersiste: ¿Quién garantiza que este movimiento nosea la condena a una invariable repetición? Talvezsea la propia modernidad, con su propensión alcambio y a la libertad, quien más pueda concurrir enayuda del espíritu. O bien una circularidad selectivaque Nietzsche postula bajo la figura del eterno re-torno, permitiría que este metabolismo afuera-aba-jo-arriba-afuera-abajo se nutra con recurrentes cam-bios de perspectiva.
La singularidad del pensamiento de Nietzs-che es inseparable del padecimiento que lo lleva acambiar de perspectiva. Su enfermedad recurrenteparece compensarlo con esta adquisición que bene-ficia la riqueza del pensar en medio del padecimien-to, y que a la larga inunda la mirada y amplía su gama
cromática. La enfermedad adquiere así un sentidoinesperado: es la usina de la metamorfosis, el lugardel parto, la combustión requerida para arrojar-afue-ra (hacer-aparecer) una nueva perspectiva que tornaal pensar más expansivo. Al hacerlo se conviertetambién en una forma de pluralizar: la combustiónproduce singularidades pero no se detiene en ellas,las usa como insumos para una combustión ulteriorque a su vez despide nuevas aleaciones.
Mediante este viaje elíptico por su cuerpo, elpensamiento nietzscheano asume su propio pathos,deviene su devenir. Pero no como quien paga condolor, sino como quien se afirma en la metamorfo-sis. No expía un pecado sino que revierte el valor deun padecimiento. Esta resignificación de la enfer-medad lleva al pensar no sólo a mirar nuevamente sucuerpo, sino a dar un paso atrás y mirar cómo mirasu cuerpo. La voluntad no niega la adversidad paravencerla, sino que busca en la derrota la luz de unanueva mirada. El valor de esta agonística no es la su-peración definitiva de la enfermedad sino su usoafirmativo en el juego de las resignificaciones. Ya enHumano, Demasiado Humano tiene Nietzsche estaintuición: “Desde este aislamiento enfermizo, desdeel desierto de estos años de aprendizaje, queda aúnmucho trecho hasta esa inmensa seguridad y saluddesbordante, que no puede prescindir de la enfer-medad misma, como medio y anzuelo del conoci-miento; hasta esa libertad madura del espíritu, quees también dominio de sí mismo y disciplina del áni-mo, y que permite el acceso a modos de pensar múl-tiples y opuestos (...) superabundancia que da al es-píritu libre el privilegio peligroso de poder vivir a tí-tulo de experiencia”.27
IV¿Subsiste finalmente alguna división entre el
cuerpo y este pensar que desde dentro del cuerporeinterpreta su padecimiento? Si la resignificaciónde la salud en el cuerpo se traduce en la producciónde una nueva perspectiva en el pensar: ¿Hay dos en-tidades claras y distintas en esta dinámica? ¿Puedeexistir tanta fluidez si se presupone una división?¿O habrá que suponer un mecanismo de eslabona-miento entre el movimiento del cuerpo y el reposi-
27 NIETZSCHE, 1984, pp. 36-37.
Impulso_28.book Page 78 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 79
cionamiento del pensar? Nueva astucia de la pers-pectiva: si es capaz de instalar el devenir en el campodel pensar (devenir como cambio en la mirada) esporque ya se ha instalado el devenir a través de lasinestabilidades del cuerpo que sustenta ese pensar. Yuna vez más: esta connivencia del devenir instalán-dose en el cuerpo y en el pensar relaja los límites en-tre ellos, revierte la oposición en correspondenciadonde cuerpo y pensar se revelan ambos como for-mas internalizadas del devenir. Paradójicamente, lapotencia radica aquí en la volubilidad. Cuanto másse exponen cuerpo y pensar, más se enriquecencomo metáforas recíprocas. Cuanto más se nutre lainterpretación de la inestabilidad del cuerpo, másmovimiento en la perspectiva.
El proyecto filosófico se encuentra con sucuerpo. La esencia sedimentada del Logos se fisuraallí, en la resignificación del vínculo que une el nom-bre al pathos. Nietzsche mismo, como antes Sade ydespués Kafka, se ofrece como ejemplo y carne decañón: la permeabilidad, sea del cuerpo por el dis-curso o viceversa, legitima a ambos en cuanto marcaun lugar específico desde el cual se prueba el mag-netismo entre dos órdenes tan heterogéneos comoson el lenguaje y la carne. No una legitimidad moralfundada en la eficacia del discurso sobre el cuerpo(como control, domesticación y represión), sinouna legitimidad amoral que se funda en la capacidadpara singularizar esta traducción hacia uno u otrolado de estos órdenes heterogéneos.
En lugar del logos que se separa del cuerpopara fijarlo, la mezcla de antípodas, el flujo que me-taforiza hacia uno y otro lado el cuerpo y el pensar.En lugar de la objetivación clínica de la salud, el es-labonamiento entre las errancias del cuerpo y elcambio de perspectivas en el pensar. En lugar de unanorma que descalifica la inundación del pensar por
el cuerpo, el reconocimiento de esos desbordescomo intentos bizqueados por expandirse. “Tengobastante buena conciencia, dice Nietzsche al des-puntar su Ciencia jovial, de la ventaja que mi saludrica en cambios me otorga en verdad frente a todoslos lerdos rechonchos del espíritu. Un filósofo queha hecho el camino a través de muchas saludes y lovuelve a hacer una y otra vez, ha transitado tambiéna través de muchas filosofías: justamente él no pue-
de actuar de otra manera más que transformandocada vez más su situación en una forma y lejaníamás espirituales – este arte de la transfiguración es
precisamente la filosofía.”28 Y ya en el prefacio deHumano, demasiado humano: “Un paso más en lacuración: y el espíritu libre se acerca a la vida (...) seencuentra casi como si sus ojos se abriesen por pri-mera vez a las cosas cercanas (...). Lanza hacia atrásuna mirada de reconocimiento por sus viajes, por sudureza y su alienación de sí mismo, por sus miradasa lo lejos y sus vuelos de pájaro en las frías alturas.¡Qué dicha no haberse quedado siempre ‘en su ca-sa’, siempre en ella entregado a la regalada poltrone-ría (...) es una cura a fondo (...) caer enfermo a lamanera de esos espíritus libres, seguir enfermo unbuen lapso de tiempo y luego, lentamente, muy len-tamente, recobrar la salud, quiero decir una ‘mejor’salud.”29
La enfermedad queda recuperada en esta exu-berancia productiva de nuevas figuras y, recíproca-mente, el pensar queda poblado de sentido en supaso fulgurante-fusionante por el cuerpo enfermo.Ultimo giro de la ironía que en su versión más be-névola alimenta, con un cuerpo enfermo, una cabe-za incendiada de visiones.
Referências BibliográficasBATAILLE, G. Le Coupable, en Bataille. Obras completas, v. V, París: Gallimard, 1973.
CIORAN, E.M. “Carta sobre algunas aporías”, en La Tentación de Existir. Trad. Savater, F. Buenos Aires: Taurus, 1987.
DELEUZE, G. Nietzsche et la Philosophie. Paris: PUF, 1962.
DELEUZE, G. & GUATTARI, F. El Antiedipo: capitalismo y esquizofrenia. Trad. Monge, F. Barcelona: Barral Editores, 1974.
FOUCAULT, M. Surveiller et Punir, Naissance de la Prison. París: Gallimard, 1975.
28 Idem, 1990, p. 4.29 Idem,1984, p. 38.
Impulso_28.book Page 79 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

80 impulso nº 28
__________. “Nietzsche, la genealogía, la historia”, en El Discurso del Poder. Trad. Varela, J. y Alvarez-Uría, F. Buenos Aires:Folios Ediciones, 1983.
NIETZSCHE, F. The Will to Power – La voluntad de poderío. Trad. Kaufmann, W. y Hollingdale, R.J. Nueva York: VintageBookds-Random House, 1969.
__________. Así Habló Zaratustra. Trad. Pascal, A.S. 8ª. ed., Madrid,1980.
__________. El Nacimiento de la Tragedia. Trad. Pascal, A.S. Madrid: Alianza Editorial, 1983.
__________. Humano, Demasiado Humano. Trad. Vergara, C. Madrid: EDAF, 1984.
__________. La Genealogía de la Moral. Trad. Pascal, A.S. 8ª. reimpresión, Madrid: Alianza Editorial, 1986.
__________. La Ciencia Jovial (La gaya scienza). Trad. y ed., Jara, J. Caracas: Monte Avila Editores, 1990.
RORTY, R. Contingency, Irony and Solidarity. Nueva York: Cambridge University Press, 1989.
VATTIMO, G. El Sujeto y la Máscara: Nietzsche y el problema de la liberación. Trad. Binagui, J. Barcelona: Ediciones Península,1989.
Impulso_28.book Page 80 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 81
NIETZSCHE, A LIÇÃO SCHOPENHAUER E O ETERNO RETORNONIETZSCHE, SCHOPENHAUER’S LESSON AND THE ETERNAL RETURN
Resumo Arthur Schopenhauer está presente no desenvolvimento da filosofia nietzs-chiana. Tanto que, nos seus escritos, Nietzsche o homenageia, tecendo elogios à ori-ginalidade do filósofo, e examina aspectos da obra de Schopenhauer que subsidiam aformulação de sua crítica da cultura. Este artigo indica elementos dessa influência, si-tua a tese do Eterno Retorno como uma resposta de Nietzsche ao pessimismo en-carnado por Schopenhauer e aborda algumas breves implicações do Eterno Retornono pensamento contemporâneo.
Palavras-chave EXISTÊNCIA – CULTURA – DIFERENÇA – VONTADE – VALOR – PO-
TÊNCIA.
Abstract Arthur Schopenhauer is present in the development of Nietzsche’s philo-sophy. So much so that in his writings, Nietzsche pays him homage by praising hisoriginality and examines some aspects of Schopenhauer’s work that support the for-mulation of his criticism of culture. This article indicates some elements of this in-fluence, bringing up the Eternal Return theory as Nietzsche’s answer to Schopenhau-er’s pessimism, indicating some implications of the Eternal Return to contemporarythinking.
Keywords EXISTENCE – CULTURE – DIFFERENCE – WILL – VALUE – POWER.
CARLOS ALBERTO SOBRINHO
Bacharel em Letras. Mestre edoutorando em Educação pelaPUC-RJ. Técnico em Assuntos
Educacionais do MEC
Impulso_28.book Page 81 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

82 impulso nº 28
fecundidade das idéias desenvolvidas por Nietzsche ain-da hoje reverbera nos debates empreendidos pela cultu-ra. No esforço de reflexão sobre as questões mais can-dentes das últimas décadas, o renovado exame da obrado filósofo demonstra o vigor do seu pensamento.Não obstante o valor da contribuição filosófica do sé-culo XIX, há reconhecidas limitações do seu alcance diantedos problemas erigidos pelo atual contexto sócio-políti-
co. Todavia, as dificuldades inerentes à aproximação do presente com o pas-sado não nos impede de reconhecer, na investigação teórica de Nietzsche,um campo de possibilidades para enfrentar as inquietações do mundo con-temporâneo, melhor compreender as circunstâncias históricas deste início deséculo e aprofundar o diagnóstico de nosso tempo. Como indagava Benja-min, afinal, em nossa relação com o futuro, “não somos tocados por um so-pro do ar que foi respirado antes?”.1
Nessa perspectiva, visitaremos os fragmentos de “Schopenhauer comoEducador”, reunidos no capítulo III das Considerações Extemporâneas, e al-guns dos principais aspectos sobre o “Eterno Retorno”, apresentado pela se-leção de textos de Gérard Lebrun, e publicados pela Editora Nova Cultural,na coleção Os Pensadores.
A fim de explorar as vicissitudes dos referidos temas, recorreu-se a lei-turas complementares, entre as quais destaca-se o relato de Gilles Deleuzecomo participante do VII Colóquio Internacional de Royaumont “Nietzs-che”, realizado em 1964 – momento em que no Brasil a formação do dife-rente não tinha horizonte, e a diferença sobrevivia à condenação e ao expur-go. Outros textos mais clássicos de Deleuze também foram consultados,além do posfácio do professor Antônio Cândido à publicação brasileira OsPensadores, da Editora Nova Cultural e do trabalho do professor italianoDomenico Losurdo (Nietzsche e La Critica della Modernità. Per una Bio-grafia Politica), um ensaio contundente sobre a natureza histórica e políticada crítica nietzschiana.
A LIÇÃO SCHOPENHAUERArthur Schopenhauer viveu entre 1788 e 1860. Diz-se ter sido um fi-
lósofo que não queria se vincular à escola pós-kantiana mas que, na realidade,inspirado pela aproximação com pensadores indianos e com Kant, conseguiuformalizar uma filosofia da vontade não muito distante do que Fichte já haviaproposto.
Por outro lado, sabe-se também que, em 1865, depois de abandonar ocurso de teologia na Universidade de Bonn, Nietzsche descobriu Scho-penhauer em Leipzig, ao se deparar com o título de seu principal trabalho,“O Mundo como Vontade e Representação”, exposto na vitrine de uma li-vraria. Ficou imediatamente impressionado com o que encontrou. Durante
1 BENJAMIN, 1993, p. 223.
AAAA
Impulso_28.book Page 82 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 83
onze dias, leu ávida e atentamente as duas mil pági-nas do livro, e acabou por conhecer toda a obra dofilósofo.
Embora no contexto do idealismo alemão(Kant, Fichte, Schelling e Hegel) a doutrina de Scho-penhauer seja identificada como portadora de poucoselementos originais, a lição extraída por Nietzschedessa viagem relaciona-se à importância de um pen-sador não se dobrar às opiniões alheias e às imposi-ções acadêmicas, buscar a independência do Estadoe da sociedade, respeitar a si próprio e, no confrontocom a ordem estabelecida, ser, sobretudo, fiel àssuas idéias e à sua verdade. Nove anos depois, umdos resultados desse encontro foi aparecer na Ter-ceira Extemporânea, publicada em 1874, “Scho-penhauer como Educador”.
KANT, A VERDADE E O PINTORSegundo Nietzsche, todo pensador íntegro
que estipulava sua trajetória a partir de Kant corria orisco de cair, primeiro, no isolamento e, depois, so-frer o desespero da verdade, desde que fosse vigo-roso nos seus sentimentos e nos seus desejos. Po-rém, ele reconhecia ser escassa a presença dessasqualidades no campo filosófico, e admitia que, naverdade, a extensão da influência transformadora deKant ainda era muito reduzida no espírito de suaépoca.
Entretanto, no testemunho de Heinrich vonKleist, um conhecido escritor de peças teatrais,Nietzsche teve o exemplo vivo do trauma a ser en-frentado por quem se submetia inteiramente ao ba-tismo de Kant. Tocados no cerne de sua verdade,ponderava o filósofo, só os homens mais ativos emais nobres, “que nunca agüentaram permanecerna dúvida”,2 experimentariam o abalo como efeitoda filosofia kantiana. Na reação de Kleist ao projetokantiano, o que comove Nietzsche é o modo comoo dramaturgo alemão foi afetado pelo pensamento,na sua relação mais íntima com a vida. “Não pode-mos decidir se aquilo que denominamos verdade éverdadeiramente verdade ou se apenas nos pareceassim. (...) Se a ponta desse pensamento não atingeteu coração, não sorrias de um outro que se sente
profundamente ferido por ele, em seu íntimo maissagrado. Meu único, meu supremo alvo foi a pique,e não tenho mais nenhum.”3
De acordo com Nietzsche, esta maneira desentir, quando desacomodam-se as convicções maiscaras aos pensadores, é condição necessária para oentendimento, depois de Kant, da importância deSchopenhauer como educador. Isto é, somente de-sinvestindo-se do ceticismo e do relativismo, susce-tíveis de serem provocados na alma popular pela sen-tença kantiana, é que os escritos de Schopenhauerpuderam encarnar o sentido trágico na interpretaçãoda vida como um todo, a partir de sua própria ex-periência.
Em meio a diversas descobertas e ao plenodesenvolvimento científico, ao realizar a crítica dointeresse dos cientistas pelo detalhe, Nietzsche in-voca a vida como pintura universal, e lembra que “épreciso adivinhar o pintor para entender a ima-gem”.4 O universal está para a imagem pintada as-sim como o pintor está para a tela. Sem a apreensãodo conjunto, apenas os fios singulares das ciênciasnão conseguem traduzir o tecido vivo das cores edos materiais da existência. Para Nietzsche, a gran-deza de Schopenhauer foi caminhar no sentido ani-mado e penetrante da imagem do mundo, sem serestringir à erudição ou ao refinamento conceitualda escolástica. A potência pedagógica de sua filoso-fia está em, admitindo o cisma, a dúvida e as con-tradições inerentes a todo pensamento – na urdidu-ra intrincada e insondável dos movimentos quecompõem a pintura viva do ser –, oferecer-se comoimagem da vida para a compreensão do sentido in-dividual, ou favorecer, na leitura da medida singular,o entendimento dos sinais da dimensão universal.
“Toda grande filosofia (...) sempre diz unica-mente: esta é a imagem de toda a vida, aprende nelao sentido de tua vida. Ou vice-versa: lê tua vida e en-tende nela os hieróglifos da vida universal.”5 Tanto aalusão a Schopenhauer quanto a referência a Kleisttraduzem o elogio ao caráter inovador da filosofiade Kant, e também significam uma crítica às teoriasdo conhecimento que, com o apogeu do Iluminis-
2 NIETZSCHE, 1996, p. 289.
3 KLEIST, H.W. In NIETZSCHE, 1996, p. 289.4 NIETZSCHE, 1996, p. 290.5 Ibid.
Impulso_28.book Page 83 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

84 impulso nº 28
mo, empenhavam-se na construção objetiva e cien-tífica do mundo, desvalorizando a implicação do su-jeito nessa construção, descartando a subjetividade.
Esse é o primeiro ponto a ser destacado dosfragmentos analisados que homenageiam Scho-penhauer: só posso conquistar a dimensão da vidauniversal se nela eu contemplo o horizonte da mi-nha própria vida.
O EMPREENDEDOR, O JUIZ E O EXTEMPORÂNEO
Um segundo aspecto observado por Nietzs-che é relativo ao impasse do pensador moderno emsua aventura de sobrelevar-se, de transfigurar a na-tureza e caminhar para a civilização. Diferente dosfilósofos gregos, que faziam a defesa intransigenteda physis em toda a plenitude de sua beleza e liber-dade, Nietzsche apontava o embaraço entre o esfor-ço de superação da vida imediata e a dúvida quantoao valor mesmo da existência como um dos proble-mas que contagiavam o juízo e o pensamento mo-dernos. Ou seja, a grandeza da vida só poderia sertangível mediante a renúncia à vontade de compreen-der o seu verdadeiro valor.
Nessa situação encontrava-se o falso dilemado empreendedor e do juiz, ou do reformador e dofilósofo, tal como Nietzsche o nomeia: quanto maiseu realizo, mais me abstenho de julgar o produto daminha realização, e quanto mais eu me ocupo dojulgamento das minhas ações e do mundo, mais medistancio de efetivar minha vontade de empreender.“Um pensador moderno (...) sempre sofrerá de umdesejo não cumprido: (...) ele considerará ser umhomem vivo, antes de poder acreditar que pode serum juiz justo.”6
A esta disjunção Nietzsche atribui o nasci-mento do espírito empreendedor da filosofia mo-derna – uma poderosa máquina de “fomentadoresda vida” –, emigrando do presente em direção aoavanço do processo civilizatório. Todavia, adverte ofilósofo, na transformação da natureza, a vida mo-derna sempre deixa um resto: nessa trajetória obsti-nada, ou cessa o realizador ou cala-se o juiz, a crítica.
Justo na capacidade de escapar de tal armadi-lha reside a virtude de Schopenhauer. Nietzscheempenha-se em mostrar que a grandeza do filósofono confronto crítico com as feridas do seu temponão representa uma luta infecunda, dirigida contra olutador e destinada a converter-se na sua autodes-truição. Ao contrário, Schopenhauer exerce a sua li-berdade mesmo é ao combater, na cultura, os valo-res que o impedem de afirmar a diferença do seupensamento.
Quando Schopenhauer torna-se hostil ao queem si mesmo encontra, não é para negar-se, mas, so-bretudo, para expulsar de seu interior as mazelas desua época, o veneno da cultura que deforma e limitasua aspiração a uma outra humanidade. Nietzsche,traçando o perfil do filósofo moderno, compara asua subordinação ao tempo como o vínculo do en-teado à figura da falsa mãe indigna; em nome de umreino saudável para a vida, ela deve ser afastada.
A advertência quanto ao papel crítico do filó-sofo frente ao movimento moderno assinala a legi-timidade da aventura de Schopenhauer. Equivocam-se, em vista disso, os intérpretes que dele extraemapenas a mensagem da ruína. Seus escritos, mais doque um defeito do escritor, significam a tentativa dedepuração das marcas visíveis da doença contempo-rânea: uma vida sem clareza e sempre pronta a serhipocritamente condenada. Nietzsche recusou opessimismo de Schopenhauer, mas depois de nelereconhecer uma força: “sua hostilidade, no fundo,está dirigida contra a impura mescla do incompatí-vel e do eternamente inconciliável, contra a falsa sol-da do contemporâneo com sua extemporaneidade;e, afinal, o suposto filho do tempo se mostra apenascomo seu enteado”.7
Celebrada por Nietzsche, esta é a manobra deSchopenhauer: a defesa do pensamento para alémda vida contemporânea, que aprisiona a filosofia nacrítica imobilizadora ou na realização acrítica. O ho-mem, empenhado no curso de seu projeto criador,não encalha entre o desejo de viver e a dúvida sobreo valor da vida; em toda a extensão da sua liberdadee diferença com os valores culturais, ele eleva à altura
6 Ibid., p. 291. 7 Ibid.
Impulso_28.book Page 84 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 85
da consideração trágica o exame da existência paratornar-se universal.
O ESTADO, O MUNDO DA CULTURA E A EXISTÊNCIA
O Estado, como resultado da civilização e ob-jetivo último da humanidade, só cabe na convicçãoda mais ferrenha estupidez daquele que tem no ser-viço estatal o seu supremo dever. Em oposição aesta promessa de felicidade anunciada pela inovaçãopolítica, Nietzsche propõe a destruição de toda for-ma de estupidez como tarefa superior ao dever deservir ao Estado.
Ao contrário dos professores de filosofia,acolhidos no conforto das organizações governa-mentais, o filósofo vê na vida moderna os sintomasde um provável aniquilamento da cultura: a descren-ça religiosa, a crescente hostilidade entre as nações,o avanço desmesurado da ciência e o potencial des-trutivo da economia monetária. Nietzsche vaticinaque, num mundo onde não há mais lugar para acontemplação, a simplicidade, o pensamento, “tudoestá a serviço da barbárie que vem vindo, inclusive aarte e a ciência de agora”.8
A capacidade de antecipar os graves proble-mas na proporção do que hoje enfrentamos é o tes-temunho do seu estilo ousado e visionário. Não dei-xa de ser notável que o perfil traçado pelo filósofopara o final do século XIX ainda permaneça familiara muitas das atuais análises de nossos dias, especial-mente quando diagnostica a condição humana fren-te aos ideais modernos: o “homem culto degenerouno pior inimigo da cultura, pois quer negar a doençageral e é um empecilho para os médicos”.9
Por reconhecer na cultura o quadro de umadebilidade generalizada, Schopenhauer não cede aoímpeto de conjurar, impotente, os atos políticos en-cenados diante de si, nem tampouco à tentação decompor o elenco da comédia social, que ofereciacomo horizonte para a vida o bom cidadão, o eru-dito, o comerciante ou o filisteu.
Ele não aceita esses limites, ajusta a sintoniados sentidos e dá início à investigação detalhada de
seus próprios demônios, do seu inconformismocom o crescimento do mundo moderno, cuja espe-rança reservada aos homens não ia além da sua par-ticipação residual no devir do Estado. “É uma deci-são pavorosa! (...) Pois agora ele precisa mergulharna profundeza da existência, com uma série de per-guntas insólitas nos lábios: Por que vivo? Que liçãodevo aprender da vida? Como me tornei assimcomo sou e por que sofro então com esse ser-as-sim? Ele se atormenta: e vê como ninguém se ator-menta assim.”10
Ao ressaltar a escolha de Schopenhauer, Niet-zsche observa que, na relação da vida com a cultura,em nome do projeto comum da civilização e daconvocatória ao adesismo irrefletido do jogo con-temporâneo, o homem não deve mutilar a sua dife-rença. Antes de se ocupar como um fantoche naburla do vir-a-ser moderno, Schopenhauer oferece-se em sacrifício como primeira condição para mediras coisas à medida de si, à medida do seu ser.
Associar-se ao sentimento infeliz, purgar adesilusão diante de toda a inverdade que lhe assalta-va o juízo foi a empresa de Schopenhauer para acer-car-se da verdade, para encarnar o sonho da existên-cia livre do peso do mundo e nascer transfigurado.“Sua força está em esquecer-se de si mesmo; e se elepensa em si, mede a distância de sua alta meta até sie é como se visse um desprezível monte de detritosatrás e abaixo de si.”11
A ascese de Schopenhauer permite a Nietzscheverificar que as ações de valorização da cultura mo-derna incentivadas pelas autoridades não fazem se-não promover o bem e a existência do Estado e deuma elite conformada. Juntos, negociantes, artistase eruditos tratavam apenas de defender os seus in-teresses imediatos e de zelar ciosamente pelos bene-fícios que conseguiam auferir. Este é mais um dospreceitos apreendidos de Schopenhauer. Na fron-teira da história que se anunciava, Nietzsche denun-cia como a dimensão da vida, convertida aos estrei-tos limites da sobrevivência moderna, levou o ho-mem original a sofrer de uma cruel má vontade e domais terrível desprezo, em condições onde o apare-
8 Ibid., p. 293.9 Ibid.
10 Ibid.11 Ibid., p. 293.
Impulso_28.book Page 85 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

86 impulso nº 28
cimento da sua singularidade tornava-se pratica-mente inexistente. À expansão do Estado corres-pondia o afastamento insular da existência revolucio-nada e do sentido livre e elevado da cultura.
AS INSTITUIÇÕES CULTURAIS,A FILOSOFIA E A EDUCAÇÃO
A partir do programa crítico de Schopenhau-er, que desnuda a índole fugaz e inconsistente domundo moderno, Nietzsche especula sobre algu-mas possíveis conseqüências para os estabelecimen-tos de ensino preocupados com a tarefa de instituiruma educação além da cultura da moda.
De início, ele entende como necessária a mu-dança de objetivos dos educadores superiores, cujasraízes remontam ao ideal da Idade Média de formareruditos. Sua recomendação é de que a primeira me-dida deve consistir em decantar os pensamentos dasinfluências medievais de formação cultural. No seuprisma, com Kant, estabelece-se uma bifurcaçãofundamental para o pensamento e, conseqüente-mente, para as instituições de cultura: o caminhodas benesses modernas e o caminho do autogover-no. No primeiro, a instituição cultural é compreen-dida na base de um conjunto de dispositivos e de leispor meio do qual seus integrantes legitimam-se eafastam os proscritos; no segundo, ela é tida comoorganização sólida de apoio e incentivo aos talentos,resguardando-os do “egoísmo míope do Estado”12
e da tentação bajuladora do espírito novidadeiro.
A recusa da adesão fácil defendida por Nietzs-che tem como meta um alvo superior ao da erudi-ção. Ele é bem claro em seus propósitos quando de-fende não ser tarefa da educação e da cultura criareruditos hipócritas, conformados à sua história maisrecente. O intuito, na verdade, é o de cultivar ho-mens efetivos, homens livres com disposição herói-ca; trata-se de formar pensadores.
Para tanto, a investigação de si como princípioeducacional adquire tal relevância no pensamentonietzschiano que, mesmo admirando Kant, ele nãoconcede ao ilustre intelectual o mérito de ter suplan-tado a condição de erudito. Embora nele reconheçao portador de uma genialidade inata, Nietzsche
considera-o como gênio em estado latente. Do seuponto de vista, isto ocorre porque o filósofo, aocontrário do erudito, além de ter de ser um pensa-dor, deve ser também um homem empenhado em“retirar de si a maior parte do ensinamento”13 quealmeja e servir “para si mesmo de imagem e abrevia-tura do mundo inteiro”.14
A distância em relação à existência modernaera ponto de honra para o filósofo. O empenho, o es-forço para ir além da opinião corrente, eram iniciati-vas consideradas fundamentais e necessárias à liber-dade do pensamento: “Quando alguém se vê porintermédio de opiniões alheias, o que há de admirarse até mesmo em si próprio ele não vê nada alémde... opiniões alheias. E assim são, vivem e vêem oseruditos”.15
Tanto Schopenhauer quanto Goethe, ao sedespirem das máscaras da incultura e, se alimentandono passado, fundarem um processo de autoconheci-mento, experimentaram o júbilo de ter da vida, naaventura pesada de cada uma de suas odisséias, a maisleve e digna das imagens. Nos termos de Nietzsche,viram “o sagrado como juiz da existência”.16 Foramao encontro de uma única tarefa, de um único sen-tido, isto é, fundar, mediante a educação de si, umadiferença criadora e uma nova concepção de cultura,em oposição aos interesses decorativos do mundomoderno.
Nietzsche não vê com bons olhos a filiaçãode pensadores ao Estado, pois entende que por estarcomprometida com a “faca da verdade”,17 a liberda-de do pensamento não pode ser rebaixada à funçãodocente como meio de vida. Encerrada na cátedra, afilosofia corre sérios riscos de se acomodar comosaber universitário, abdicando do juízo e da críticainclusive ao próprio Estado. “Se alguém suporta,pois, ser filósofo em função do Estado, tem tam-bém de suportar ser considerado por ele como se ti-vesse renunciado a perseguir a verdade em todos osseus escaninhos.”18
12 Ibid., p. 296.
13 Ibid., p. 297.14 Ibid.15 Ibid.16 Ibid.17 Ibid., p. 298.18 Ibid.
Impulso_28.book Page 86 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 87
Na qualidade de concessões profundamentedanosas, Nietzsche rejeita o pensamento como pro-fissão, o filósofo como funcionário e a filosofiacomo erudição. A contemplação do filósofo deveser semelhante ao olhar do poeta, e não o exercíciode um filólogo, de um conhecedor de línguas ou deum historiador. Ao institucionalizar a filosofia, sus-peita Nietzsche, o Estado moderno transformou aatividade filosófica num aglomerado de sistemas ede críticas ininteligíveis, de onde os jovens, depoisde submetidos ao martírio de percorrê-lo, saem ali-viados e convictos dos benefícios do amparo cristãoe estatal.
Vimos com Nietzsche que a lição de Scho-penhauer pode ser traduzida em no mínimo trêsprincípios fundamentais: 1. a subjetividade como viade acesso ao universal; 2. o distanciamento das im-posições do presente como meio do desenvolvi-mento autocrítico e recurso de aproximação críticada história; e 3. a banalização da cultura promovidapelo alargamento do Estado e a incompatibilidadedo pensamento filosófico com o instituto da edu-cação moderna.
Depreendemos que a linha de sucessão refe-rida por Nietzsche – Kant, Goethe e Schopenhauer– apresenta uma trajetória comum relativa à impor-tância que estes intelectuais concederam ao examede suas inquietações confrontadas aos imperativoshistóricos dos séculos XVIII e XIX, sobretudo emface do projeto do sujeito moderno.
Inaugurado com o Iluminismo, o movimentode objetivação do mundo contrasta com a posturadesses pensadores que, em nome do livre exercícioda diferença frente ao que Nietzsche observoucomo a intranqüilidade da mundanização – “a crençano mundo” –,19 lançaram-se ao desafio de inscreverna história do mundo moderno o que poderíamoschamar de políticas da subjetividade: o recrutamentodo sujeito pela teoria do conhecimento de Kant; aexploração poética de Goethe sobre a vida humanaem todas as suas ramificações; a vontade como di-mensão trágica da vida, de Schopenhauer; e a vonta-de de potência no eterno retorno, de Nietzsche.
Em resposta ao que identificou na doutrina deSchopenhauer como a face do pessimismo, uma von-tade de não – Schopenhauer concebeu a força da von-tade como fundamento do mundo para aprisionar-seno sentimento da impotência –, Nietzsche formula avontade em sua máxima potência, e propõe a radica-lidade da diferença como o efetivo destino do eternoretorno, isto é, do vir-a-ser intempestivo.
O ETERNO RETORNOEm 1881, durante o passeio por uma aldeia da
cidade onde morava, Haute-Engandine, Nietzscheconcebeu o eterno retorno, cuja tese, segundo An-tônio Cândido, é a de que o mundo pode ser com-preendido como um desenvolvimento alternado dacriação e da destruição, do gozo e da dor, do bem edo mal.
De acordo com as conclusões do VII Coló-quio Internacional de Royaumont “Nietzsche”, oeterno retorno não constitui uma formulação quetenha sido objeto de exposições e desenvolvimen-tos sistemáticos de sua filosofia. O que há são no-tas e algumas indicações apresentadas na obra. Isto,contudo, não torna menor o valor do seu projetoque, conforme diz Nietzsche, pretende uma saídada mentira que já dura dois mil anos. Mas que saídaé essa? Como ela se organiza e quais são as ferra-mentas de Nietzsche para encaminhar tamanhoempreendimento?
Sob o risco de restringir a amplitude do tra-balho de Nietzsche caindo num discurso impru-dente e estéril, e mesmo ciente da aversão do eternoretorno às explicações e definições, buscar-se-á umaabordagem preliminar de alguns de seus principaisaspectos.
O DESMONTE DA CRÍTICA FILOSÓFICAApesar de inicialmente afetado por Scho-
penhauer e de nele ter identificado o ato legítimo deum querer – o rompimento da existência com o di-vino e a demonstração dos fenômenos modernoscomo sintomas de uma vontade –, Nietzsche distan-cia-se dessa filosofia, sobretudo por não endossar aidéia da vontade como aquilo que se reflete na apa-rência, na ilusão do mundo, recusando-se a sofrer daconsciência do conhecimento como representação.19 Ibid., p. 442.
Impulso_28.book Page 87 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

88 impulso nº 28
Em Nietzsche, a vontade não tem rosto, ela émúltipla, e só pode agir sobre uma outra vontadeporque “só uma vontade pode obedecer àquilo quea comanda”.20 Deste ponto de vista, Nietzsche de-sobriga-se definitivamente da distinção metafísicados mundos e anuncia a Vontade como o nome dolibertador e do mensageiro da criação e da alegria –ânimo fundamental eternizado na afirmação.“Quem encontra no esforço o mais alto sentimen-to, que se esforce; quem encontra no repouso omais alto sentimento, que repouse; quem encontraem subordinar-se, seguir, obedecer, o mais alto sen-timento, que obedeça. Mas que tome consciência doque é que lhe dá o mais alto sentimento, e não receienenhum meio! Isso vale a eternidade!”21
Segundo Nietzsche, há uma fonte de inspira-ção comprometedora de toda a filosofia: o princípioteórico que estabelece a distinção dos mundos daessência e da aparência, do verdadeiro e do falso, dointeligível e do sensível. Esta concepção, forjada porSócrates, tornou a vida algo a ser julgado, medido elimitado por um pensamento que só pode se exer-cer em nome de valores tidos como superiores – “oDivino, o Verdadeiro, o Belo, o Bem”–,22 e produ-ziu uma filosofia voluntarista e submissa.
A predominância dos critérios superiores, as-severa o filósofo, favoreceu em toda parte a vitóriado não sobre o sim, da reação sobre a ação. Na ma-triz socrática e nas doutrinas judaico-cristãs encon-tramos “a gênese das grandes categorias do pensa-mento: o Eu, o Mundo, Deus, a causalidade, a fina-lidade etc.”,23 terrenos nos quais triunfaram os con-tra-sensos do ressentimento, da má consciência e doideal ascético.
Estes três contra-sensos, segundo Deleuze,imprimem um tom bastante peculiar à filosofia davontade. Neles, a fraqueza e a infelicidade renun-ciam às forças ativas e acusam o outro como causada própria inanidade, tornam a ação vergonhosa eacomodam a impotência no sentimento da inveja,atribuem-se a si mesmas a falta primordial, introje-tam o erro, dizem-se culpadas pelo engodo que pre-
senciam da vida, dão o exemplo da renúncia, disse-minam o contágio reativo por todas as forças e, fi-nalmente, sublimam o fracasso nos valores piedosose superiores à vida em nome da própria salvação noalém. Eis a aliança de Deus com o homem para di-zerem, um ao outro, não.
Diz-se que alguém é forte porque ele carre-
ga: carrega o peso dos valores “superiores”,
sente-se responsável. Mesmo a vida, sobre-
tudo a vida, parece-lhe difícil de suportar. As
avaliações estão de tal modo deformadas
que já não sabemos ver que o carregador é
um escravo, que o que ele carrega é uma es-
cravatura, que o carregador é um carrega-
dor-fraco – o contrário de um criador, de
um dançarino.24
Sem embargo, a avaliação do filósofo vai maisalém. Para Nietzsche, mesmo a tarefa kantiana deconferir à crítica uma dimensão abrangente e posi-tiva, denunciando as falsas pretensões do conheci-mento, não colocou em causa a aspiração de conhe-cer, não fez a crítica da verdade e, embora tenha cri-ticado a falsa moral, não pôs em questão as aspira-ções da moralidade nem os seus valores.
Todavia, essa passagem em revista da culturaultrapassa a crítica da razão. Nietzsche observa quea predominância das formas reativas e acusatórias seexpressam também na dialética, enquanto uma artedestinada a nos convocar para a recuperação de“propriedades alienadas”,25 para a recomposição doEspírito ou da consciência.
Este objetivo da dialética contém o pressupos-to de que nossas propriedades sugerem a vida e opensamento em si como fenômenos mutilantes. Se-ria o caso então, pondera Deleuze, de nos tornarmosos verdadeiros sujeitos destas propriedades de muti-lação? O sacerdote foi interiorizado pela Reformamas não desapareceu, Deus foi morto mas o homemdele guardou e ocupou o essencial: o seu lugar. Sem acrítica dos valores, de fato, continuamos a sobrecar-regar as costas com o entulho secular dos valores es-tabelecidos, neles buscando algum reconhecimento.
20 DELEUZE, 1976, p. 6.21 NIETZSCHE, 1996, p. 442.22 DELEUZE, 1976, p. 20.23 Idem, 1981, p. 25.
24 Ibid.25 Ibid., p. 20.
Impulso_28.book Page 88 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 89
Na renúncia à crítica dos valores é que a afir-mação da vontade confunde-se com a imposição,com o desejo de dominar; subordina-se aos interes-ses e imperativos da dominação para se eternizar nopoder como a vontade do mesmo – à semelhança deum escravo que se torna poderoso mas que não seinventa como senhor. Para Nietzsche, a história uni-versal é a história do modo como as forças reativasse apoderaram da cultura ou a desviaram em seupróprio benefício. “Os nossos senhores são escra-vos que triunfam num devir-escravo universal: ohomem europeu, o homem domesticado, o bobo...Nietzsche descreve os Estados modernos comoformigueiros, em que os chefes e os poderosos le-vam a melhor devido à sua baixeza, ao contágio des-ta baixeza e desta truanice.”26
Na lida com a total inversão dos valores, comoescapar às proposições lógicas que, na verdade, es-condem uma segunda intenção teológica? Que leioriginária vai instituir o filósofo para dar conta docurso do mundo e da sua eternidade? Com quais re-cursos ele constrói um novo caminho?
O ARSENAL TEÓRICOPara situar o eterno retorno, Nietzsche recor-
re aos conceitos de força, infinito e tempo, articu-lando-os com a idéia da situação global. Diz o filó-sofo que a força total, resultado da atuação da mul-tiplicidade de forças do todo, não corresponde aoinfinito. Apesar dessa força não poder ser medida,ela é determinada. O que é infinito é o tempo, o ins-tante – “uma força eternamente igual e eternamenteativa”27 – em que todos os desenvolvimentos pos-síveis de força já transcorreram. Por isto, o que ge-rou o tempo e o que dele nasce é uma repetição, e asituação global de todas as forças sempre retorna. Ainfinidade só passou porque todas as possibilidadesdo que tem de ser na ordem e na relação de forçasjá se esgotaram.
“Outrora se pensava que a atividade infinitano tempo requer28 uma força infinita que nenhuma
força esgotaria. Agora pensa-se a força constante-mente igual, e ela não precisa mais tornar-se infini-tamente grande. Ela é eternamente ativa, mas nãopode mais criar infinitos casos, tem de se repetir:essa é a minha conclusão.”29 Uma conclusão a queNietzsche chegou como forma de evitar a tendênciada cultura em atribuir crédito ao teísmo. Ou se acre-dita na pluralidade de forças em retorno seletivo ecriador, “em um processo circular do todo”,30 ou se crêem um Deus voluntário, fiador do mundo e do ser.
Além da força, do tempo e do infinito, o arse-nal teórico que suporta o eterno retorno abrangetambém a articulação de noções como vontade, aca-so, sentido e valor. De início, ele considera comopropriedade fundamental da força estar em relaçãocom outra força, o que caracteriza a vontade. No re-lacionamento das forças, que se diferenciam emquantidade e qualidade, Nietzsche vê o acaso. Se nes-sa implicação do acaso as forças distinguem-se umasdas outras em quantidade, elas são forças dominan-tes ou dominadas; quando a diferença entre as forçasse expressa em qualidade, elas são ativas ou reativas.
Como todas as forças encontram-se em esta-do permanente de movimento, umas em relação àsoutras, compreende-se porque Nietzsche propôs avontade de potência como o princípio plástico de-terminante da relação entre elas. Enquanto é pró-prio da força agir ou reagir, à vontade de potênciacompete afirmar ou negar, apreciar ou depreciar.Pelo fato da vontade de potência também ser dotadadas qualidades afirmativas ou negativas, que são an-teriores às qualidades da força, é dela que derivam asignificação do sentido e o valor dos valores.
De maneira bastante abreviada, este é o tecidoconceitual que permite a Nietzsche engendrar umasaída ao predomínio de uma visão plotiniana domundo, ancorada no ideal religioso, moral e dialéti-co, buscando um outro caminho para a filosofia,para a história e para a política. “Uma nova imagemdo pensamento significa inicialmente o seguinte: overdadeiro não é o elemento do pensamento. O ele-mento do pensamento é o sentido e o valor. As ca-tegorias do pensamento não são o verdadeiro e o26 Ibid., p. 24.
27 NIETZSCHE, 1996, p. 439.28 O tempo do verbo, apesar de suscitar dúvidas ao leitor, corresponde aotexto original da publicação traduzida, e por isto foi mantido tal como estáeditado.
29 NIETZSCHE, 1996, p. 439.30 Ibid., p. 440.
Impulso_28.book Page 89 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

90 impulso nº 28
falso, e sim o nobre e o vil, o alto e o baixo, segundoa natureza das forças que se apoderam do própriopensamento”.31
Assim entendidos os elementos centrais daStimmung nietzschiana, neles, as referências à no-breza, à altivez e à mestria podem ser identificadascomo sendo próprias da vontade de potência afir-mativa, da força capaz de se transformar; por outrolado, a vileza, a baixeza e a escravidão figuram comocategorias pertinentes a uma vontade de potêncianegativa. Estas qualidades da vontade, logo, em sen-do afirmativas ou negativas, implicarão, respectiva-mente, num devir ativo e num devir reativo.
Por conseguinte, a partir da orientação de-leuziana, constata-se que o pensamento trágico deNietzsche substitui o ideal do conhecimento, dadescoberta do verdadeiro, pela interpretação e pelaavaliação. Interpretar é fixar o “sentido” de um fe-nômeno, que é sempre parcial e fragmentário; ava-liar é determinar o “valor” dos sentidos e totalizar osfragmentos, levando em conta a sua pluralidade.
Em última instância, na condição de crítico daciência e da cultura modernas, Nietzsche chama aatenção para “os direitos da diferença de quantidadecontra a igualdade e para os direitos da desigualdadecontra a igualação das quantidades”.32
A VONTADE DE POTÊNCIA: UMA NOVA ALIANÇA COM O MUNDO
Deleuze esclarece que o método de Nietzs-che procura descobrir novas “profundidades” desentido, alterando o espaço onde os signos se distri-buem. Ao se alterar esse espaço, as interpretações seorganizam em nova profundidade e cessam de ter overdadeiro e o falso como critério. No lugar da ló-gica, funda-se uma topologia e uma tipologia dopensar, sentir e mesmo existir: as interpretações su-põem não o que se interpreta, mas o tipo daqueleque interpreta.
No lugar da representação, não há nada, o quehá é a máscara, a avaliação; não propriamente coisasa interpretar e avaliar, mas somente a vontade de po-tência, que é potência de metamorfose, potência de
modelar as máscaras, potência de interpretar e deavaliar.
A propósito desta espécie de horror vacui, quedispara os processos de sentido e não remete a ne-nhuma substância essencial de valor, Deleuze nosoferece um exemplo de toda a magnitude contem-plada na vontade de potência: atrás da caverna pla-tônica não há outra coisa senão outra caverna atrásde toda caverna, atrás de cada profundidade há“uma profundidade original, ontológica, (...) abismoabaixo de todo fundo”.33
A vontade de potência não é uma vontadeque quer a potência ou que deseja dominar. Quererdominar é a imagem que os fracos fazem da vontadede potência, no seu mais baixo nível. Num graumais elevado, ela não equivale à cobiça e nem mes-mo à usurpação, porém guarda o sentido de dar e decriar. “Seu verdadeiro nome, diz Zaratustra, é a vir-tude que dá. Da mesma forma a máscara é a maisbela dádiva, testemunha da vontade de potênciacomo força plástica, como a mais alta potência daarte. A potência não é o que a vontade quer, masquem quer na vontade.”34
Sob a assistência de Deleuze, pode-se dizerque o papel da negação e da afirmação no perspec-tivismo nietzschiano, de acordo com o vetor de aná-lise, assume muitas significações, coexistindo sobtensões variadas. Se procuro ver do alto, afirmar im-plica reconhecer diferença, jogar, criar; se busco ana-lisar do ângulo do que se encontra abaixo, afirmarsignifica negar, se opor à diferença, ao que não cor-responde àquilo que a visão do que está embaixo é.
Em um outro exemplo dessa tensão, Deleuzeressalta a diferença entre o sim e o não do Asno e osim e o não de Zaratustra. O primeiro, quando dizsim, quando acredita afirmar, não faz senão carregar.Ele acredita que afirmar é carregar, o valor de suasafirmações ele o avalia segundo o peso do que car-rega. O que ele carrega? O “asno carrega antes detudo o peso dos valores cristãos; de resto, quandoDeus está morto, carrega o peso dos valores huma-nistas, humanos – demasiadamente humanos; en-
31 DELEUZE, 1976, p. 86.32 Ibid., p. 37.
33 ESCOBAR, 1985, p. 21.34 Ibid., p. 22.
Impulso_28.book Page 90 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 91
fim, o peso do real, quando não há mais valores demodo algum”.35
Eis o niilismo nietzschiano em seus três está-gios: o peso de Deus, o peso do homem e o peso doúltimo dos homens – a carga que nós conduzimosquando não temos mais o fardo da teodicéia. Aoque o asno diz sim ao mesmo tempo em que diznão a si mesmo, é ao niilismo: nele, a afirmação nãoé mais do que um fantasma, e o negativo, sua únicarealidade. Afirmar, para Zaratustra, não é sinônimode carregar, assumir a carga; afirmar significa desfa-zer-se da carga, descarregar, fundar o ato solene esublime da dança, da criação. O sim de Zaratustra éa afirmação do dançarino, o sim do asno é a afirma-ção do carregador; o não de Zaratustra é o da agres-sividade, da atitude, o não do asno é o do ressenti-mento.
PRODUÇÃO DA DIFERENÇA E CRIAÇÃO DE NOVOS VALORES
Dos conceitos apresentados por Nietzsche, oeterno retorno é um dos mais complexos e de difícilalcance. Isto porque as proposições de sua filosofiaencontram-se estruturadas numa conformação me-todológica onde se privilegia a interação múltipla designos. Em sua obra sempre vigora uma pluralidadede sentidos, resultado das forças que ali se manifes-tam e atuam.
Na visão do filósofo, tudo aquilo que há estásempre no regime de um complexo de sentido. Des-se modo, toda possibilidade de interpretação remeteà possibilidade infinita de interpretar, de se produziroutra interpretação. Mas isso não autoriza a que to-das as interpretações tenham o mesmo valor e este-jam no mesmo plano, porque, como vimos, o valoré determinado pela vontade de potência.
Dentre as diversas abordagens possíveis, De-leuze sustenta ser o eterno retorno o tema que per-mite resgatar a importância e o sentido fundamentalda afirmação na filosofia de Nietzsche. Para isso, eledistingue a originalidade do filósofo em contrastecom as formulações mais clássicas do problema.
Desde as raízes pré-socráticas, o eterno retor-no constitui uma das idéias mais antigas da filosofia.
Lá, conforme as civilizações e as escolas filosóficasda época, o conceito era articulado a outras noçõesespeculativas e concebido sob variadas formas. Demaneira geral, essas formas do eterno retorno eramvistas como ciclos incomensuráveis, que provavel-mente não tinham uma abrangência total e nemmesmo eram consideradas como eternas.
De acordo com Deleuze, no passado, o eter-no retorno não chegou a se confirmar como umadoutrina. Na Antiguidade, ele era o resultado deuma interpretação das transformações ocorridas ouno mundo físico ou na dinâmica dos astros. De umlado, as mudanças cíclicas geradas na interação doselementos qualitativos determinavam o retorno dascoisas e dos corpos celestes; de outro, o movimentocircular dos corpos celestes determinava o retornodas qualidades e das coisas. Nenhuma dessas abor-dagens corresponde ao pensamento de Nietzsche.
Na expressão “eterno retorno” fazemos umcontra-senso quando compreendemos re-torno do mesmo. Não é o ser que retorna,mas o próprio retornar constitui o ser en-quanto é afirmado do devir e daquilo quepassa. A identidade no eterno retorno nãodesigna a natureza do que retorna, mas, aocontrário, o fato de retornar para o que di-fere. Por isso o eterno retorno deve ser pen-sado como uma síntese: síntese do tempo ede suas dimensões, síntese do diverso e desua reprodução, síntese do devir e do serafirmado do devir, síntese da dupla afirma-ção.36
O eterno retorno de Nietzsche nos introduznuma dimensão não explorada, que não diz respeitonem à qualidade física nem à quantidade extensivado mundo, mas, sobretudo, ao domínio das inten-sidades puras – domínio desenvolvido como lei davontade de potência. Nietzsche visava a vontade depotência “como princípio ‘intensivo’, como princí-pio de intensidade pura”.37
Nesse mundo de intensas flutuações, de sig-nos e de sentidos, as identidades se dissolvem, e oquerer de cada um só se exerce na medida em que
35 DELEUZE, 1976, p. 23.
36 Ibid., p. 40.37 ESCOBAR, 1985, p. 25.
Impulso_28.book Page 91 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

92 impulso nº 28
abrange a extensão radical de toda alteridade. Nela,a presença a si se transforma em inumeráveis “ou-tros”, e só pode ser apreendida como um instante,uma atualização fortuita, cuja causa está no seu en-volvimento com toda a série. Assim, numa diferen-ça de intensidade, os signos se estabelecem e se tor-nam “sentido” porque, ao se dirigirem para outrasdiferenças implicadas na diferença primeira, pormeio delas retornam sobre si.
O advento das flutuações ou intensidades quese atravessam umas nas outras caracteriza a vontadede potência; da volta e da re-volta em todas as dan-ças, contradanças e mudanças dessas flutuações ouintensidades é que decorre o eterno retorno. Sob aforça de Klossowski, assim Deleuze nos oferece avisão, a revelação e o enigma de Nietzsche. “(...) omundo do eterno retorno é um mundo em inten-sidade, um mundo de diferenças, que não supõenem o Um, nem o Mesmo, mas que se constrói so-bre o túmulo do Deus único como as ruínas do Euidêntico. O eterno retorno, ele mesmo, é a únicaunidade deste mundo que não desfruta disso senão“retornando”, a única identidade de um mundo quenão tem do “mesmo” senão pela repetição.”38
Na repetição, a vontade visa atingir a sua maiorintensidade, mas no infinito – onde não há distinçãoentre uma vez e uma infinidade de vezes –, a dimen-são mais radical da diferença corresponde à máximapotência dela mesma. Onde não há mais medida équando a expressão da diferença se exerce com maiorradicalidade (1, 110, 1100, 11.000, 110.000, 1n).
Mas que diferença seria essa que sai do mesmoe retorna em repetição? Deleuze nos assegura que oeterno retorno não é uma repetição mecânica, não éum ciclo, não supõe nenhum equilíbrio, nenhumaunidade, nem o mesmo ou o igual. Não é a volta doTodo, do Mesmo, nem um retorno ao Mesmo, enão tem nada em comum com a harmonia física e as-tronômica contemplada pelos antigos. Ele recorda,ainda, que Nietzsche, além de se opor à hipótese cí-clica, faz uma crítica contundente à noção de Tudo,sentenciando que Tudo também não volta, já que oeterno retorno é essencialmente seletivo.
A significação seletiva do eterno retorno se dáduplamente. Ele seleciona pela via do pensamentoporque elimina as “meias-vontades”, e seleciona pelavia do ser porque suprime as semi-potências. A du-pla dimensão do eterno retorno consiste, portanto,na afirmação irrestrita do querer e do ser, e o que elefaz voltar é a potência extrema de tudo que passapela prova.
Apesar do esforço da cultura na igualaçãodas diferenças, isto volta porque nada pode serigual, nem o mesmo pode ser idêntico a si. O de-sigual, o diferente é a verdadeira razão do eternoretorno. Ele concerne apenas ao vir-a-ser e ao múl-tiplo, num mundo sem ser, unidade ou identidade.“Por toda a parte o eterno retorno se encarrega deautenticar; não identificar o mesmo, mas autenti-car as vontades, as máscaras e os papéis, as formase as potências.”39
Nas relações de produção da diferença, lem-bra Deleuze, encontra-se uma diferença de naturezaentre as formas extremas e as formas medianas; en-tre a criação dos valores novos e o reconhecimentodos valores estabelecidos; entre atribuir-se valoresem curso e criar novos valores. Esta é a marca mes-ma do eterno retorno, a que constitui o seu funda-mento: “valores ‘novos’ são precisamente as formassuperiores de tudo o que é”.40
Dentre os valores, há aqueles que não apare-cem senão para se identificar com o reconhecimentoda ordem e aqueles que se perpetuam, mesmo de-pois de aparentemente assimilados pela sociedade.Esses valores, que transcendem o seu próprio tempode criação e sempre mobilizam novas forças sociais,testemunham a profundidade criadora da vontadede potência. É esse caos que Nietzsche afirmava sernão o contrário mas o próprio eterno retorno.
Dessa agitação caótica e elementar, o filósofoacena com a transformação da vida e do pensamen-to em novo horizonte histórico e político, contem-plando o super-homem como poeta, os trabalhado-res como soldados e o eterno retorno como a pró-pria vertigem da vida em poesia.
38 Ibid.
39 Ibid., p. 28.40 Ibid.
Impulso_28.book Page 92 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 93
CONCLUSÃOVimos que Nietzsche apreende da filosofia de
Schopenhauer elementos para a formulação de suaabordagem sobre a cultura moderna. A primeira li-ção é relativa à importância de o homem investigara si mesmo como condição necessária para atingir acompreensão crítica daquilo que se lhe impõe comohistória e como destino.
A segunda diz respeito à consolidação dessaatividade investigativa. Ela é indispensável para a re-alização crítica da cultura, e pressupõe que o pensa-mento não renuncie à diferença que opõe ao seutempo em nome de uma existência culturalmenteautorizada. Pensar e viver devem ser faces de ummesmo projeto criador auto-sustentado.
A terceira lição recomenda a prudência neces-sária na lida com a variante conservadora das insti-tuições culturais, circunscritas aos interesses do Es-tado. Isto porque, nelas, a vida fica restrita aos ho-rizontes estabelecidos pelo padrão vigente e a edu-cação, reduzida aos objetivos de uma sobrevivênciainfecunda e subumana para o indivíduo.
Este indivíduo, por mais que se lhe anunciecomo propósito a igualdade de condições para to-dos, tem o direito de exercer a singularidade de seuprojeto contra a modelização cultural e política. Pormais que lhe seja imposto o peso da carga dos valo-res estabelecidos, tem o direito de buscar novos va-lores para o homem e para a cultura. Por mais quelhe seja cobrada a identificação com a ordem cultu-
ral, tem direito a fundar um pensamento, assumir asua verdade e tornar-se sujeito de um caminho pró-prio.
Diante da rendição à mediocridade cultural epolítica, Nietzsche compreende que o produto dacoragem que institui o auto-exame, a crítica do pre-sente e a independência do pensamento, ao invés derepresentar o pessimismo de nada querer, significa oretorno de uma vontade recalcada pela cultura, quenão hesita em eternizar a vida e a alegria em suas má-ximas potências.
Para concluir, deixo o fragmento de Domeni-co Losurdo, reunindo em breves palavras a imagemque, do alto a baixo, o vôo da águia permitiu-nosvislumbrar.
O filósofo (...) não só pensa em termosprofundamente políticos, mas enfrenta ain-da o problema dos instrumentos necessári-os para o alcance dos objetivos anunciados:aspira explicitamente a um “novo partido davida”, que ele convida a “criar” através da“grande política”, caracterizada pelo despre-zo à mesquinharia chauvinista e provincialda “pequena política” nacional liberal e pelaconsciência que a contradição principal, aqual atravessa em profundidade toda mani-festação cultural e em torno da qual quasetudo gira e deve girar, é aquela entre o se-nhor e o escravo.41
Referências BibliográficasBENJAMIN, W. Magia e Técnica, Arte e Política. Ensaios sobre a literatura e história da cultura. São Paulo: Editora Brasiliense,
1993, v. 1.
DELEUZE, G. Nietzsche e a Filosofia. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1976.
__________. Nietzsche. Lisboa: Edições 70, 1981.
DIAS, R.M. Nietzsche Educador. Rio de Janeiro: Editora Scipione, 1991.
DIDIER, J. Dicionário da Filosofia. Rio de Janeiro: Editora Larousse do Brasil, 1969.
ESCOBAR, C.H. et al. Por que Nietzsche? Rio de Janeiro: Achiamé, 1985.
LOSURDO, D. Nietzsche e la Critica della Modernità. Per una biografia politica. Roma: Manifesto Libri, 1997.
MORA, J.F. Diccionario de Filosofia. Madrid: Alianza Editorial, 1981.
NIETZSCHE, F. Obras Incompletas. São Paulo: Nova Cultural, 1996.
ROSSET, C. Lógica do Pior. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 1989.
41 LOSURDO, 1997, p. 71.
Impulso_28.book Page 93 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

94 impulso nº 28
Impulso_28.book Page 94 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 95
LEOPARDI E NIETZSCHE:uma reflexão sobre história, memória e esquecimento LEOPARDI AND NIETZSCHE:a reflection about history,memory and forgetfulness
Resumo O escopo do presente estudo é examinar o conceito de história e memóriano pensamento de Friedrich Nietzsche1 e sua aproximação com o poeta GiacomoTaldegardo Francesco Leopardi.2 Mostraremos que a crítica ao sentido (finalidade) dahistória proposta pelo filósofo alemão já se encontra esboçada na poesia e na prosa deGiacomo Leopardi.
Palavras-chave HISTÓRIA – MEMÓRIA – ESQUECIMENTO.
Abstract The present study examines the concept of history and memory in thework of Friedrich Nietzsche and his approximation with the poet Giacomo Talde-gardo Francesco Leopardi. We will show that the critique of the meaning (goal) ofhistory proposed by the German philosopher is already found in the poetry and pro-se of Giacomo Leopardi.
Keywords HISTORY – MEMORY – FORGETFULNESS.
1 Friedrich Wilhelm Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1844 na cidade de Röcken, próxima a Leipzig. Aluno-modelo, era chamado pelos colegas de escola de “pequeno pastor”. Morreu em 1900, na cidade de Weimar.2 Nasceu em 29 de junho de 1798 em Recanati, no então Estado Pontifício das Marcas, filho do CondeMonaldo Leopardi e da Marquesa Adelaide Antici. Morreu em 14 de junho de 1837, com 39 anos, vitimadopor um ataque de asma e hidropsia cardíaca, numa casa em Vila Ferrigni. Ao seu lado, encontrava-se seu amigoRanieri. Foi sepultado na Igreja de São Vital, em Fuorigrotta. Em sua lápide, encontra-se a inscrição feita peloamigo Pietro Giordani: “Ao Conde Giacomo Leopardi de Recanati / filólogo admirado fora da Itália / escritorde filosofia e de poesia altíssimo / a comparar-se apenas com os gregos / o qual cessou aos XXXIX anos de vida/ em virtude de contínuas doenças terríveis / fez Antônio Ranieri / durante sete anos até a extrema hora / aoamigo adorado.MDCCCXXXVII)”. Deixou-nos 41 versos, 4.526 páginas do diário que intitulou Zibaldone, inú-meras cartas, além dos textos satíricos contidos nos Opúsculos Morais, entre outros.
JOSÉ GERARDO VASCONCELOS
Professor adjunto do Programade Pós-Graduação em Educação
Brasileira (UFC); editor-chefe darevista Educação em Debate da
Faculdade de Educação (UFC);bacharel em Filosofia, mestre
e doutor em [email protected]
Impulso_28.book Page 95 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

96 impulso nº 28
oesia e filosofia fundem-se em campos extremamenteaproximados. Leopardi e Nietzsche, cada um à sua ma-neira, encontram essa aproximação. Analisá-los é umrisco, e nesse caso as possibilidades são inúmeras frenteà beleza estilística de dois filólogos que se movem emtorno de um complexo campo eivado pelos dilemas davida humana. Pela poesia, Leopardi alça vôos imponde-ráveis e intempestivos. Sacode nas vielas da história os
arcabouços de temporalidade removidos pelas lembranças, e encontra na doro mais poderoso elemento da mnemônica. Seguindo a mesma trilha não tra-çada teleologicamente, pois continua difusa, arriscada e caótica nas rachadu-ras apalpadas pelo gênio de Leopardi, Nietzsche radicaliza contra a verdade eos elementos axiológicos que impedem as paixões humanas. Encontra na dorum elemento propulsor da lembrança. Consoante suas afirmações na Gene-alogia da Moral, “nunca nada se passou sem sangue, martírio, sacrifício, quan-do o homem achou necessário se fazer uma memória”.3
É provavelmente uma genealogia da genealogia de Nietzsche. A pesqui-sa da origem pode ser encontrada em Nietzsche ou Nietzsche bebe naságuas leopardianas? O Eterno Retorno gestado na alternância do nasci-mento e perecimento não estaria, pelo menos em germe, no pensamen-to de Leopardi? Inicialmente, mostraremos a aproximação de Nietzs-che com o poeta de Recanati em relação aos aspectos mais gerais dopensamento do filósofo. Em seguida, analisaremos a aproximação dosdois filólogos em relação à idéia de progresso e felicidade. Na seqüênciado texto, examinaremos a crítica, a teleologia e o conceito de genealogiaem Nietzsche, e, finalmente, procuraremos entender a importância dalembrança, esquecimento e dor para o filósofo alemão e para o poeta deRecanati.
NIETZSCHE E LEOPARDI: UMA PRIMEIRA APROXIMAÇÃO Refletir sobre o sentido da história no pensamento do poeta de Reca-
nati é embriagar-se com o encanto do filólogo e a erudição de um gênio quese estorva nos limiares da filosofia moderna e nos rituais lúgubres da solidão.É pela poesia e pela prosa leopardianas que reencontramos os segredos e a vi-talidade de muitos conceitos nietzschianos. É no mistério e na força viva deseus versos que as tragédias modernas são relançadas e coabitam nos diversossentidos de um tempo marcado pela força da crítica, só comparada à tragédia4
nietzschiana de Assim Falou Zaratustra. É nesse intempestivo poeta do mundo moderno que o sentido da his-
tória, a felicidade, a verdade e o prazer são revisitados, e a demonstração dainfelicidade e o diálogo com a morte não poupam sequer os deuses, comoacontece a Quíron que, entediado com a vida, pede licença a Júpiter e morre.
3 NIETZSCHE, 1983a, p. 304.4 MACHADO, 1997, procura relacionar o projeto de Assim Falou Zaratustra com A Origem da Tragédia, pri-meira obra de Nietzsche, de 1871.
PPPP
Impulso_28.book Page 96 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 97
Se Nietzsche é o pensador que mais radicalizacontra a verdade,5 Leopardi prepara-lhe as bases.Consoante as afirmações de Nietzsche6 no Crepús-culo dos Ídolos, ou a Filosofia a Golpes de Martelo, “omundo verdade; uma idéia que não serve mais paranada, não obriga a nada; uma idéia que se tornouinútil e supérflua; por conseguinte, uma idéia refu-tada: suprimamo-la”.
Leopardi,7 no Diálogo de Torquato Tasso eseu Gênio Familiar, dos Opúsculos Morais,8 dianteda afirmação de Tasso sobre o sonho, o Gênio per-gunta: “O que é a verdade?”. Tasso afirma: “Pilatosnão soube mais do que eu”. E o próprio Gênio res-ponde: “Bem, responderei por ti. Sabe que da ver-dade ao sonho não vai grande diferença senão queeste, às vezes, é muito mais bonito e doce do queela, que jamais o será”.
Leopardi encontra na dor o mais poderosocaminho e a mais nobre saída para o tédio. Enquan-to o homem sofre, não se entedia pelos desprazeresdo mundo, um mundo que caminha para o nada,que lança os seus filhos à solidão e ao desterro. É umconstante exílio de reposições tênues reescritas nopassar de um tempo que sucumbe nas tempestades.Conforme demonstra Leopardi no Cântico doGalo Silvestre, dos Opúsculos Morais:9
Cada parte do universo apressa-se infatiga-velmente para a morte com solicitude e ce-leridade admiráveis. Apenas o próprio pla-neta parece imune à decadência e ao declí-nio. Contudo, se no outono e no invernomostra-se quase enfermo e velho, não me-nos na nova estação rejuvenesce sempre.Mas como os mortais no primeiro momen-to de cada dia readquirem uma parte da ju-ventude, assim envelhecem todos os dias efinalmente se extinguem, igualmente o uni-
verso no princípio de cada ano renasce e
nem por isso deixa de continuamente enve-
lhecer. Tempo virá em que ele e a própria na-
tureza se apagarão. Assim como de grandes
reinos e impérios humanos com seus movi-
mentos maravilhosos, famosíssimos em ou-
tros tempos, nada resta hoje, de indício ou
fama, do mundo inteiro, dos acontecimentos
infinitos e das calamidades das coisas criadas,
não restará um vestígio sequer.
Ao que parece, a teoria do Eterno Retorno en-contra uma possível sustentação no Canto do GaloSilvestre, publicado com outros escritos satíricosnos Opúsculos Morais, em 1827. Temos conheci-mento de que Nietzsche, no verão de 1881, duranteum passeio na pequena aldeia de Silvaplana, teve aintuição de o Eterno Retorno – que foi redigido logodepois –, em que afirma que o mundo passa pela al-ternância da criação e da destruição, da alegria e dosofrimento, do nascimento e do perecimento.
Nietzsche10 cita Leopardi de uma maneira es-pecial, o que raramente faz com outros pensadores.Nas Considerações Extemporâneas II – Da utilidadee desvantagem da história para a vida, mostra que opensador supra-histórico “ilumina a história dos po-vos e dos indivíduos de dentro para fora (...) poiscomo, na infinita profusão dos acontecimentos, nãochegaria ele à saciedade, à saturação e mesmo ao no-jo! De tal modo que o mais temerário acabará, tal-vez, a ponto de dizer, como Giacomo Leopardi, aseu coração”. Cita, então, um poema de Leopardi11
e, embora não se refira ao título do poema, trata-sedo A Si Mesmo, escrito em 183312 em Nápoles,
5 Conferir sobre o assunto o livro de MACHADO, 1999, e um artigoanterior de VASCONCELOS, 1998.6 NIETZSCHE, 1976, p. 32. 7 LEOPARDI, 1996b, 354.8 Em 1820, tem a idéia de escrever algumas composições satíricas que,posteriormente, seriam denominadas Opúsculos Morais. Esse conjunto detextos é publicado em junho de 1827 pelo editor Stella. Entre junho eoutubro, inicia a compilação do índice do Zibaldone, que fora acrescido denovas correções, como Maquiavelismo e Sociedade, Aniversário, Ami-zade, Caráter, Educação, Egoísmo, Galateu moral, Juventude, Mundo,Simplicidade e Velhice. 9 LEOPARDI, 1996c, p. 418.
10 NIETZSCHE, 1983c, p. 59.11 LEOPARDI, 1996d, p. 972. 12 Encontrava-se em Nápoles em companhia de Antônio Ranieri e suairmã. Tentava suportar uma dolorosa doença que o torturava por mais decinquenta dias. Encontrava em Nápoles algum alento, pois o clima eraconsiderado aprazível pelo poeta. A tradução de Júlia Cortines é aseguinte: “Vais repousar p’ra sempre, ó meu cansado / E triste coração. /Supus eterna, e, no entretanto, é morta / Minha extrema ilusão. / É morta.Sinto bem / Que não só de quimeras a esperança / Está, dentro de nós,extinta, como / O desejo também / Repousa para sempre. Palpitaste / Bas-tante. Nada vale / O teu afã, nem de suspiro é digna / A terra. Nela o mal /Impera, e não tem fim. / É tédio apenas a amargura da vida, / E o mundoem que vivemos, lodo apenas. Acalma-te, por fim. / À nossa raça mise-rando o fado / Um Dom único fez: o dom da morte. Desespera agora /pela última vez. / Contigo envolve num igual desprezo a natureza toda, / Ea lei oculta e bárbara que rege / A miséria comum” (Versos. Rio de Janeiro:Typographia Leuzinger, 1894).
Impulso_28.book Page 97 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

98 impulso nº 28
com 35 anos, quatro antes de morrer, sofrendo deuma enfermidade que já o torturava por cinquentadias. O trecho do poema citado por Nietzsche é oseguinte: “Nada vive que fosse digno / De tuasemoções, e a Terra não merece um só suspiro. / Dore tédio é nosso ser e o mundo é lodo – nada mais./ Aquieta-te”.13
Nietzsche fora convidado, por meio de umacarta de 1874 do escritor e pianista Hans von Bülow,a traduzir a obra de Leopardi, ou, nas palavras deBülow, “traduzir a prosa do grande irmão românti-co de Artur Schopenhauer. Dizia-lhe precisar de umpensador que lhe fosse próximo e afim”.14 SegundoLucchesi, apesar da admiração pelo poeta italiano,Nietzsche “declina do convite, por não dominar detodo a língua italiana. Conhecia-o em tradução esentia-lhe o peso da existência”.15
A aproximação entre Nietzsche e Leopardi éimensa. É, contudo, em relação à crítica da históriaque encontraremos essa aproximação de formamais contundente.
O PROGRESSO E A FELICIDADE: CRÊS QUE, DE FATO, A ESPÉCIE HUMANA VAI MELHORANDO A CADA DIA?
O gênero humano, segundo Leopardi afirmano Diálogo de Tristão e um Amigo,16 “acredita sem-pre não na verdade, mas naquilo que é ou parece sermais verdadeiro aos seus propósitos”. A busca dafelicidade passa, então, a integrar essa ânsia de sen-tido na história. É nesse diálogo que o Amigo per-gunta, de forma irônica: “Crês, então, na perfectibi-lidade indefinida do homem?”.17 E Tristão respon-de: “Sem dúvida”. O Amigo indaga: “Crês que, defato, a espécie humana vai melhorando a cadadia?”.18 E ainda pergunta o Amigo: “Como conse-qüência, acreditas que este século seja superior a to-dos os passados?”.19 E finalmente Tristão parecedespertar quando afirma: “Digo-lhe francamenteque não me submeto à minha infelicidade, não bai-
xo a cabeça ao destino nem faço acordos com ele,como todos os outros homens; ouso desejar a mor-te, e almejá-la acima de qualquer coisa com tanto ar-dor e tanta sinceridade como creio firmemente queela é apenas para pouquíssimos homens no mun-do”.20
Nesse caso, a história deverá ser pensadacomo alternância de dor e felicidade. A idéia de pro-gresso associa-se à idéia de felicidade, que passa a serdenunciada pelo poeta Leopardi. É no Zibaldoni,contudo, que Leopardi21 apresenta mais substancial-mente a crítica da história e da felicidade. Inicial-mente, temos a crítica da eternidade: “A hipótese daeternidade da matéria não seria objeção e esses pen-samentos. A eternidade, o tempo, coisas que foramtão discutidas pelos antigos, não são, conforme ob-servaram os metafísicos modernos, nada mais doque o espaço, do que a expressão de alguma idéianossa relativa ao modo de ser das coisas, e não coisasou seres, como pareciam considerar os antigos”.22
Segue-se a essa crítica a desconstrução da fe-licidade associada à história.
Em muitas outras coisas, o desenvolvimen-
to, o progresso, a história do gênero huma-
no assemelham-se à do indivíduo como
uma figura que, ampliada, representasse a
mesma em menor tamanho, mas, entre ou-
tras coisas, a seguinte. Quando os homens
desfrutavam alguma felicidade ou uma infe-
licidade menor que a presente, quando per-
dendo a vida perdiam algo, arriscavam com
maior desprendimento.23
É esse ponto-chave da crítica da história que,a partir da idéia do risco, aproxima Leopardi e Ni-etzsche. Essa idéia encontra na possibilidade do aca-so a contraposição ao reino dos fins e da vontade.Nietzsche,24 no Aurora, mostra que o acaso é des-provido de sentido. E Foucault,25 ao analisar a his-tória no texto Nietzsche, a Genealogia e a História,
13 LEOPARDI apud NIETZSCHE, 1983c, 59.14 BÜLOW apud LUCCHESI, 1996, p. 19. 15 LUCCHESI, 1996, p. 20.16 LEOPARDI, 1996a, p. 450.17 Ibid., p. 451.18 Ibid., p. 452.19 Ibid., p. 453.
20 Ibid., p. 455. 21 Idem, 1996e, p. 593.22 Ibid.23 Ibid., p. 594.24 Idem, 1983f, p. 89.25 FOUCAULT, 1986, p. 28.
Impulso_28.book Page 98 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 99
publicado no Brasil na Microfísica do Poder, mostra-nos que é preciso
Compreender este acaso não como um
simples sorteio, mas como o risco sempre
renovado da vontade de potência que a todo
surgimento do acaso opõe, para controlá-lo,
o risco de um acaso ainda maior. De modo
que o mundo, tal qual nós o conhecemos,
não é essa figura simples onde todos os
acontecimentos se apagaram para que se
mostrem, pouco a pouco, as características
essenciais, o sentido final, o valor primeiro e
último; é, ao contrário, uma miríade de
acontecimento.
GENEALOGIA OU TELEOLOGIA?Buscando os dissabores do tempo é que se
encontra, nas entranhas das tempestades, os signifi-cados múltiplos e, ao mesmo tempo, as diversas uti-lidades de uma determinada coisa, gênero ou idealde verdade. O instituído axiológico vivido na histó-ria emana de acasos, vielas e descaminhos de umarota não traçada e de um sentido sem sentido. Todasas utilidades, conforme Nietzsche26 demonstra naGenealogia da Moral, “são apenas sinais de que umavontade de potência se tornou senhora de algo me-nos poderoso e, a partir de si, imprimiu-lhe o senti-do de uma função”.
É então que a história inteira de uma determi-nada coisa ou de um órgão pode ser simplesmenteuma “continuada série de signos de sempre novas in-terpretações e ajustamentos”.27 A história passa, en-tão, a seguir caminhos já traçados pelo desenvolvi-mento de um a priori pleonasmicamente teleológico.
Faz-se então necessário desconstruir o dito,
revisitar os lugares e os signos da história;
por mais sagrados e onipotentes que pare-
çam, por mais justos e nobres que os con-
ceitos se apresentem, o seu sentido foi im-
primido em postulados rígidos fixados nas
gôndolas que transportam conceitos eter-
nos. A genealogia aparece como necessida-
de de reparação de um dano que fora causa-
do à história com a rigidez de uma mão de
ferro.
A genealogia segue o múltiplo e o diverso.
Encanta-se com os segredos. Caminha passo a pas-
so nas pegadas meticulosas e nas vielas mais estrei-
tas. Rescreve os códigos de honra, reabilita o anti-
herói. Apraz-se no desdém do nada. Ajunta os pe-
daços do tempo. Devolve os lamentos e os prantos
funestos de ritos e símbolos. Galopa nos sinais já
quase apagados pelo tempo, pois o tempo não é da-
do, é reinventado. Conforme relata Nietzsche no
Humano, demasiado Humano,28 “tudo veio a ser;
não há fatos eternos, assim como não há verdades
absolutas”.
Nesse caso, a crítica ao sentido da história jus-
tifica-se contra todo e qualquer desdobramento do
“espírito absoluto” e Nietzsche,29 nas Considerações
Extemporâneas II – Da utilidade e desvantagem da
história para a vida, chega a ironizar com o divino
hegeliano, quando afirma que “essa história enten-
dida hegelianamente foi chamada com escárnio e
perambulação de Deus sobre a terra, Deus este que,
entretanto, por seu lado, só é feito pela história. Esse
Deus, porém, tornou-se, no interior da caixa crania-
na de Hegel, transparente e inteligível para si mesmo
e já galgou os degraus dialéticos do seu vir-a-ser até
chegar a essa auto-revelação”.30
É que, para Nietzsche,31 “está mais do que no
tempo de avançar contra os descaminhos do sentido
da história, contra o desmedido gosto pelo proces-
so”. Todavia, essa crítica encontra a complementação
no método filológico, considerado um método crí-
tico que procura fazer falar o que permanece mudo.
É na Genealogia da Moral que esse procedimento se
torna transparente. É na Primeira Dissertação que
Nietzsche mostra esse procedimento: “Todo respei-
to, pois, pelos bons espíritos que possam reinar nes-
ses historiadores da moral! Mas o que é certo, infe-
lizmente, é que o próprio espírito histórico lhes falta.
(...) A incompetência de sua genealogia da moral
26 NIETZSCHE, 1983a, p. 308.27 Ibid.
28 Idem, 1983b, p. 92. 29 Idem, 1983c, p. 68.30 Ibid., p. 68.31 Ibid., p. 69.
Impulso_28.book Page 99 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

100 impulso nº 28
vem à luz logo no início, quando se trata de averiguara proveniência do conceito e juízo ‘bom’”.32
Diriam os historiadores da moral que o con-ceito bom tem na origem as ações não egoístas, lou-vadas e/ou denominadas boas, ou que, simplesmen-te, pudessem ser louvadas como boas de acordocom a utilidade de seus criadores. Essa idéia acabareproduzindo um desenvolvimento ou meta na his-tória, em que o bom é o que produz a compaixão ea piedade dos outros. Nietzsche desconstrói essaidéia mostrando que os “genealogistas” procuraramo foco no lugar errado.
O juízo “bom” não provém daquele a quemfoi demonstrada a bondade! Foram antes“os bons” eles próprios, isto é, os nobres,poderosos, mais altamente situados e de al-tos sentimentos, que sentiram e puseram a simesmos e a seu próprio fazer como bons,ou seja, de primeira ordem, por oposição atudo o que é inferior, de sentimento inferio-res, comum e plebeu.33
Ao demonstrar que a produção de conceitosé um ato de disputa, segue-se a idéia de que essesmesmos conceitos não são, não podem e não de-vem ser tematizados como eternos. Ao contrário,são suscetíveis de reinvenções, devendo ser revisa-dos. A produção de conceitos deve ser entendidaem meio ao grande emaranhado da história gestadaem jogos de força. Como assinala Foucault,34 “ogrande jogo da história será de quem se apoderardas regras, de quem tomar o lugar daqueles que asutilizam, de quem se disfarçar para pervertê-las, uti-lizá-las ao inverso e voltá-las contra aqueles que astinham imposto”.
É seguindo esse jogo de forças que podería-mos pensar: se os nobres geram os conceitos, po-deríamos encontrar a resistência nos escravos. Ni-etzsche discorda dessa idéia. Os escravos construí-ram uma moral fundada na piedade e na compaixão– o que Nietzsche denominou moral do ressenti-mento –, que não conseguem se opor à produção deconceitos gerada pelos nobres. Segundo Nietzsche,
“O homem do ressentimento não é nem fraco nemingênuo, nem mesmo honesto e direto consigomesmo. Sua alma se enviesa; seu espírito gosta deescaninhos, vias dissimuladas e portas dos fundos,tudo o que é escondido lhe apraz como seu mundo,sua segurança, seu refrigério; ele entende de calar, denão esquecer, de esperar, de provisoriamente ape-quenar-se, humilhar-se”.35
O homem do ressentimento vive a sua des-graça justificada no mundo exterior. Busca um cul-pado pelas adversidades de sua vida. Sua ação é sem-pre através de reação. Necessita de estímulos exter-nos para sobreviver. Diante da possibilidade deconstruir o seu caminho, ele procura reagir a partirdo culpado ou de um possível culpado pela sua dorem vez de voltar-se para si próprio e construir o seucaminho.
MEMÓRIA E HISTÓRIA EM LEOPARDIE NIETZSCHE: SONHO, LEMBRANÇA, ESQUECIMENTO E DOR
A utilização da memória como possibilidadede recomposição do passado ligado à consciência detemporalidade insurge-se no pensamento de Nietzs-che36 como desconstrução de um possível senti-mento de prazer imanente à história. Na SegundaDissertação da Genealogia da Moral, ele lança: “Co-mo se faz no animal-homem uma memória?” ou,então, “Como se imprime algo a esse em parte em-botado, em parte estouvado entendimento de ins-tante, a essa viva aptidão de esquecimento, de modoque permaneça presente?”. As duas perguntas deNietzsche,37 na realidade, já apresentam uma inse-parabilidade entre lembrança e esquecimento. Aresposta nietzschiana tem sua origem “naquele ins-tinto que adivinha na dor o mais poderoso meio au-xiliar da mnemônica”.
Giacomo Leopardi,38 em um poema Sobre oMonumento a Dante, que se preparava em Florença,responde com meio século de antecedência à questãoproposta por Nietzsche: “Por que nos são os tempostão cruéis? / Por que o nascer nos deste ou, mais
32 Idem, 1983a, p. 299.33 Ibid., p. 290.34 FOUCAULT, 1986, p. 25.
35 NIETZSCHE, 1983a, p. 302.36 NIETZSCHE, 1983a.37 Ibid., p. 304.38 LEOPARDI, 1996f, p. 186.
Impulso_28.book Page 100 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 101
atrás, / Não nos deste o morrer, / Destino amargo?Vendo de infiéis / E estranhos nossa pátria serva e es-crava / E uma lima mordaz / Roendo a sua força,uma saída, / Um mínimo conforto / À dor malvadaque a dilacerava / Jamais lhe permitiste desfrutar”.
Ou ainda em outra poesia, composta em agos-to e setembro de 1829, quinze anos antes do nasci-mento de Nietzsche. Na poesia intitulada As Lem-branças, Leopardi39 verseja: “Recordo-me, este som,nas minhas noites / Quando, menino, eu vigiava oescuro / De terrores assíduos, suspirando / pela ma-nhã. Pois não há coisa alguma / Que um veja ou sintasem que dela surja / Uma imagem ou doce remem-brança. / Doce por si; porém com dor assoma”.
Em um fragmento de 7 de outubro de 1823do Zibaldone, Leopardi mostra a relação da dor como tédio e, principalmente, a impossibilidade de o ho-mem experimentar o verdadeiro prazer. Nesse caso,“sempre que o homem não experimenta prazer al-gum, experimenta o tédio, quando não experimentaa dor, ou melhor, um desprazer qualquer”.40
Ora, se a memória é fixada pela dor, o homemdeve encontrar canais que possam abreviar o sofri-mento e a infelicidade. O sono é apresentado porGiacomo Leopardi41 no Zibaldone, em um frag-mento de 28 de novembro de 1821, como uma ima-gem do fim da vida. E o suicídio, seria contra a na-tureza? Leopardi responde com uma pergunta:“Que natureza, essa nossa atual?”.42 E responde:“(...) nossa verdadeira natureza, que em nada se re-laciona à dos homens do tempo de Adão, permite,antes, exige o suicídio. Se nossa natureza fosse aindaa primeira natureza humana, não seríamos infelizes,e isto, inevitavelmente e irremediavelmente; e nãodesejaríamos, antes, aborreceríamos a morte”.43
É desse ponto que poderemos pensar a im-portância do esquecimento em Nietzsche e Leopar-di. Para Nietzsche, em um texto de 1873, Sobre aVerdade e a Mentira no Sentido Extra-moral,44 osono é a possibilidade de desvio da verdade sem que
o sentimento moral possa impedir. Contudo, é so-mente pelo esquecimento que o homem algum diapode supor uma verdade. Para Nietzsche,45 esqueceré imprescindível. “É possível viver quase sem lem-brança, e mesmo viver feliz, como mostra o animal;mas é inteiramente impossível, sem esquecimento,simplesmente viver”. O esquecimento, fazendo par-te da vida, integra-se no limiar do desprazer onde seseleciona e/ou se evita os eventos e acontecimentoscapazes de promover a dor ou alegria/felicidade. ParaNietzsche,46 “todo agir requer esquecimento: assimcomo a vida de tudo o que é orgânico requer não so-mente luz, mas também escuro”.
Em Leopardi,47 a dor é algo presente na vida,e o homem busca formas de escapar à dor e ao tédioatravés do sono, suicídio, esquecimento ou do silên-cio. Isso não implica que a paixão deva ser suprimi-da. No Zibaldone, fragmento de 22 de outubro de1820, encontramos a seguinte asserção: Não é ne-cessário suprimir a paixão por meio da razão, masconverter a razão em paixão; fazer com que o dever,a virtude, o heroísmo etc. se tornem paixões. Assimo são por natureza. Assim o eram entre os antigose as coisas corriam muito melhor. Mas quando aúnica paixão do mundo é o egoísmo, então é racio-nal que se insurja contra a paixão.48
CONCLUSÃO
O elo entre esses dois pensadores é inegavel-mente muito forte. Certamente a paixão que osune ultrapassa a temporalidade. O risco da vida re-integra-se no risco que acabo de correr quando mepropus estudar os elementos nietzschianos e leo-pardianos da história e da memória. Essa é umadiscussão inicial, porém apaixonada. Pelo estilo deLeopardi, pelo modo intempestivo com que a fi-losofia de Nietzsche se apresenta no mundo atual.É necessário mergulhar também de forma apaixo-nada nas vielas e entrelinhas desses gênios da hu-manidade, pois, segundo Leopardi,49 “(...) o ho-mem desprovido de paixões não se moveria por
39 Idem, 1996g, p. 248.40 Idem, 1996e, p. 669.41 Ibid., p. 681.42 Ibid.43 Ibid., p. 680.44 NIETZSCHE, 1983d.
45 Idem, 1983c, p. 58.46 Ibid.47 LEOPARDI, 1996e.48 Idem, 1996c, p. 597.49 Ibid.
Impulso_28.book Page 101 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

102 impulso nº 28
elas nem mesmo pela razão, porque as coisas sãoassim e não se pode mudá-las, porquanto a razãonão é força viva nem motriz, e o homem acabará
por tornar-se indolente, inativo, imóvel, indiferen-te, apático, como se tem tornado em grandíssimaparte”.
Referências BibliográficasFOUCAULT, M. Nietzsche, a genealogia e a história. In: Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1986.
LEOPARDI, G. Diálogo de Tristão e um Amigo. Opúsculos morais. Poesia e Prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996a.
__________. Diálogo de Torquato e Tasso e seu Gênio Familiar – opúsculos morais. Poesia e Prosa. Rio de Janeiro: NovaAguilar, 1996b.
__________.Cântico do Galo Silvestre – opúsculos morais. Poesia e Prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996c.
__________. A Si Mesmo – variações leopardianas. Poesia e Prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996d.
__________. Zibaldone. Poesia e Prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996e.
__________. Sobre o monumento a Dante. Poesia e Prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996f.
__________. As Lembranças. Poesia e Prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996g.
LUCCHESI, M. Carta para um jovem do século XX. In: Giacomo Leopardi. Poesia e Prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996.
MACHADO, R. Nietzsche e a Verdade. Rio de Janeiro: Graal, 1999.
__________. Zaratustra – Tragédia Nietzschiana. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.
NIETZSCHE, F. Assim falou Zaratustra. Um livro para todos e para ninguém. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1986.
__________. Para a Genealogia da Moral. Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1983a.
__________. Humano, demasiado Humano. Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1983b.
__________. Considerações Extemporâneas. Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1983c.
__________. Sobre a Verdade e a Mentira no Sentido Extra-moral. Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1983d.
__________. A Gaia Ciência. Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1983e.
__________. Aurora. Porto: Rés, 1983f.
__________. O Crepúsculo dos Ídolos, ou a filosofia a golpes de martelos. São Paulo: Hemus, 1976.
VASCONCELOS, J.G. Educação e ciência na pós-modernidade: atalhos do poder ou vontade de verdade? In: Cadernos daPós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará. Correntes Modernas da Filosofia da Ciência. Forta-leza, 10: 7-14, 1998.
__________. Memórias do Silêncio: militantes de esquerda no Brasil autoritário. Fortaleza: EUFC, 1998.
Impulso_28.book Page 102 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 103
FREUD E NIETZSCHE: ontogênese e filogêneseFREUD AND NIETZSCHE:ontogenetics and phylogenetics
Resumo Estabelecer conexões entre os nomes de Freud e Nietzsche é apontar, paraalém de influências e débitos intelectuais, aspectos que permitam demonstrar um certocampo de problemas comuns. Contemporâneos da emergência dos estudos filológi-cos, ambos determinaram os desdobramentos das técnicas de interpretação no séculoXX. Não consta que tenham se encontrado, mas Freud fez referência às idéias deNietzsche em dois momentos de sua obra: no parágrafo acrescentado em 1919 nofinal do item B do capítulo VII da Interpretação dos Sonhos e numa nota de rodapé no es-crito de 1923, O Ego e o Id. O objetivo deste artigo é apresentar o complexo de Édipocomo o paradigma de leitura da analogia estabelecida por Freud entre a filogênese e asvicissitudes da pulsão no plano ontogenético. Deste modo, demarcamos a gênese daconsciência moral e do sentimento de culpa em Freud e estabelecemos uma interlocu-ção com o aforismo 16 da Segunda Dissertação da Genealogia da Moral de Nietzsche.
Palavras-chave FILOGÊNESE – ONTOGÊNESE – SENTIMENTO DE CULPA – CONS-
CIÊNCIA MORAL.
Abstract To establish connections between the names of Freud and Nietzsche is topoint out, beyond influences and intellectual debts, aspects that allow us to demons-trate a certain field of common problems. Contemporaries of the emergence of phi-lological studies, both men determined the development of the interpretative tech-niques in the twentieth century. Nothing tells us that they met each other, however,Freud made reference to Nietzsche's ideas in two moments of his work: in the pa-ragraph added in 1919 to the end of item B of chapter VII of The Interpretation of Dre-ams; and in a footnote to The Ego and the Id in 1923, The objective of this article isto present the Oedipal Complex as the paradigm for reading the analogy establishedby Freud between the phylogenetic and the vicissitudes of the instincts in the onto-genetic plane. In this way, we mark the genesis of the moral conscience and of theguilt feelings in Freud and we establish a dialogue with the 16th aphorism of the Se-cond Dissertation of Nietzsche’s Genealogy of the Moral.
Keywords FILOGENETIC – ONTOGENETIC – BLAME FEELING – MORAL CONSCIENCE.
MÁRCIO APARECIDO MARIGUELA
Analista praticante, membroda Escola de Psicanálise de
Campinas. Professor daFaculdade de Filosofia, História e
Letras da UNIMEP e doutorandoem Filosofia pela Unicamp
Impulso_28.book Page 103 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

104 impulso nº 28
Ah, a razão, a seriedade, o domínio sobre os afetos, todaessa coisa sombria que se chama reflexão, todos esses pri-vilégios e adereços do homem: como foi alto o seu preço!Quanto sangue e quanto horror há no fundo de todas as“coisas boas”.
FRIEDRICH NIETZSCHE
tempo de rememorar: o centenário de nascimento daInterpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud, e o cente-nário da morte de Friedrich Nietzsche. Contemporâne-os da emergência dos estudos filológicos, ambos deter-minaram os desdobramentos das técnicas de interpreta-ção no século XX. Para além de apontar influências, dé-bitos intelectuais ou coisas do gênero, relacionar osnomes Freud e Nietzsche implica constatar, primeira-mente, que ambos partilham de um cenário histórico
comum. Não consta que eles tenham se encontrado. No entanto, Freud1 fazreferência às idéias de Nietzsche em dois momentos de sua obra: no pará-grafo acrescentado em 1919 no final do item B (Regressão) do capítulo VII
(A psicologia dos processos oníricos) da Die Traumdeutung, e numa nota derodapé no escrito de 1923, O Ego e o Id. Certamente Freud leu Nietzsche eapropriou-se de dois argumentos fundamentais: o primeiro diz respeito à fi-logênese e o segundo, à ontogênese.
Ao longo do século XX, diferentes autores tematizaram a relaçãoFreud-Nietzsche. Michel Foucault, por exemplo, na conferência de 1964, ali-nhou Nietzsche, Freud e Marx para analisar as rupturas que cada um, a seumodo, realizou na hermenêutica moderna:
No primeiro volume do Capital, textos como o Nascimento da Tragédiae A Genealogia da Moral, a Traumdeutung, situam-nos de novo ante téc-nicas interpretativas. E o efeito do seu impacto, o gênero de ferida queestas obras produziram no pensamento ocidental, deve-se provavel-mente ao fato de terem significado para nós o que o mesmo Marx qua-lificou de “hieroglíficos”. O que nos coloca numa posição incômoda, jáque estas técnicas de interpretação nos dizem respeito, e que nós, comointérpretes, teremos que nos interpretar a partir destas técnicas.2
O objetivo desse artigo3 é apresentar o complexo de Édipo como o pa-radigma de leitura da analogia estabelecida por Freud entre o processo civi-
1 Paul-Laurent Assoun comenta a estranha contemporaneidade entre Freud e Nietzsche citando a ata da Ses-são de 1.º de abril de 1908 da Sociedade Psicanalítica de Viena, quando Freud afirmou que não conhecia a obrade Nietzsche, que nunca conseguiu estudá-lo, que não ia além de meia página nas tentativas de lê-lo. Cita tam-bém duas outras ocasiões em que Freud disse ter recusado o grande prazer proporcionado pela leitura de Niet-zsche e ter evitado, por muito tempo, o contato com sua escrita. ASSOUN, 1989, p. 15.2 FOUCAULT, 1987, p. 17.3 A primeira versão do artigo foi apresentada nas Jornadas Internas de 1996 da Escola de Psicanálise de Cam-pinas, cujo tema foi “Lacan no Simbólico”.
EEEE
Impulso_28.book Page 104 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 105
lizatório da filogênese e as vicissitudes da pulsão no
plano ontogenético. Partiremos de algumas referên-
cias biográficas da relação de Freud com a especula-
ção filosófica no período de escrituração do livro To-
tem e Tabu, de 1913, e a extensão deste no capítulo VII
de O Mal-estar na Civilização, de 1930. Deste modo,
iremos marcar a gênese da consciência moral e do
sentimento de culpa em Freud e estabeleceremos
uma interlocução com o aforismo 16 da Segunda
Dissertação da Genealogia da Moral de Nietzsche.
CONTEXTO TEMÁTICO
Assoun informa que, em 1873, quando Freud
ingressou no curso de medicina da Universidade de
Viena, seguiu os seminários de filosofia ministrados
por Franz Brentano. No mesmo ano, as aulas de ini-
ciação à reflexão filosófica e à história da filosofia
foram excluídas do currículo da Faculdade. Os alu-
nos não eram mais obrigados a cursar esta disciplina.
Mesmo sem a obrigatoriedade, instituída em 1804,
Freud freqüentou as aulas como atividade extracur-
ricular, levando mais tempo para concluir seu curso
regular. A Universidade de Viena de então era o
centro de excelência da investigação científica, e ha-
via pouco espaço para a especulação filosófica. Os
jovens universitários, formados dentro do mais ri-
goroso estilo positivista de ciência – e Freud era um
deles –, encontravam nas aulas de filosofia espaço
para aventuras no terreno filosófico.
Outro aspecto ilustrativo da especulação filo-
sófica do jovem Freud pode ser identificado na cor-
respondência com sua noiva Martha. Numa carta de
16/08/1882, escreveu: “a filosofia, que sempre ima-
ginei como objetivo e refúgio para minha velhice,
cada vez mais me fascina todos os dias”.4 Nesse
mesmo período redigiu um “ABC filosófico”, com a
intenção de iniciar sua amada no campo desse saber.
Ernest Jones5 relata uma confidência feita por
Freud no início de 1910, período de maior repercus-
são dos Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade:
seu maior desejo era afastar-se da prática científica e
dedicar-se aos problemas filosóficos.
O campo do discurso filosófico é freqüenta-do por Freud de maneira decisiva para a constitui-ção da psicanálise. Por volta de 1912, realizou umapassagem que foi designada pelos críticos6 como ovôo de Ícaro: da escuta clínica, lugar de teorizaçõessobre a ontogênese, para a civilização, lugar da espe-culação filosófica sobre a filogênese.
Em 1914, no prefácio à terceira edição dosTrês Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade escreveu oseguinte: “A ontogênese pode ser vista como umarepetição da filogênese na medida em que esta nãoseja modificada por uma vivência mais recente. Apredisposição filogenética faz-se notar por trás doprocesso ontogenético. No fundo, porém, a predis-posição é justamente o precipitado de uma vivênciaprévia da espécie, à qual se vem agregar a experiênciamais nova do indivíduo como soma dos fatores aci-dentais”.7 Para Freud, o indivíduo repete em seussintomas o processo civilizatório. Por uma analogiaentre o itinerário da libido e do processo civilizató-rio, chega-se ao núcleo central da constituição psí-quica: o complexo de Édipo.
O complexo de Édipo é o núcleo constitucio-nal da subjetividade. Foi neste núcleo que Freud es-tabeleceu o elo para sua analogia entre o desenvol-vimento da libido individual e o desenvolvimentocivilizatório, realizando uma extensão da psicologiaindividual à psicologia das massas. No prefácio daprimeira edição de Totem e Tabu, afirmou que suasargumentações “representam uma primeira tentati-va de aplicar o ponto de vista e as descobertas da psi-canálise a alguns problemas não solucionados dapsicologia social”.8 Quais eram as descobertas dapsicanálise no período de escrita do Totem e Tabu?Sem dúvida, trata-se da sexualidade infantil e, nela, aconstrução do núcleo edípico. Tendo estruturado seuaparato teórico, Freud adentrou na “especulação filo-sófica” sobre a origem da espécie do animal humano.
Através da analogia entre a constituição daneurose (ontogênese) e o processo civilizatório (fi-logênese), Freud apropria-se de diferentes teoriasque dominavam o cenário filosófico de seu tempo.Com desenvoltura, cita autores da antropologia, da
4 ASSOUN, 1978, p. 12.5 JONES, 1970, p. 61.
6 GAY, 1989, p. 305. 7 FREUD, 1989, p. 124.8 Idem, 1990, p. 17.
Impulso_28.book Page 105 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

106 impulso nº 28
etnologia, da filologia, da física, da biologia e, prin-cipalmente, da literatura poética. Freud procurou,assim, introduzir o discurso psicanalítico no interiorda polifonia dos discursos existentes que aborda-vam o tema da origem da espécie humana. Um de-les é o discurso nietzschiano.
A GÊNESE DA CIVILIZAÇÃO: O MITO PRIMORDIAL DO PAI MORTO
Freud escreve Totem e Tabu para responder àseguinte pergunta: Como descrever a gênese doprocesso civilizatório? O tabu do incesto e sua con-seqüência prática, a exogamia, são apontados comoos pilares de sustentação da civilização. A civilizaçãoalicerça-se em dois tabus concomitantes: não mataro pai e não manter relações de acasalamento com asmulheres pertencentes a ele. Valendo-se da filologia,afirmou que tabu é um termo polinésio que possuium campo de significação: sagrado, invulnerável,misterioso, perigoso, proibido. Generalizando, po-demos inferir que o tabu é o que interdita, é a inter-dição cujo fundamento encontra-se na crença deque haverá uma punição para qualquer um que vio-lar o interdito.
Assim, o tabu é uma proibição convencionalimposta por tradição e tem um caráter de sagrado,que, se violado, acarreta em impureza: “As restriçõesdo tabu são distintas das proibições religiosas oumorais. Não se baseiam em nenhuma ordem divina,mas pode-se dizer que se impõem por sua própriaconta. (...) As proibições dos tabus não tem funda-mento e são de origem desconhecida. Embora se-jam ininteligíveis para nós, para aqueles que por elassão dominados, são aceitas como coisa natural”.9 Otabu é o código de leis não escrito mais antigo doanimal homem, e Freud propõe-se a analisar a hipó-tese de que é mais antigo que os próprios deuses eremonta a um período anterior à existência de qual-quer espécie de religião.
O tabu é, portanto, aquilo que estabelece a in-terdição, que, por sua vez, fundamenta-se numacrença no estado de impureza para aquele que o vio-lar. A culpa é o preço que deve ser pago por aqueleque não respeitar o interdito. O importante a des-
tacar aqui é o caráter convencional do tabu. É porisso que Freud insiste em abandonar as teorias queexplicam o horror ao incesto como algo natural. Ci-tando Frazer no conjunto de suas argumentações,Freud considerou que “não é fácil perceber porquequalquer instinto humano profundo deva necessitarser reforçado pela lei. (...) A lei apenas proíbe os ho-mens de fazer aquilo a que seus instintos os incli-nam; o que a própria natureza proíbe e pune, seriasupérfluo para a lei proibir e punir”.10
A gênese do tabu é relacionada com o sistematotêmico. O totem é o representante do tabu. “Oque é um totem? Via de regra é um animal e, maisraramente, um vegetal ou um fenômeno natural,que mantém relação peculiar com todo clã (...) é oantepassado comum do clã (...) é o seu espíritoguardião e auxiliar, que lhe envia oráculos.”11 A pro-teção que o totem promete ao clã exige obrigaçõessagradas, e qualquer violação representa impureza,infortúnios, sofrimentos, não só para o indivíduoparticular mas para todo o clã. O totem é o que dáidentidade ao clã, e seu fundamento está na proibi-ção das relações sexuais entre as pessoas do mesmototem. A exogamia é a manifestação do caráter to-têmico desta lei (interditando as fêmeas a outrosmachos jovens na horda primordial), que estabelecea identidade do totem.
O campo da investigação fica assim definido:“Os problemas decisivos relacionam-se com a ori-gem da idéia da descendência do totem e com as ra-zões para a exogamia (ou melhor, para o tabu sobreo incesto, de que a exogamia é expressão) e a relaçãoentre estas duas instituições, a organização totêmicae a proibição do incesto”.12 Ao introduzir os ele-mentos da teoria psicanalítica na abordagem do to-temismo e dos tabus que o sustentam, Freud for-mulou a hipótese de que o totem é o representantedo pai primordial. Os argumentos que a sustentampodem ser identificados em dois grupos: a origem dahorda primitiva de Charles Darwin e a cerimônia darefeição totêmica na religião dos semitas de WillianSmith. Freud explicita quem são seus interlocuto-
9 Ibid., p. 38.
10 Ibid., p. 150.11 Ibid., p. 21.12 Ibid., p. 133.
Impulso_28.book Page 106 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 107
res em sua trajetória: a biologia evolucionista deDarwin e a arqueologia de Smith.
O estado social dos primitivos é definido porDarwin em sua obra A Descendência do Homem, de187,1 nos seguintes termos: a primeira regra práticado macho ciumento é a exclusão de outros machosjovens da horda. A horda primordial é o modelo dasrelações endogâmicas, onde um macho forte e ciu-mento interdita suas fêmeas do contato com outromacho, expulsando-os de seu domínio territorial. Asegunda hipótese que sustenta a argumentação deFreud é a refeição totêmica extraída da obra A Reli-gião dos Semitas, de Willian Smith, publicada em1889. Nela, reconhece que
A forma mais antiga de sacrifício, mais do
que o uso do fogo ou do conhecimento da
agricultura, foi o sacrifício de animais, cuja
carne e sangue eram desfrutados em co-
mum pelo deus e por seus adoradores. (...)
Um sacrifício dessa espécie era uma cerimô-
nia pública, um festival celebrado por todo
o clã. (...) Em todos os lugares, o sacrifício
envolvia um festim e um festim não podia
ser celebrado sem um sacrifício. (...) A re-
feição sacrificatória, então, foi em princípio
um festim de parentes, de acordo com a lei
de que apenas parentes comem juntos.13
O animal totêmico é sacrificado num festimde parentes. Mas se uma das regras básicas do tote-mismo é a proibição de matar o animal totem, comoele se torna o alimento da refeição sacrificial? A res-posta deve ser buscada na prática do sacrifício: amorte do animal totêmico é proibida na esfera doparticular, e permitida só quando todo o clã partilhada responsabilidade do ato. O animal sacrificado eraconsiderado membro do clã e sua morte só pode serefetivada porque o clã assume o sacrifício como fes-ta. Comer a carne do animal sacrificado é adquirirsua força, porque o totem é o símbolo do poder.Assim, os integrantes do clã, consumindo o totem,adquirem a força: reforçam sua identificação comele e uns com os outros; os laços sociais estão soli-dificados no ato de comer juntos o animal totêmico.
Eis o momento para Freud apresentar o queconsiderou sua hipótese fantástica: cruzar a inter-pretação psicanalítica do totem (substituto do pai)com a refeição totêmica e a horda primitiva. “A re-feição totêmica, que é talvez o mais antigo festivalda humanidade, seria assim uma repetição e uma co-memoração deste ato memorável e criminoso quefoi o começo de tantas coisas: da organização social,das restrições morais e da religião”.14
O tema do parricídio com o qual Freud tra-balha para interpretar a origem do sentimento deculpa deve ser remetido às fontes literárias constan-tes em suas pesquisas filogenéticas. Ernest Jonesnos informa que Freud alinhou-se ao tema atravésdas seguintes obras: Édipo Rei, de Sófocles, Hamlet,de William Shakespeare, e Os Irmãos Karamazov, deDostoievski.
As duas leis primordiais do totemismo – nãomatar o pai e não manter relações incestuosas comas mulheres pertencentes a ele – são apontadascomo correspondentes aos dois desejos reprimidosno complexo de Édipo. Portanto, essas duas leis es-tabeleceram as bases para a organização social. ParaFreud, ambas não estão psicologicamente no mes-mo nível: “O primeiro deles, a lei que protege o ani-mal totêmico, fundamenta-se inteiramente em mo-tivos emocionais: o pai fora realmente eliminado e,em nenhum sentido real, o ato podia ser desfeito.Mas a segunda norma, a proibição do incesto, temtambém uma poderosa base prática: os desejos se-xuais não unem os homens, mas os dividem”.15
O mito do parricídio primordial permite sus-tentar a substituição da horda patriarcal pela hordafraterna; a união dos irmãos sustenta, assim, o laçosocial consangüíneo: “A sociedade estava agora ba-seada na cumplicidade do crime comum; a religiãobaseava-se no sentimento de culpa e no remorso aele ligado, enquanto a moralidade fundamentava-separte nas exigências dessa sociedade e parte na pe-nitência exigida pelo sentimento de culpa”.16
A conclusão de Totem e Tabu apresenta o eixotemático da analogia entre o processo filogenético eontogenético. Freud considera que a experiência clí-
13 Ibid., pp. 161-163.
14 Ibid., p. 170. 15 Ibid., p. 172.16 Ibid., p. 175.
Impulso_28.book Page 107 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

108 impulso nº 28
nica da psicanálise revela que, no neurótico, o pen-samento constitui um substituto completo do ato,enquanto que, no homem primitivo, é o ato queconstitui um substituto do pensamento. Ou seja,aquilo que foi ato para o primitivo é pensamentopara o neurótico. Dessa forma, o neurótico repre-senta a cena mítica primordial da gênese da civiliza-ção: a ontogênese recapitula e repete a filogênese. Osentimento de culpa dos neuróticos remete-se, as-sim, aos dois tabus que alicerçam a civilização: nãomatar o pai e não manter relações incestuosas comas mulheres que a ele pertencem.
FREUD COM NIETZSCHE: SENTIMENTO DE CULPA E MÁ CONSCIÊNCIA
Na apresentação do Seminário 7 – A ética dapsicanálise, Jacques Lacan captura o problema aoafirmar que a experiência psicanalítica conduz a umaprofundamento do universo da falta. Considerouque a “atração da falta” é a demanda do doente, “àqual nossa resposta confere uma significação exata –uma resposta da qual devemos conservar a mais se-vera disciplina para não deixar adulterar o sentido,em suma profundamente inconsciente, dessa de-manda”.17
De que falta se trata? “Seguramente, não é amesma que o doente comete com o fim de ser pu-nido ou de se punir. Quando falamos de necessida-de de punição, trata-se justamente de uma falta quedesignamos, que se encontra no caminho dessa ne-cessidade, e que é procurada para obter essa puni-ção. Por meio disso, somos transpostos, um poucomais adiante, em direção a não sei que falta maisobscura que clama essa punição”. Freud chegounesse “pouco mais adiante” ao qual referiu Lacan. Ocaso clínico “O homem dos lobos” é um exemplolapidar desse “mais adiante”. Lacan interrogou osdois momentos da obra de Freud em que a falta éteorizada: “Será a falta que a obra freudiana designaem seu início, o assassinato do pai, esse mito colo-cado por Freud na origem do desenvolvimento dacultura? Ou será a falta mais obscura e ainda maisoriginal cujo termo ele chega a colocar no final desua obra, o instinto de morte, dado que o homem
está ancorado, no que tem de mais profundo em simesmo, em sua temível dialética?”.18
Ao iniciar seu diagnóstico do mal-estar na ci-vilização, Freud escreveu para Lou Andreas-Salomé,em julho de 1929, dizendo que havia terminado umtrabalho onde “trata da civilização, do sentimentode culpa, da felicidade e de tópicos elevados seme-lhantes, e me parece, sem dúvida com razão, muitosupérfluo, em contraste com trabalhos anteriores,que sempre brotaram de alguma necessidade interior.(...) Escrevendo este livro descobri de novo as ver-dades banais”.19 E quais são as “verdades banais”que Freud descobriu novamente? A resposta pode-mos encontrar no que Ernest Jones chamou defoco central do livro: “Freud pretendeu representaro sentimento de culpa como o mais importanteproblema na evolução da cultura, e deu a entenderque o preço do progresso no seio da civilização épago pela privação da felicidade através da intensifi-cação do sentimento de culpa”.20 O capítulo VII daobra O Mal-estar na Civilização refere-se com pre-cisão à elaboração teórica decorrente da introduçãoda pulsão de morte, em 1920, com a publicação doPara Além do Princípio do Prazer, e da formulaçãoda segunda tópica, tal como estabelecida em O Egoe o Id, de 1923.
Freud define o sentimento de culpa como atensão entre o severo superego e o ego a ele subme-tido. O sentimento de culpa expressa-se pela neces-sidade de punição, da qual os sintomas neuróticossão a manifestação: “A tensão entre o severo supe-rego e o ego que a ele se acha sujeito é por nós cha-mada de sentimento de culpa; expressa-se comouma necessidade de punição”.21 Os sintomas neu-róticos revelam esta necessidade de punição. A gê-nese do sentimento de culpa é estabelecida porFreud em duas fontes: “Uma que surge do medo deuma autoridade, e outra, posterior, que surge domedo do superego. A primeira insiste numa renún-cia às satisfações pulsionais; a segunda, ao mesmotempo em que faz isso, exige punição, porque a per-
17 LACAN, 1991, p. 10.
18 Ibid., p. 11.19 FREUD-SALOMÉ, 1975, p. 237.20 JONES, 1970, p. 706. 21 FREUD, 1974, p. 146.
Impulso_28.book Page 108 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 109
sistência dos desejos recalcados não pode ser escon-dida do superego”.22
Freud inicia o item B do capítulo VII da Inter-pretação dos Sonhos fazendo um resumo das princi-pais proposições de sua investigação sobre os so-nhos, e considera que cada uma delas abre caminhospara especulações e postulados psicológicos. Oprincipal é responder sobre “o lugar dos sonhos naconcatenação da vida anímica”. Para tanto, apresen-ta a topografia do aparelho psíquico com o objetivode demarcar o funcionamento dos sistemas que ocompõem. Afastando-se de uma localização anatô-mica para o aparelho psíquico, sugere visualizar oaparelho que “executa nossas funções anímicascomo semelhante a um microscópio composto, umaparelho fotográfico ou algo desse tipo. (...) Essasanalogias visam apenas a nos assistir em nossa ten-tativa de tornar inteligíveis as complicações do fun-cionamento psíquico, dissecando essa função e atri-buindo suas operações singulares aos diversos com-ponentes do aparelho”.23
Dotando esse aparelho de sistemas (ou ins-tâncias), Freud sustenta que “nossas lembranças –sem excetuar as mais profundamente gravadas emnossa psique – são inconscientes em si mesmas. Po-dem tornar-se conscientes, mas não há dúvida deque produzem todos os seus efeitos quando em es-tado inconsciente”.24 Considerando a mútua exclu-sividade dos traços mnêmicos com os signos dequalidade que caracterizam a consciência, Freud lan-ça uma questão decisiva para a genealogia da moral:“O que descrevemos como nosso ‘caráter’ baseia-senos traços mnêmicos de nossas impressões; e, alémdisso, as impressões que maior efeito causaram emnós – as de nossa primeira infância – são precisa-mente as que quase nunca se tornam conscientes”.25
Os sonhos são produtos dos traços mnêmicosque constituem o sistema inconsciente; são revives-cência das impressões que caracterizam a cena infan-til. É aqui que se encontra o aspecto regressivo dofuncionamento do aparelho psíquico. Em 1914,Freud acrescenta um parágrafo à quarta edição, carac-
terizando três tipos de regressão: tópica, temporal eformal. E acrescenta que “no fundo, porém, todos es-ses três tipos de regressão constituem um só e, emgeral, ocorrem juntos, pois o que é mais antigo notempo é mais primitivo na forma (...)”.26 Um novoparágrafo é acrescentado em 1919, e nele Nietzsche éinvocado para sustentar o seguinte argumento: so-nhar é regredir à condição mais primitiva do sonha-dor. “Podemos calcular quão apropriada é a asserçãode Nietzsche de que, nos sonhos, ‘acha-se em ação al-guma primitiva relíquia da humanidade que agora jámal podemos alcançar por via direta’; e podemos es-perar que a análise dos sonhos nos conduza a um co-nhecimento da herança arcaica do homem, daquiloque lhe é psiquicamente inato”.27 A investigação dafilogênese, como vimos, é o campo onde o conheci-mento da herança arcaica do homem se constitui. Aanalogia entre a filogênese e ontogênese encontra, as-sim, sua forma mais cabal nos sonhos.
Quanto ao que é psiquicamente inato, a notade Freud no texto O Ego e o Id, de 1923, parece in-dicar uma nova conexão com Nietzsche. Ao com-por a segunda tópica, Freud justifica a adoção dotermo gramatical Das Es28 para designar o desco-nhecido e inconsciente “sobre cuja superfície repou-sa o ego, desenvolvido a partir de seu núcleo, o sis-tema perceptivo”.29 Atribui a Georg Groddeck30 a
22 Ibid., p. 151. 23 Idem, 1987, p. 491.T624 Ibid., p. 494.25 Ibid.
26 Ibid., p. 501.27 Ibid., p. 502. Trata-se do aforismo 12 do Humano, demasiado Humano– Um livro para espíritos livres, publicado por Nietzsche em 1878. Para queo leitor possa comparar, reproduzimos a tradução brasileira de PauloCésar Souza: “Mas no sonho todos nós parecemos com o selvagem; omau reconhecimento e a equiparação errada são a causa das inferênciasruins do que nos tornamos culpados no sonho; de modo que, ao recordarclaramente um sonho, nos assustamos com nós mesmos por abrigarmostanta tolice. A perfeita clareza de todas as representações oníricas, que temcomo pressuposto a crença incondicional em sua realidade, lembra-nosuma vez mais os estados da humanidade primitiva, em que a alucinação eraextraordinariamente freqüente e, às vezes, atingia comunidades e povosinteiros. Portanto: no sono e no sonho repetimos a tarefa da humanidadeprimitiva” (NIETZSCHE, 2000, p. 22).28 Sobre a tradução deste termo, a Edição Standard Brasileira adotou aescolha dos ingleses, que decidiram manter um equivalente em latim (Id)para o termo Ego. Daí a segunda tópica ter recebido a seguinte designação:Id, Ego e Superego. Os franceses, sobretudo depois de Jacques Lacan,escolheram manter a radicalidade semântica do alemão e traduziram porça, designando a impessoalidade do pronome: aquilo que é estranho ao eu.Nas versões brasileira dos Seminários de Lacan adotou-se a seguinte tradu-ção: Isso, Eu e Supereu. 29 FREUD, 1976, p. 37.30 Ver O Livro dIsso, publicado por Groddeck na Psychoanalytischer Ver-lag, em 1923, com o título Das Buch vom Es. O livro é uma composição decartas assinadas por um certo Patrik Troll destinadas a uma amiga. O títuloinicial era Cartas a uma Amiga sobre a Psicanálise. O conteúdo das cartasremetem ao período de 1916-1919, em que Groddeck ministrou, semanal-mente, conferências psicanalíticas integradas ao tratamento de seus paci-entes no sanatório que dirigia. Datam do mesmo período o encontro comFreud, sua candidatura à Associação Psicanalítica de Berlim e o encontrocom Sandor Ferenczi.
Impulso_28.book Page 109 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

110 impulso nº 28
assertiva de que o ego é habitado por forças desco-nhecidas e incontroláveis: “O próprio Groddeck,indubitavelmente, seguiu o exemplo de Nietzsche,que utiliza habitualmente este termo gramatical paratudo o que é impessoal em nossa natureza e, por as-sim dizer, sujeito à lei natural”.31 O Das Es comosistema inconsciente marca a dimensão de impesso-alidade que os sonhos representam para o sonhador.O ato de sonhar é alheio à vontade, está além docampo da intencionalidade.
CONCLUSÃOPara finalizar, vejamos o que escreveu Nietzs-
che no aforismo 16 da Segunda Dissertação da Ge-nealogia da Moral: “Vejo a má consciência (senti-mento de culpa) como a profunda doença que o ho-mem teve de contrair sob a pressão da mais radicaldas mudanças que viveu: a mudança que sobreveioquando ele se viu definitivamente encerrado no âm-bito da sociedade e da paz”; neste mundo social,“não mais possuem seus velhos guias, os impulsosreguladores e inconscientemente certeiros; estão re-duzidos, os infelizes, a pensar, inferir, calcular, com-binar causas e efeitos”.32 Reduzidos à consciência –
o órgão mais frágil e mais falível –, os civilizados vi-vem um mal-estar provocado pela recusa das pul-sões, que não cessam de fazer exigências.
Nietzsche afirmou, categoricamente, que to-dos os instintos que não se descarregam para fora vol-tam-se para dentro como sentimento de culpa. A istochama de interiorização do homem, também nomi-nado como alma. A parte racional da alma – resgatan-do a divisão aristotélica – é subproduto das pulsões li-bidinais que tiveram que ser reprimidas e que se vol-tam contra o próprio homem na forma de sintoma.
Retomando o prefácio da obra Três Ensaiossobre a Teoria da Sexualidade, podemos afirmar queo complexo de Édipo permitiu a Freud estabelecera analogia entre a ontogênese e a filogênese. Se a on-togênese pode ser considerada uma recapitulação dafilogênese, há nesta recapitulação uma atualizaçãodaquilo que constitui a gênese do sentimento deculpa: o superego, herdeiro do complexo de Édipo.
Através do sentimento de culpa é possível es-tabelecer uma interlocução entre Freud e Nietzs-che. Em ambos, o processo filogenético adquire suadevida importância na construção dos fenômenospsíquicos e, portanto, do processo de subjetivação.
Referências BibliográficasASSOUN, P.L. Freud e Nietzsche: semelhanças e dessemelhanças. São Paulo: Brasiliense, 1989.
__________. Freud, a Filosofia e os Filósofos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1978.
ENRIQUEZ, E. Da Horda Primitiva ao Estado: psicanálise do vínculo social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1990.
FREUD, S. Totem e Tabu. Edição Standard Brasileira (ESB) das Obras Completas, v. XIII. 3ª. ed., Rio de Janeiro: Imago, 1990.
__________. Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade. ESB, v. VII. 2ª. ed., Rio de Janeiro: Imago, 1989.
__________. A Interpretação dos Sonhos, ESB, v. V. 2ª. ed., Rio de Janeiro: Imago, 1987.
__________. O Ego e o Id. ESB, v. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1976.
__________. O Mal-estar na Civilização. ESB, v. XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1974.
FREUD-SALOMÉ. Correspondência Completa. Rio de Janeiro: Imago, 1975.
GAY, P. Freud, uma Vida para nosso Tempo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
GRODDECK, G. O Livro disso. 3ª. ed., São Paulo: Perspectiva, 1991.
JONES, E. Vida e Obra de Sigmund Freud. v. I e II. Rio de Janeiro: Zahar, 1970.
LACAN, J. O Seminário – Livro VII. A ética da psicanálise. 2ª. ed., Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1991.
NIETZSCHE, F. Humano, Demasiado Humano. Um livro para espíritos livres. Trad. P.C. Souza. São Paulo: Companhia dasLetras, 2000.
__________. Genealogia da Moral. Trad. P.C. Souza. São Paulo: Brasiliense, 1987.
31 Ibid, p. 37. 32 NIETZSCHE, 1987, p. 89.
Impulso_28.book Page 110 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 111
UM ENCONTRO DE ADORNO E NIETZSCHE NAS MINIMA MORALIATHE ENCOUNTER OF ADORNO ANDNIETZSCHE IN MINIMA MORALIA
Resumo O ensaio, fruto simultâneo de uma primeira pesquisa textual e da fantasiaprodutiva, imagina um encontro de dois pensadores extemporâneos, Nietzsche eAdorno, no interior de um livro de aforismos, ético-estético, as Minima Moralia. Ten-ta estabelecer entre eles um diálogo pertinente sobre os elementos apolíneos e dioni-síacos presentes em suas obras com o propósito de tecer alguns dos fios constituintesda metodologia do pensador frankfurtiano, a dialética negativa.
Palavras-chave ARTE E TRAGÉDIA GREGA – ESPÍRITO DIONISÍACO E ESPÍRITO APOLÍ-
NEO – DIALÉTICA NEGATIVA – ÉTICA E ESTÉTICA ADORNIANA – TEORIA CRÍTICA.
Abstract This essay is a product of a first textual study and at the same time of pro-ductive fantasy. It imagines an encounter of two extemporaneous thinkers, Nietzscheand Adorno, within a book of aphorisms, Minima Moralia. It attempts to establisha relevant dialogue about the Apollonian and Dionysian elements present in theirworks with the purpose of interlacing some representative elements of the Frankfurtthinker’s methodology, negative dialectics.
Keywords GRECIAN ART AND TRAGEDY – DIONYSIAN SPIRIT AND APOLLINIAN
SPIRIT – NEGATIVE DIALECTICS – ADORNIAN ETHICS AND AESTHETICS – CRITICAL
THEORY.
BRUNO PUCCI
Professor doutor da Faculdadede Educação da UNIMEP ecoordenador do grupo de
estudos e pesquisas TeoriaCrítica e Educação. Pesquisador
do CNPq e da [email protected]
Impulso_28.book Page 111 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

112 impulso nº 28
ste artigo não tem a pretensão de rastrear as influências deNietzsche em Adorno nem suas concordâncias e discor-dâncias. Mesmo porque o autor, recente leitor de Nietzs-che, não se sente preparado para tal. Talvez o texto se pro-ponha a ver como Adorno, um atento leitor de Nietzsche,aborda, em alguns de seus escritos, temas e categorias tra-balhados anteriormente pelo filósofo alemão e que ajudama configurar traços distintivos e constituintes da metodo-
logia incisiva do pensador franckfurtiano: a dialética negativa. Ou, talvez, es-tabelecer entre os dois pensadores alemães um diálogo pertinente sobre oselementos apolíneos e dionisíacos presentes em suas obras. Extratos de doislivros significativos serão levados em consideração: A Origem da Tragédia, deNietzsche, escrito em Basiléia em 1871 e prefaciado pelo próprio autor em1886, e Minima Moralia, escrito por Adorno nos Estados Unidos no períodode 1944 a 1947, durante a guerra, “sob as condições de contemplação”, no di-zer do próprio autor. Mais de setenta anos separam um escrito do outro. Noentanto, ambos têm muita coisa a dizer, na forma de diagnósticos radicais, so-bre a cultura, a filosofia e a arte das sociedades em que viveram e, quem sabe,sobre as nossas atuais construções espirituais.
O PESSIMISMO DA FORÇA CONTRA O OTIMISMO DA DECADÊNCIAUma das pechas lançadas contra os franckfurtianos clássicos, particu-
larmente contra Adorno, é a de serem autores pessimistas, construtores debecos sem saída, amantes das coisas negativas e melancólicas. E quando va-mos ler o prefácio de Nietzsche à Origem da Tragédia, nos surpreendemoscom um expressivo elogio à postura pessimista, expresso em questões desa-fiadoras como estas: será o pessimismo necessariamente sinal de declínio, dedecadência? Não existirá no pessimismo uma força, um potencial de vida?Uma predileção intelectual pelo horror, pela crueldade, pela incerteza da exis-tência não é resultante de uma predileção pela vida, pelo excesso da força vitalpresente no mundo, nas criaturas? Uma visão mais penetrante sobre a reali-dade não será por si só dotada de uma temeridade irresistível, que busca o ter-rível como quem busca o inimigo, que procura um adversário digno contrao qual experimentar sua força? Nietzsche, no caso, está examinando a tragé-dia grega em seus horizontes primeiros, e a ligação umbilical entre ela e o es-pírito dionisíaco. Por outro lado e por razão contrária, os gregos, na época desua dissolução e de seu declínio, tornaram-se cada vez mais otimistas, super-ficiais, racionais, serenos. E pergunta Nietzsche: a vitória do otimismo, o pre-domínio da razão, a teoria e a prática do utilitarismo, assim como a própriademocracia, contemporânea de tudo isso, não serão, talvez, em conjunto, osintoma do declínio da força, da aproximação da velhice, da degeneração fi-siológica?1
Nietzsche está, com a Origem da Tragédia, questionando a filosofia, aarte e a cultura de seu tempo, que vêm sublinhando apenas o princípio apo-
1 Cf. NIETZSCHE, 1996, pp. 20-25.
EEEE
Impulso_28.book Page 112 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 113
líneo, em que a crueldade da existência cede lugar aoprogresso do saber, a febre de viver cede lugar à se-renidade da vida. Privilegia-se a ciência em detri-mento da arte, da filosofia, e o dionisíaco acaba pordesaparecer por um longo tempo da face do mun-do. Ao mesmo tempo, o escrito nietzschiano é umcanto tênue e esperançoso pelo retorno do espíritodionisíaco ao coração da filosofia e da arte de seutempo. Schopenhauer, com O Mundo como Vonta-de e Representação, e Wagner, com Tristão e Isolda,foram indícios marcantes desse retorno.
Para Nietzsche, na Alemanha da segunda me-tade do século XIX, tinham desaparecido as inquie-tações com o cultivo do espírito humano e o desen-volvimento autônomo do indivíduo. A cultura dei-xa de ser cosmopolita e desinteressada e se transfor-ma em um bem venal, submetido às leis de comprae venda. Os organizadores das instituições artísticase dos estabelecimentos de ensino, chamados porNietzsche “filisteus da cultura”, são incapazes decriar, limitam-se à imitação, ao comércio e ao con-sumo da cultura. O critério primeiro para avaliar aprodução cultural são as necessidades dos consumi-dores.2 Transformada em mercadoria, a cultura con-verte-se em máscara, em engodo, perde sua poten-cialidade crítica, integra-se cada vez mais na socieda-de de troca. Por considerar a cultura assim, comouma visão otimista e dissimuladora do mundo falso,Nietzsche deflagra contra ela sua impiedosa crítica.“Em nenhuma época artística”, diz ele, “a chamadacultura intelectual e a arte verdadeira foram tão es-tranhas uma à outra, tão divergentes como hoje.Compreendemos porque uma cultura tão miserávelodeia a verdadeira arte: receia prever nesta a causa-dora da sua ruína”.3
Adorno, muito tempo depois, continua apostura pessimista de Nietzsche, não por proselitis-mo, capricho ou vaidade intelectual, mas por incon-testável respeito à verdade e à realidade histórica dascoisas. O seu livro Minima Moralia não deixa de serum hino à vida, um canto de louvor à existência hu-mana, expressa em pequenas manifestações, masversificada e metrificada em notas lúgubres e disso-
nantes. Uma tentativa de recobrar a esperança, ape-sar do desespero estampado na face do indivíduo,das instituições, das coisas. Já na Dedicatória do li-vro deixa claro que os múltiplos aforismos que ocompõem insistem o tempo todo na negatividade:“O espírito não é como o Positivo que desvia oolhar do Negativo (...); não, ele só é este poderquando encara de frente o Negativo e nele perma-nece”4. No último aforismo do livro, tenta mostrarque a predileção ininterrupta pela postura negativanão é apenas sinal de uma visão mais penetrante dascontradições da realidade, mas, também, o exercícioda esperançosa busca de brechas salvadoras para sa-ídas históricas. Aí, então, constata que “a perfeitanegatividade, uma vez encarada face a face, se con-solida na escrita invertida de seu contrário”.5
Mas é no aforismo A criança com a água dobanho6 que o seu chicote pessimista se manifestacom todo vigor contra os que hipostasiam a culturacomo mercadoria. Logo no início do parágrafo ob-serva que o tema da cultura enquanto mentira é cen-tral há muito tempo entre os críticos culturais. Acultura é mentira, pois “simula uma sociedade dignado homem, que não existe; (...) encobre as condi-ções materiais sobre as quais se ergue tudo que é hu-mano; (...) ela serve, com seu consolo e apazigua-mento, para manter viva a má determinação econô-mica da existência”. Para Adorno, essa é a concep-ção de cultura como ideologia – entendida comofalsa consciência –, comum aos intelectuais burgue-ses e também a seus adversários, Nietzsche e Marx.De fato, para Nietzsche, na Origem da Tragédia, “aarte surge como um deus salvador que traz consigoo bálsamo benfazejo: só ela tem o poder de trans-formar o aborrecimento do que há de horrível e deabsurdo na existência, e transforma-o em imagensideais que tornam agradável e possível a vida”.7 Mas,continua Adorno, essa concepção da cultura comoideologia, e mesmo todas as críticas que se dirigemà cultura enquanto mentira, tendem a se tornar elaspróprias ideologia. Restringem a uma dimensão úni-ca a realidade complexa e ambígua da Bildung. De
2 Cf. MARTON, 1993, pp. 17-21.3 NIETZSCHE, 1996, p. 161.
4 ADORNO, 1992, p. 9.5 Ibid., p. 216.6 Ibid., pp. 36-37.7 NIETZSCHE, 1996, p. 77.
Impulso_28.book Page 113 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

114 impulso nº 28
um lado, é verdade que a dimensão da troca, comtodas as suas tensões e contradições, afeta até asmais delicadas relações eróticas e as mais sublimes re-lações espirituais. Nada escapa ao mercado no mun-do capitalista em que vivemos, e em todas as rela-ções humanas que se assentam no elemento mate-rial encontramos manifestações ou resquícios de in-sinceridade, de interesse, de amor vil. Porém, seolharmos apenas por esse viés, corremos o risco detambém extirpar, com o falso que existe na cultura,tudo o que é verdadeiro, tudo o que, mesmo de ma-neira indigente, danificada, procura se furtar dapressão universal, toda a antecipação quimérica deuma situação mais nobre. Absolutizaríamos a men-tira entranhada na cultura. E com isso, diz Adorno,passaríamos imediatamente à barbárie que se acusa acultura de propiciar.
Adorno não poupa de suas críticas contun-dentes os marxistas ortodoxos, seus contemporâneos,que, imbuídos de uma visão linear de cultura e poramor à “tendência objetiva”, em face da barbáriecrescente, acentuaram os elementos determinantesda infra-estrutura material, na esperança de que,com isso, por contradições, de maneira cega e mis-teriosa, se desse a mudança radical da sociedade.Essa perspectiva antes favoreceu o crescimento daprópria barbárie. No poder, eles desenvolveramuma afinidade eletiva com a economia política, abri-ram mão da utopia socialista, submeteram a teoriaàs determinações da práxis e se tornaram demasia-damente pragmáticos. Aí, retruca Adorno, o medoda impotência da teoria fornece o pretexto para seentregar ao todo-poderoso processo de produção,com o que, então, se admite plenamente a impotên-cia da teoria. E a cultura se identificaria, então, coma aparência, com a mentira, com a mercadoria.
Para Adorno, porém, se identificar a culturacom a mentira já era uma visão falseada da realidadeem tempos de um capitalismo predominantementeconcorrencial, a situação se tornou mais funesta ain-da no presente momento da sociedade administrada– com a onipresença do espírito alienado –, em quea cultura está, efetiva e inteiramente, se convertendoem mentira. Exigir tal identificação significa com-prometer todo pensamento que se propõe a resistir,por mais frágil e incipiente que seja. Essa atitude in-
dicia antes uma postura fatalista do que crítica. Se sedenomina realidade material o mundo do valor detroca, e cultura aquilo que se recusa a aceitar a do-minação do valor de troca, então semelhante recusaé decerto ilusória na presente circunstância. Ilusóriaporque, de fato, a cultura está se transformandoquase que totalmente em um valor venal; e porque,mesmo resistindo à universalização do mercado, elasó poderá se expressar crítica e criativamente envol-vida pelas leis do mercado. Como, no entanto, a pró-pria troca livre e justa é uma mentira – na verdade éuma troca de desiguais, onde o mais forte sempreleva vantagem –, aquilo que a nega fala também emdefesa da verdade: em face da mentira que é o mundoda mercadoria, a mentira que o denuncia torna-se umcorretivo. Se a cultura se integrar totalmente na so-ciedade administrada pelo mercado, ela perderá suapotencialidade auto-reflexiva e se transformará emseu contrário. Se, apesar do cerco total da domina-ção, ela não perder seu discurso pungente, poderáser ainda um antídoto à tendência generalizada dealienação do espírito objetivo. Adorno termina esseaforismo apresentando uma orientação prática so-bretudo para os que vivem nas cercanias da cultura,que se alimentam dela, que ainda lutam pela sua so-brevivência: as pessoas que pertencem a um mesmogrupo não deveriam nem silenciar seus interesses ma-teriais nem nivelar-se a estes últimos, mas integrá-losem suas relações e, assim, ultrapassá-los.
Este aforismo, negativo ao extremo contratodos os críticos da cultura, é uma expressão histó-rica da questão colocada anteriormente por Nietzs-che: não existirá no pessimismo uma força, um po-tencial de vida? Uma visão mais penetrante sobre arealidade não será, por si só, dotada de uma temeri-dade irresistível, que busca o terrível como quembusca o inimigo, que procura um adversário dignocontra o qual experimentar sua força? Ou seja, nãoexistirá na potencialidade negativa das análises ador-nianas uma esperança de vida, de transformação? Ofato de ele chamar pelo nome a dureza e a inflexibi-lidade do real não é para que esse real permaneçacomo está e, sim, para que ele seja desnudado emsua pretensão de poder. Uma feliz expressão, colo-cada quase no final do aforismo, nos devolve a es-perança ativa no resgate do espírito objetivo: o fato
Impulso_28.book Page 114 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 115
de que a cultura tenha fracassado até os dias de hoje nãoé uma justificativa para que se fomente seu fracasso.
O DUPLO CARÁTER DA ARTE E DA FILOSOFIA: O ESPÍRITO APOLÍNEOE O ESPÍRITO DIONISÍACO
Ao analisar a origem da tragédia grega, Nietzs-che observa que a criação e o desenvolvimento da arteresultam de seu duplo caráter: ela é, ao mesmo tem-po, apolínea e dionisíaca. Apolo é o deus do sonho,Dionisos, o da embriaguês. Com Apolo, a aparên-cia, cheia de beleza, do mundo do sonho, é a con-dição primeira de todas as artes plásticas e uma parteessencial da poesia. O artista examina minuciosa-mente os sonhos e consegue descobrir nessa apa-rência a verdadeira interpretação da vida. Com a aju-da de tais imagens ele se exercita para tomar contatocom a vida. E não são apenas imagens agradáveis edeliciosas as que o artista descobre dentro de si;também o sombrio, o triste, o sinistro, as contrari-edades, as expectativas, tudo isso se desenvolve sobseu olhar. Apolo, o deus da faculdade criadora deformas, e portanto da expressão, é também o deusda adivinhação, da interpretação a partir dos indíciosda aparência. Entre seus atributos principais pode-mos destacar os seguintes: trabalha com as imagensde vida, alegres ou tristes, presentes no sonho, apa-rência da realidade; dá a essas imagens uma determi-nada forma plástica ou as transforma em poesia edesenvolve, ainda, a capacidade de entender essasmesmas imagens, através do processo de adivinha-ção. Apolo sintetiza em si, ao mesmo tempo, a artede criar e de decifrar enigmas. Mais ainda: nele en-contramos, intimamente vinculado às faculdadesanteriores, uma outra linha delicada, que é a extremaponderação, a livre serenidade nas emoções mais vio-lentas, a serena sabedoria nas ações da vida. É o deusda lógica, da coerência interna, do equilíbrio perfei-to. É também o deus da individuação – principiumindividuationis –, do homem individual que, mes-mo no mundo de dores, permanece sereno, impas-sível, senhor de si.8
Dionisos, por sua vez, representa o mundo daembriaguês, do estado narcótico, em que os ho-
mens se liberam de suas amarras culturais, cantamseus hinos, expressam febrilmente seus desejos; re-presenta o excesso de vitalidade presente na renova-ção primaveril, aquela que alegremente brota emtoda a natureza, desperta a vontade de viver no in-divíduo subjetivo, convida-o insistentemente a ani-quilar-se no total esquecimento de si mesmo, nomergulho absoluto na unidade cósmica. Na arte di-tirâmbico-dionisíaca, o homem é arrebatado até aexaltação máxima de todas as suas faculdades sim-bólicas; experimenta e quer exprimir sentimentosaté então desconhecidos; eleva-se ao grau universalda espécie e até da própria natureza, desindividuali-za-se para emergir plenamente na unidade. No êx-tase da arte dionisíaca, o homem, ao mesmo tempoem que participa integralmente do sofrimento domundo, da existência, participa a sabedoria, e nofundo da alma do mundo anuncia e proclama a ver-dade. Articula-se, pois, num todo polarizado, as di-mensões do prazer, do sofrimento e do conheci-mento. O sátiro, figura fantástica e estranha da artedionisíaca, é um ser paradoxal: cheio de entusiasmo(de θεοσ), de sabedoria e, ao mesmo tempo, carica-tura bruta da natureza, de seus instintos mais pode-rosos. É músico, poeta, dançarino, visionário numapessoa só. Dionisos, um deus híbrido: de seu sorrisonasceram os deuses olímpicos, de suas lágrimas, oshomens.9
Como se percebe pela exposição nietzschia-na, as características que configuram o espírito apo-líneo e o espírito dionisíaco se negam frontalmente,se consideradas em si mesmas. No entanto, na tra-gédia grega primordial, é a tensão entre esses doisespíritos que lhe dá força, beleza e expressão artísti-ca. “Mas vede, Apolo não podia viver sem Dioniso.O titânico ou bárbaro era finalmente uma necessi-dade tão imperiosa como o olímpico”, diz Nietzs-che.10 A densa e complexa relação do espírito apo-líneo com o instinto dionisíaco na tragédia deveriaser simbolizada por uma aliança fraterna dessas duasdivindades. Dois irmãos individualmente fortescontrapostos – um veementemente intempestivo, ooutro extremamente lógico, sereno – e que se unem
8 Ibid., pp. 37-43.
9 Ibid., pp. 43, 49, 84 e 95.10 Ibid., p. 57.
Impulso_28.book Page 115 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

116 impulso nº 28
num todo, simultaneamente contrário e uno. “Dio-nisos fala a língua de Apolo, mas Apolo acaba porfalar a língua de Dionisos; e dessa maneira se con-seguiu atingir o fim último da tragédia e da arte.”11
Nietzsche vai mais longe em sua análise ao observarque, se de um lado o mito trágico deve ser compre-endido como uma representação simbólica da sabe-doria dionisíaca, que assume formas próprias graçasao auxílio de processos artísticos apolíneos, de ou-tro lado ele conduz o mundo da aparência – da for-ma artística apolínea – até os limites em que procuranegar a si próprio e buscar refúgio no seio da verda-deira e única realidade. Ou seja, mesmo a manifes-tação artística assumindo uma configuração apolí-nea específica, ela continuava sempre enxertada efertilizada pelo húmus da exuberância da vida. Éessa interdependência que dava ritmo, melodia e ca-pacidade de arrebatamento à tragédia grega. Nessecampo intenso de forças, nem o indivíduo era sim-plesmente tragado pelo todo da espécie ou da natu-reza, desintegrando-se, e nem o todo perdia sua for-ça poderosa sobre o indivíduo, chamando-o semprepara a espécie, para a natureza.12
Foi então que apareceram Eurípedes e Sócra-tes, e com eles o fim da natureza híbrida da tragédiaesquiliana, de sua duplicidade, apolínea e dionisíaca,na origem e na essência. A intencionalidade de Eu-rípedes foi a de excluir progressivamente da tragédiao elemento dionisíaco, original e onipotente, econstruir um novo tipo de teatro para a arte e paraa moral. Nisso, ele foi apoiado e aprofundado porSócrates. Para a estética socrática, sua lei principal –tudo deve ser inteligível para ser belo – estava fun-damentada na doutrina filosófica de que “só é virtuo-so quem é ciente”. Nietzsche vê nesses princípios aafirmação unilateral do processo crítico e da cegueiraracionalista: vem o intelecto para botar ordem nocaótico e imprevisível instinto e tudo se torna cal-culado, previsível, fruto de um duvidoso iluminis-mo. Assim o pensamento filosófico se sobrepõe àexpressão estética e obriga a arte a se orientar pelomovimento da dialética. “Não esqueçamos as con-seqüências dos preceitos socráticos: ‘virtude é ciên-
cia; só se peca por ignorância; o homem virtuoso éo mais feliz’. Nestes três princípios do otimismo es-conde-se a morte da tragédia.”13 Por outro lado, ex-cluir da arte o elemento dionisíaco significa tambémdespotencializar o elemento apolíneo, extrair-lhe ochão fértil da exuberância vital em que encontra ins-piração e razão de sua intervenção. Excluir a forçaincomensurável da espécie e de natureza significasobrevalorizar o indivíduo em sua subjetividade, ecom isso favorecer o estado de individuação comofonte e origem primordial de todos os males: o ho-mem lobo para o próprio homem. É essa mágoacósmica que Nietzsche deplora criticamente no in-terior da arte e da filosofia de seu tempo.
E como Adorno vê a tensão entre o espíritoapolíneo e o espírito dionisíaco? Poderíamos afir-mar que as Minima Moralia são, do começo ao fim,uma tentativa de manter viva e fecunda a polaridadeentre o apolíneo (em sua negatividade dialética rigo-rosamente elaborada) e o dionisíaco (no contatomediado com as mais densas expressões da vida e danatureza), entre o conceito e a imagem, entre o fi-losófico e o estético. Quero apenas expor e comen-tar duas citações em que essa relação híbrida aparecede modo evidente. A primeira é extraída do aforis-mo Lacunas, em que o autor analisa o caminho nãoretilíneo e até não-racional que o pensamento per-corre em seu processo de vir-a-ser. Diz ela:
Ainda que se lhe concedesse aquela reco-mendação discutível de que a exposiçãodeve reproduzir exatamente o processo depensamento, este processo não seria umaprogressão discursiva de etapa em etapa, as-sim como, inversamente, tampouco os co-nhecimentos caem do céu. Ao contrário, oconhecimento se dá numa rede onde se en-trelaçam prejuízos, intuições, inervações,autocorreções, antecipações e exageros, empoucas palavras, na experiência, que é densa,fundada, mas de modo algum transparenteem todos os seus pontos.14
Embora no juízo – expressão lógica do pen-samento – predomine a coerência, a racionalidade, a
11 Ibid., p. 172.12 Ibid., pp. 172-174.
13 Ibid., p. 120.14 ADORNO, 1992, p. 69.
Impulso_28.book Page 116 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 117
clareza, o seu processo de constituição pressupõeelementos emocionais, idas e vindas, silêncios, sola-vancos, irracionalidades. Se se abafar esses elemen-tos vitais em nome da ordenação lógica, o pensa-mento se torna rígido, vazio, insensível. Os pensa-mentos bem elaborados nem se deixam tragar pelostandard estabelecido, pois aí perderiam sua funçãoantitética, nem se deixam isolar dos demais elemen-tos somáticos e existenciais, pois aí perderiam suaforça expressiva.
A outra citação é extraída do aforismo Segun-da colheita:
Numa noite de tristeza inconsolável, eu mesurpreendi fazendo uso do subjuntivo ridi-culamente errado de um verbo que, ele pró-prio, já não pertencia de todo ao alemão pa-drão, mas faz parte do dialeto de minha ci-dade natal. Desde os primeiros anos escola-res não havia mais ouvido essa forma erradatão familiar, menos ainda empregado. Umamelancolia, que me arrastava de maneira ir-resistível para o abismo da infância, desper-tou esse antigo som, que aguardava impo-tente lá no fundo. Como um eco, a lingua-gem devolveu-me a humilhação que a infe-licidade me infligiu esquecendo o que eusou.15
Esse extrato adorniano, de uma sutileza ine-briante, expõe como, em nome de uma racionalida-de técnica e padronizada, a língua oficial (o alemãopadrão) e a educação formal escolar produzemcomo efeito colateral, mas corrosivo, o abafamentode expressões da fala (do dialeto) carregadas de ex-periências da vida familiar, de contato com a comu-nidade originária. E aquela expressão de fala, incor-reta oficialmente, mas tão familiar, que faz parte dodialeto de sua cidade natal, só vem à tona numa noitede tristeza inconsolável, quando uma melancolia o ar-rasta de maneira irresistível para o abismo da infân-cia. Parece que é nos momentos de grande tristeza,quando o indivíduo não tem mais argumentos oujustificativas em que se apegar, quando se senteabandonado como uma criança, que o espírito dio-nisíaco explode com força e violência, mostrando
quem o indivíduo é e como é frágil e insignificantea pura racionalidade.
Adorno, em diversos momentos das MinimaMoralia, deixa claro como o principium individua-tionis, tomado sob a distensão do apolínio-dionisía-co e sob as bençãos da racionalidade instrumental dasociedade administrada, gerou uma situação emque, de um lado, o indivíduo deixa de ser, desapare-ce, e, de outro, desenvolve um individualismo de-senfreado, onde tudo é possível.16 Não é como natragédia grega primordial, em que o mergulho doindivíduo no todo da espécie e da natureza se davaa partir da atuação do espírito apolíneo, como ummomento fundamental de sua própria constituiçãoenquanto ser humano. Agora, com a eliminação dadiferença, com a padronização dos gestos, dos cor-pos e das mentes, a decadência do indivíduo se dá apartir de uma tendência irreversível da pressão dosocial sobre o particular. Não obstante, Adorno vênessa tendência um desafio para todos os que aindaacreditam no resgate das forças apolíneas e dionisía-cas: “Se hoje os últimos traços de humanidade pa-recem prender-se apenas ao indivíduo como algoque se encontra em seu ocaso, eles nos exortam apôr fim àquela fatalidade que individualiza os ho-mens somente para poder quebrá-los por completono seu isolamento”.17
Gostaria ainda de apresentar citações centraisdo aforismo Intellectus sacrificium intellectus,18 emque Adorno critica a fundo a exclusão do pensa-mento dos elementos dionisíacos. Num primeiromomento, o autor expõe com rara felicidade a in-dissociável interação entre todas as faculdades do in-divíduo: o pensamento, a emoção, a memória, o de-sejar, o ato de amar, a fantasia, enfim, a percepçãoem suas diferentes manifestações. Elas só se desen-volvem nesse processo associativo e interativo; de-bilitam-se, regridem quando separadas ou absoluti-zadas. Diz ele:
Supor que o pensamento tira proveito dadecadência das emoções com uma crescenteobjetividade, ou que apenas permaneça in-
15 Ibid., p. 96.
16 Cf. ADORNO, 1992, p. 131.17 Ibid., p. 132.18 Ibid., pp. 106-107.
Impulso_28.book Page 117 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

118 impulso nº 28
diferente a isso, já é uma expressão de estupi-dificação. (...) As faculdades, elas mesmas de-senvolvidas através da interação, atrofiam-sequando são dissociadas umas das outras. (...)Não é a memória inseparável do amor, quepretende conservar o que passa? Não é cadaimpulso da fantasia engendrado pelo desejo,que, deslocando os elementos do existente,transcende-os sem traí-los?19
Adorno argumenta que o conhecimento nãodeve se deixar conduzir exclusivamente pela chama-da razão positiva, que visa tornar o processo e seusprodutos assépticos com medo da contaminaçãodos instintos, nem deve se deixar levar passivamentepelo irracionalismo das pulsões. É no respeito críti-co por esses dois momentos, o lógico e o ilógico, oracional e o instintivo, que ele se faz mediador e fru-tífero. E mostra que até no idealismo kantiano, queprioriza a razão como faculdade do entendimento,o ato mesmo de conhecer – a apercepção sintética –não pode ser segregado da imaginação, da rememo-ração. Assim, diz:
Certamente o sentido objetivo dos conhe-cimentos desprendeu-se, com a objetivaçãodo mundo, cada vez mais da base pulsional;certamente o conhecimento falha quandoseu esforço objetivante permanece sob oencanto dos desejos. Mas se as pulsões nãosão ao mesmo tempo suprassumidas nopensamento, que escapa desse encantamen-to, o conhecimento torna-se impossível, e opensamento que mata o desejo, seu pai, sevê surpreendido pela vingança da estupidez.A memória é transformada num tabu comoalgo de imprevisível, não confiável, irracio-nal. A falta de fôlego intelectual que daí de-corre, e que culmina na perda da dimensãohistórica da consciência, rebaixa de imediatoa apercepção sintética, que, segundo Kant,não pode ser separada da “reprodução naimaginação”, da rememoração.20
Na última parte do aforismo, Adorno conti-nua esmiuçando as conseqüências desastrosas parao pensamento de sua segregação das outras faculda-
des intelectivas e perceptivas. Ele torna-se estéril, re-petitivo, banido.
Apenas a fantasia, hoje consignada ao domí-
nio do inconsciente e do conhecimento
como um rudimento infantil e sem juízo,
institui aquela relação entre objetos que é a
fonte irrevogável de todo juízo: se ela é ba-
nida, então o juízo – o ato de conhecimento
propriamente dito – também se vê exorci-
zado. Mas a castração da percepção pela ins-
tância de controle, que lhe recusa toda ante-
cipação desejante, obriga-a por isso mesmo
a inserir-se no esquema da repetição impo-
tente do que já é conhecido. (...) Uma vez
suprimido o último traço de emoção, o que
resta do pensamento é apenas a absoluta
tautologia.21
Uma vez suprimido do pensamento o espíri-to e os elementos dionisíacos, o que resta a ele? Opróprio momento apolíneo, já vimos, se fragilizatambém. Na verdade, no dizer de Nietzsche, este seconstitui plenamente em sua realização a partir domomento em que começa a “derrubar um impériode titãs, vencer monstros, e triunfar, graças à pode-rosa ilusão dos sonhos jubilosos, sobre o horrorprofundo do espetáculo existente e sobre a sensibi-lidade mais apurada para o sofrimento.22 Portanto, ésó no combate ininterrupto com as manifestaçõesdionisíacas que o apolíneo se realiza, e não no es-quecimento ou na exclusão dessas manifestações.
O MOMENTO LETÁRGICO-NEGATIVO DO HOMEM DIONISÍACO
Nietzsche afirma que na embriaguez estáticado estado dionisíaco são abolidas as separações e oslimites ordinários da existência, dá-se um momentoletárgico durante o qual desaparecem as lembrançaspessoais do passado. E entre o mundo da realidadedionisíaca e o da realidade cotidiana cava-se um abis-mo de esquecimento que os separa um do outro.Mas logo que o indivíduo volta a ter consciência darealidade cotidiana, ela é sentida com tal aborreci-
19 Ibid., p. 106.20 Ibid., p. 107.
21 Ibid.22 NIETZSCHE, 1996, p. 53.
Impulso_28.book Page 118 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 119
mento que gera uma disposição ascética, inibidoradas forças de reação da vontade.23
O Aurélio descreve o termo letargia como umestado patológico que se caracteriza por um sonoprofundo e duradouro do qual só com dificuldade,e temporariamente, pode o paciente despertar.Acrescenta, ainda, significados próximos, como es-tado de insensibilidade característico do transe me-diúnico, desinteresse, indiferença, apatia (figurado),estado de abatimento moral ou físico, depressão (fi-gurado), falta de ação, inércia, torpor, vida latente.Esse momento letárgico é o momento do despojar-se do eu, das circunstâncias, da história, do esque-cer-se de si, mergulhar na essência das coisas, atingira verdadeira realidade da existência. É o momentotrágico por excelência, porque nele o homem dioni-síaco se depara com a crueldade da vida, conhece afundo o sofrimento do mundo, e esse conhecimen-to primordial lhe traz profunda melancolia, inércia,torpor. Nietzsche compara o homem dionisíaco aHamlet: “Ambos penetraram com olhar profundona essência das coisas; ambos viram, e estão desen-cantados da ação, porque não podem alterar emnada a essência eterna das coisas; parece-lhe ridículaou vergonhosa a pretensão de endireitar o mun-do”.24
A verdade contemplada face a face mostracom toda força o aspecto horrível e absurdo da exis-tência. É por isso que a experiência dionisíaca dá aohomem possibilidade de ser extremamente negati-vo, crítico, pessimista. Ao mesmo tempo, porém, oconhecimento/visão da verdade horrível anula noindivíduo todos os impulsos e motivos de agir. Elese sente inútil, impotente. O conhecimento verda-deiro mata a ação. Para agir, é indispensável que so-bre o mundo paire o véu da ilusão. A intervenção domomento apolíneo é fundamental, então, para des-pertar o homem dionisíaco de seu torpor letárgico etrazê-lo de volta, reforçado, liberado, para as dificul-dades terríveis do cotidiano. E a arte apolínea é umaforma de se garantir isso: pois ela é a prodigiosa po-tência “que transfigura a nossos olhos as coisas maishorríveis, graças à alegria que sentimos ao ver as apa-
rências, graças à felicidade na libertação que para nósnasce da forma exterior, da aparência”.25 O espíritoapolíneo carrega em si uma dimensão formativa,educativa, auto-reflexiva: ele nos faz sair da univer-salidade viscosa do estado dionisíaco, ajudando anos constituir como indivíduos, autônomos; desen-volve e potencializa em nós o instinto estético, ávi-do de formas belas e sublimes; incita nosso pensa-mento a ir além da aparência e a apreender o signi-ficado mais profundo das coisas.
Com a progressiva dominação do homem teó-rico sobre o homem trágico nos séculos posteriores aSócrates, com a vigência da crença de que o mundopode ser totalmente endireitado por meio do sabere que a vida deve ser governada pela ciência, a filo-sofia e a arte apolíneo-dionisíaca se tornaram dani-ficadas, a vida e as relações humanas quase que in-tegralmente regulamentadas, as reações padroniza-das. O homem dionisíaco na segunda metade doséculo XIX é um espírito isolado, demasiadamentesolitário, quase inexistente, e Nietzsche o simbolizana figura do cavaleiro acompanhado da morte e dodiabo, tal como a desenhou Dürer:
(...) o cavaleiro coberto com a sua armadura,de olhar duro mas tranqüilo, que, só com oseu cavalo e o seu cão, prossegue impassí-velmente no seu caminho fantástico, semcuidar dos seus companheiros horríveis,mas também sem esperança. O nosso Scho-penhauer foi esse cavaleiro de Dürer: não ti-nha esperança alguma, mas preferia a verda-de. Esse homem não tem par.26
No entanto, apesar da descrença de Nietzs-che na civilização filistéia de seu tempo, ele mantémfirme a esperança de que o espírito dionisíaco, pelaexuberância de vida, de sofrimento e de alegria quecontém em si, volte como um furacão para revolveras coisas mortas, apodrecidas, mostre sua força devida e liberte o homem das garras do socratismo. “Anossa esperança mais ardente, diz ele, está em vir areconhecer em breve que, debaixo da inquietação eda desordem da nossa vida civilizada, debaixo dasconvulsões da nossa cultura, se esconde uma força
23 Ibid., p. 76.24 Ibid.
25 Ibid., p. 109.26 Ibid., p. 162.
Impulso_28.book Page 119 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

120 impulso nº 28
primordial, soberba, profundamente sã, que decertonão se manifesta poderosamente em seguida, e con-tinua em sonhos até nova ordem de despertar.”27
E Adorno, à semelhança de Nietzsche, eletambém lança um olhar dionisíaco ou hamletianosobre a horrível realidade da existência? Parece-meque sim. Sua tentativa de esmiuçar os objetos, mer-gulhando no seu interior e ensaiando deles extrairsua história ali enrustida, é uma manifestação disso.Expressões espalhadas pelos aforismos afora nosconfirmam esse olhar negativo, atento e estontean-te. Cito algumas: “Não há vida correta na falsa”, “otodo é o não verdadeiro”, “quando são calculadasmatematicamente, todas as ações adquirem ao mes-mo tempo um aspecto estúpido”, “verdadeiros sãoapenas aqueles pensamentos que não se compreen-dem a si mesmos”.28 Nessa perspectiva, gostaria deanalisar, porém, o aforismo Isso é bonito de sua par-te, senhor doutor,29 um dos mais pessimistas do au-tor. Vou dividí-lo em partes:
Não há mais nada de inofensivo. As peque-nas alegrias, as manifestações da vida queparecem excluídas da responsabilidade dopensamento não possuem só um aspecto deteimosa tolice, de um impiedoso não quererver, mas se colocam de imediato a serviçodo que lhes é mais contrário. Até a árvoreque floresce sem sombra de sobressalto; atéo inocente “que beleza!” torna-se expressãopara a ignomínia da existência que é diversa,e não há mais beleza nem consolo algumfora do olhar que se volta para o horrível, aele resiste e diante dele sustenta, com impla-cável consciência da negatividade, a possibi-lidade de algo melhor. É de bom alvitre des-confiar de tudo o que é ingênuo, descontra-ído, de todo descuidar-se que envolva con-descendência em relação à prepotência doque existe.30
A participação nas expressões da vida, na ex-plosão da natureza, é uma falsidade no mundo falsoem que vivemos. A vida imediata, em todas as suas
configurações, se mostra alienada, tecida ideologica-mente por poderes objetivos que a determinam defora e de dentro, até no mais escondido de si. Nãohá mais vida. A vida já não vive mais. Todo olharlançado à vida se tornou enviesado, tenta, em vão,afirmar o que não existe mais. É por isso que oolhar dionisíaco deve ser extremamente desconfia-do até das pequenas manifestações de “vida”, de“beleza”, de “ingenuidade”, de “descontração”, poistodas essas mais “puras” expressões podem estar aserviço de seu contrário, da prepotência do sistema,da dominação. Só há beleza e consolo no olhar quevai além da aparência, da mentira, e se volta para ohorrível, para o ignominioso, e permanece nele comimplacável consciência de negatividade. Apenas esseolhar redentor, salvífico, permite revelar fendas, ra-chaduras, e possibilidade de algo melhor. Continuan-do o raciocínio, o autor diz:
De cada ida ao cinema, apesar de todo cui-dado e atenção, saio mais estúpido e pior. Aprópria sociabilidade é participação na injus-tiça, na medida em que finge ser este mundomorto um mundo no qual ainda podemosconversar uns com os outros, e a palavrasolta, sociável, contribui para perpetuar o si-lêncio, na medida em que as concessões fei-tas ao interlocutor o humilham de novo napessoa que fala. (...) Ajustando-nos à fra-queza dos oprimidos, confirmamos nestafraqueza o pressuposto da dominação e de-senvolvemos nós próprios a medida dagrosseria, obtusidade que é necessária para oexercício da dominação. Quando, na fasemais recente, o gesto de condescendênciadesaparece e só o ajustamento se torna visí-vel, é então, precisamente, nesta completaofuscação do poder, que a relação de classedisfarçada se impõe de maneira implacá-vel.31
Toda participação no mundo social, cultural,construído e administrado historicamente pelos do-minantes e regido pelas relações de interesses estáeivada pelo vírus da falsidade. O processo de explo-ração do homem pelo homem não existe apenas nomundo do trabalho, das leis, da repressão estatal, na27 Ibid., pp. 180-181.
28 ADORNO, 1992, pp. 33, 42, 93 e 168.29 Ibid., pp. 19-20.30 Ibid., p. 19. 31 Ibid., pp. 19-20.
Impulso_28.book Page 120 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 121
estrutura da família, da igreja, da escola, na manipu-lação dos meios de comunicação. Dá-se em todas asmanifestações de vida, no próprio ato de socializa-ção, de conversação, de ajuda ao necessitado, decondescendência. Enxergar isso criticamente é umpasso inicial para se tentar reverter as relações sociaisde dominação presentes no cotidiano. Como é queum olhar enviesado pelo véu da ideologia vigente,que encobre e envolve todas as expressões sociocul-turais, pode atingir a entranha das coisas e revelarsuas relações perversas e mentirosas? Adorno fina-liza o aforismo apelando para a responsabilidade dosintelectuais, daqueles que são desafiados pelo pró-prio conceito a entrar dentro (intus legere) das coisase chamar-lhes pelo nome.
Para o intelectual, a solidão inviolável é aúnica forma em que ele ainda é capaz de darprovas de solidariedade. Toda colaboração,todo humanitarismo por trato e envolvi-mento é mera máscara para a aceitação tácitado que é desumano. É com o sofrimentodos homens que se deve ser solidário: o me-nor passo no sentido de diverti-los é umpasso para enrijecer o sofrimento.32
Há muita semelhança dessa citação final como espírito dionisíaco de Hamlet (que penetra comolhar profundo a essência das coisas e se desencantada ação porque não pode endireitar o mundo), coma atitude negativa do cavaleiro de Dürer (que pros-segue seu caminho impassivelmente, com olharduro mas tranqüilo, sem cuidar de seus companhei-ros horríveis, mas também sem esperança). Solidão,solidariedade. Só o sofrimento, os horrores da vida,é que merecem ainda sua atenção, sua intervenção,e, mesmo assim, negativamente.
Nietzsche, que reencontra Dionisos mais de
dois mil anos após, e desse encontro surge um mo-
saico dissonante de aforismos e tragédia; Adorno,
que se encontra com Nietzsche setenta anos depois,
e desse encontro são construídos, apolineamente,
ensaios, expressões, reflexões dionisíacas e a audição
do tom dionisíaco, habilmente entretecido pelo
olhar ordenador apolíneo, se transforma em instru-
mento eleito na composição da dialética negativa.
Só tem condições de encarar a essência das coisas,
em suas terríveis manifestações, aquele que encara
de frente o negativo e nele permanece.33
Não sei se Nietzsche influenciou Adorno na
elaboração dos aforismos das Minima Moralia. Não
fui capaz de observar se Adorno se utiliza de alguma
categoria-chave nietzschiana e a trabalha crítica e
criativamente, como ele costuma fazer com Kant,
Hegel, Marx, Husserl etc. Apenas levanto a hipóte-
se de que, pela abordagem que fiz, Adorno foi um
rigoroso leitor de Nietzsche e se tornou mais ex-
pressivo, analítico e filosófico depois dessas leituras.
A forma, também, com que compõe as Minima
Moralia é a mesma com que Nietzsche construíra a
Origem da Tragédia: o aforismo, um protesto con-
tra a maneira acadêmica padronizada de escrever e
contra os sistemas fechados e “completos”.
A configuração que este texto foi tomando
durante a sua elaboração expressa uma intenciona-
lidade primeira: colocar lado a lado esses dois pen-
sadores alemães e ouvir deles algumas de suas cria-
ções originais sobre a dialética negativa. E a melodia
que eles nos fizeram ouvir foi maviosa, apesar de
elaborada quase que inteiramente por harpejos
sombrios e distoantes.
Referências BibliográficasADORNO, T.W. Minima Moralia: reflexões a partir da vida danificada. Trad. Bicca, L.E. São Paulo: Ática, 1992.
MARTON, S. Nietzsche: a transvaloração dos valores. São Paulo: Moderna, 1993.
NIETZCSHE, F. A Origem da Tragédia. 7ª. ed., Trad. Ribeiro, A. Lisboa: Guimarães Editores, 1996.
32 Ibid., p. 20. 33 Ibid., p. 9.
Impulso_28.book Page 121 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

122 impulso nº 28
Impulso_28.book Page 122 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 123
A VIDA É BELA: o amor fati de Nietzsche no cinema*1
LIFE IS BEAUTIFUL:the Amor Fati of Nietzsche in film
Resumo O que Nietzsche definiu, sob parcial influência de Schopenhouer, comovontade de poder se revela de modo claro não na vida de César ou de Napoleão, masnas práticas banais do cotidiano das pessoas comuns. O filme A Vida é Bela tem a ou-sadia de mostrar isso ao resgatar, em meio à pervesidade de um campo de concentra-ção, o elemento fundamental da filosofia nietzscheana: o amor fati.
Palavras-chave NIETZSCHE – SCHOPENHOUER – AMOR FATI.
Abstract What Nietzsche defined, under partial influence by Schopenhouer, as thewill to power is revealed more clearly not in the life of Cesar or Napoleon, but in thetrite everyday practices of common people. The film, Life is Beautiful, has the auda-city to show this by redeeming within the perversity of a concentration camp, thefundamental element of Nietzschean philosophy: the amor fati.
Keywords NIETZSCHE – SCHOPENHOUER – AMOR FATI.
1 Esse ensaio, aqui traduzido por Peter Naumann, foi inicialmente publicado na revista filósofica der blaue rei-ter – Journal für Philosophie, como “Das Leben ist schön Nietzsches amor fati im Kino”.
CHRISTOPH TÜRCKE
Professor de Filosofia naAcademia de Arte Visual em
Leipzig, Alemanha. Autor,entre outros, do livro O Louco.Nietzsche e a Mania da Razão
(Vozes, 1993)
*
Impulso_28.book Page 123 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

124 impulso nº 28
s festividades por ocasião do 100.º aniversário da morte deNietzsche sugerem que seu destino não difere do de todosos outros aceitos no panteão dos grandes filósofos. Aospoucos ele adquire o que Max Frisch denominou a “re-tumbante falta de influência de um clássico”. Se ele aindaproduz em algum lugar um pouco do efeito perturbadore transformador outrora exercido, quando era menciona-do às escondidas e lido debaixo do cobertor ou na trin-
cheira, isso acontece mais onde ele atua sem dar a conhecer o seu nome. Eaqui temos agora um caso interessante.
Há um bom par de anos teve início um violento debate sobre um filmeque fez dançar os conhecidos padrões político-morais da superação do pas-sado. Esse debate é um discurso nietzschiano – e muito mais atual do que oacadêmico. Só que os seus participantes não se dão conta disso. Conhecempouco ou nada de Nietzsche. E quem o conhece não participa, pois o nomede Nietzsche não aparece em nenhum momento do filme. Seu filósofo de re-ferência é outro.
O protagonista e seu amigo se vêem em uma situação na qual precisamdividir uma cama. Deitam-se para dormir. O amigo acaba de fazer uma per-gunta. Segundos depois, ele dorme profundamente, sem esperar pela respos-ta. E quem o proveu dessa surpreendente capacidade? Schopenhauer! “Elediz que você consegue fazer tudo com a vontade: ‘Sou o que quero ser...’, eagora quero ser alguém que dorme. No íntimo, eu disse para mim: ‘Durmo,durmo, durmo!’ E já estava dormindo!”.2
Evidentemente estamos diante de um Schopenhauer caricato. O au-têntico teria protestado contra essa redução da vontade, tal como ele a com-preendia, ou seja, como motor de todo o processo do universo, a um meioda auto-hipnose. Mas houve um schopenhaueriano a quem essa redução de-veria ter se afigurado um exagero bem-sucedido. A assim chamada vontadeconsiste apenas no modo específico “da hipnotização de todo o sistema ner-voso e intelectual”3 que um organismo se permite.
É perfeitamente possível formular a relação de Schopenhauer e Nietzschenesses termos: a revaloração da vontade. O que teria desagradado a uns comocaricatura, torna-se o busílis para os outros. Quando jovem, Nietzsche esteveinteiramente sob a influência da concepção schopenhaueriana da vontade.Mas quão mais experiente ficou, mais vazia ela lhe pareceu. Uma vontade domundo, que age e opera em tudo o que se move: será que ela não é um prin-cípio metafísico vazio, abstrato? Seria uma desconsideração do fato de “von-tade de algo” ser sempre sinônimo de “vontade de impor algo” e, conseqüen-temente, “vontade de se impor”: querer vencer as resistências, ainda que sejamtão miúdas e banais como o cansaço matutino, quando soa o despertado.
Vontade de poder: na opinião de Nietzsche, ela não se encontra apenasem César e Napoleão, mas em todos os assalariados que levantam de manhã,
2 BENIGNI, & CERAMI, 1998, p. 35.3 NIETZSCHE, KSA, 1988, p. 296, v. 5.
AAAA
Impulso_28.book Page 124 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 125
todas as pessoas que tomam café e levam a xícara àboca, só que, nesses casos, se manifesta de forma tãobanal que as pessoas não se dão conta, e tambémnão vale a pena falar disso. Mas é justamente nas coi-sas mais miúdas, menos chamativas, mais delicadas,que devemos estudar o que é a vontade de poder sequisermos compreender os seus grosseiros casos nahistória universal. E, nesse caso, se descobre o se-guinte: a vontade nunca é outra coisa senão vontadede poder, a tentativa de impor, de impor-se. É intei-ramente errado imaginá-la como princípio moven-te, que está por trás do mundo das aparências comoum motor por trás da cenografia, ou como uma es-pécie de órgão da alma que capacita à vontade comoo olhar capacita à visão. A vontade não é nenhumainstância que faz algo, mas um fazer que se compõea si mesmo sem saber a partir de quê; que se confereuma direção e uma coesão sem saber como. A suapressão é “uma complexidade de mil modos” quenós “sentimos como unidade”, pois “faltam-nos to-dos os órgãos mais sensíveis” para registrá-la.4 Masessa complexidade não é; nós a sugerimos para nósmesmos. Pessoas somente possuem um self unitá-rio, à medida que suas manifestações pulsionais eafetivas difusas e divergentes resultam, na sua soma,em uma espécie de paralelograma de forças que selhes afigura posteriormente como se fosse uma fa-culdade da sua própria alma. É isso que elas deno-minam sua vontade. Colocam-na, então, como ter-ceira faculdade da alma, ao lado das pulsões e do in-telecto, e procuram se convencer de que se a vonta-de e o intelecto sentassem juntos na boléia da almae segurassem as rédeas, o pensamento tornar-se-iaracional e a ação, moral.
Tudo isso é ficção, afirma Nietzsche. Essa bo-léia nem existe. Não se pode falar de três forças fun-damentais da alma. O que denominamos “querer” e“conhecer” é “apenas um certo comportamento daspulsões entre si”,5 a assim chamada alma é apenasum campo de combate de manifestações pulsionais,e o que a filosofia denomina “autodeterminação” éapenas um caso ideal de auto-hipnose. Em outraspalavras: a nossa assim chamada vontade é apenas o
produto mais constante da nossa auto-sugestão. Se-riam os nossos atos cotidianos de vontade, portan-to, atos de sugestão, seria a nossa relação com omundo uma relação hipnótica? Com efeito, afirmaNietzsche. Sem uma dose de hipnose não podemosapreender, digerir, transformar nada. E como deve-ríamos fazer uma idéia, formar um conceito das coi-sas vivas, sem fixá-las e colocá-las, por assim dizer,nesse estado de sono mental que denominamosabstração? Ocorre somente que na vida cotidiananão costumamos notar que procedemos assim. Sónos deparamos com isso no caso extremado. E o fil-me que aqui está em discussão não faz outra coisasenão promover um exercício mental num caso ex-tremo de hipnose.
Não sei porque ele cita Schopenhauer comofilósofo de referência, pois já o título é sugestiva-mente hipnótico no exato sentido nietzschiano: AVida é Bela. Isso como título da história de uma pe-quena família judia que é levada à força da Itália paraum campo de concentração alemão, será que a pro-vocação poderia ser maior? E, não obstante, o títulosomente leva a sério o que Nietzsche entende poramor fati: “o fato de que não queremos ter nada di-ferentemente, não para frente, não para trás, não emtoda a eternidade. Não apenas suportar o que é ne-cessário, menos ainda ocultá-lo (...) mas amá-lo(...)”.6 Isso já causou embrulhos no estômago demuita gente há cem anos. Nada disso, argumentoua crítica a Nietzsche por parte dos socialistas. Já ébastante ruim se podemos fazer contra as situações,assim como elas são, tão pouco a ponto de elas nosoprimirem como um destino. Mas daí ainda a amaro destino? Isso é perverso. E justamente nessa linhaargumentam os críticos do diretor e ator RobertoBenigni. O jornal New York Times caracterizou oseu filme como uma “versão benigna da negação doHolocausto”. (...) “O público chega aliviado e felizda sala de cinema e confere prêmios a Benigni porele finalmente lhe abrir a perspectiva de um cami-nho de fuga.”
É praticamente impossível imaginar um equí-voco mais crasso do que significa o amor fati: ele jus-tamente não é a aceitação bem-comportada de tudo
4 Idem, KSA 13, 1988, p. 329.5 NIETZSCHE, KSA 3, 1988, p. 559. 6 NIETZSCHE, KSA 6, 1988, p. 297.
Impulso_28.book Page 125 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

126 impulso nº 28
o que acontece, mas a transformação da aceitação emum evento de dignidade própria. O artifício do amorfati é um modo emocional-mental de agarrar, seme-lhante ao judô, que absorve a força do oponente, au-menta o seu impulso e inverte-a em força sobre ooponente. Onde existe o amor fati, existe a arte dainversão. Para Nietzsche, ela é idêntica à arte em ge-ral, pois a arte, conforme diz, é “a realidade mais umavez, apenas em seleção, reforço, correção... O artistatrágico não é nenhum pessimista – ele precisamentediz sim a tudo o que é questionável e mesmo ao queé terrível”.7 O verdadeiro artista é um artista da vida– justamente por desarmar dizendo “sim” e fazendocomo quem diz “sim”.
Parece uma aula elementar de amor fati nietzs-chiano quando o livreiro Guido e seu filho Giosuè,pouco antes de serem levados à força ao campo deconcentração, descobrem na caminhada pela cidade,na vitrine de uma confeitaria, o cartaz “Entradaproibida para judeus e cachorros”, e entabulam a se-guinte conversa: “– Pai, por que os judeus e cachor-ros não podem entrar aí?”; “– Ora, eles não queremjudeus e cachorros. Cada um na sua. Lá trás há umaloja de ferragens. Lá, eles não deixam entrar espa-nhóis e cavalos. E o Fulano, o farmacêutico – on-tem, passei na farmácia com um amigo, um chinêsque tem um canguru –: ‘– Não, chineses e cangurusnão podem entrar aqui!”. Ele não gosta deles.’”; “–Mas nós deixamos entrar todos!”; “– Não, a partirde amanhã também vamos colocar um cartaz. Dequem você não gosta?”; “– Aranhas. E você?”; “–Eu? Não gosto dos visigodos! E amanhã vamos es-crever: ‘Entrada proibida para aranhas e visigodos’...Estou cheio! Estou farto desses visigodos!”.8
Dizer “sim” à proibição dos nazistas, poten-ciá-la por “seleção, reforço, correção”, de tal formaque ela finalmente aparece como um idiota chapa-do: isso é mais destrutivo do que qualquer erupçãode indignação. E como aqui no detalhe, o filme ope-ra em toda a sua extensão. O absurdo dos camposde extermínio é levado ad absurdum pelo “sim”. Noaniversário do pequeno Giosuè, os dois são levadosà força, e o pai Guido afirma ao aniversariante que
teria organizado uma excursão para fora da cidadecom um grande jogo, no qual seria necessário fazermil pontos. Durante todo o tempo no campo, elemantém o filho na convicção de que tudo era con-tinuação do jogo ominoso e que os dois estariamprestes a ganhar o prêmio principal: um tanque. Ofilho sobrevive somente graças a essa sugestão, àqual o pai, finalmente, se sacrifica. Mal ele saiu en-gatinhando de seu esconderijo no campo abando-nado, o primeiro tanque dos aliados dobra a esqui-na. O prêmio principal anda realmente em sua dire-ção, e o motorista do tanque ergue a criança, feliz,em seus braços.
É claro que um tal final só existe no cinema.No campo de concentração real, a sugestão não te-ria durado um dia sequer. Mas isso o filme tambémnão sugere. Ele não pretende ser uma representaçãorealista de um campo de extermínio. Toma, muitopelo contrário, o campo de concentração como oque ele passou a ser na consciência e no discurso daesfera pública: uma quintessência do terror moder-no, coagulada em sigla, fixa, mobilizável a qualquertempo. Essa quintessência, o filme encena – semdúvida à maneira de um clichê. E este seria insupor-tável se não fosse a prova de resistência do amor fati.Ver o cotidiano do campo de concentração comoum excitante jogo para fazer mil pontos significaolhá-lo com amor, olhar para ele, de certo modo, deforma mais perscrutadora do que qualquer olharanalítico sobre os fatos – bem no sentido da frase dePaul Klee: “A arte não reproduz o que é visível, mastorna visível”.
O olhar amoroso sobre o cotidiano do cam-po de concentração é um olhar artístico e, nessa me-dida, irreal. Quem foi interno de um campo nãopode olhar de forma tão artística, tão artificial. Issoexige o privilégio da distância, a graça do nascimen-to tardio. Mas tal graça deve ser aproveitada, se nãoquisermos que a quintessência do terror modernose enrijeça em monumento, clichê, argumento mo-ralista ou frase feita. Ela está indo justamente nessadireção. A isso, Benigni opôs algo que não exigeapenas coragem (Mut), mas ousadia (Übermut): umfilme que insufla, por meio do seu olhar amoroso,uma nova vida ao clichê do campo de concentração.“Nada dá certo sem que a ousadia tenha sua parte
7 Ibid., p. 79.8 BENIGNI & CERAMI, 1988, l. c., p. 107ss.
Impulso_28.book Page 126 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 127
nisso”, escreve Nietzsche.9 Em A Vida é Bela, a ou-sadia passa a advogar todas as manifestações huma-nas que o campo de concentração ameaça matarmesmo depois de sua duração real. Em que consis-tiria a alegria dos sobreviventes? Há várias pessoasque não suportaram a vida posterior e se suicidaram.Primo Levi e Jean Améry são apenas os casos maisconhecidos. E mesmos as gerações subseqüentes, seelas levarem incondicionalmente a sério a evocaçãodo que foi feito contra os seus antepassados, quealegria ainda lhes restará? Brecht não estava inteira-mente errado ao escrever o poema Aos Pósteros:“Que tempos são estes, nos quais uma conversa so-bre árvores já é quase um crime, por incluir o silên-cio sobre tantas atrocidades?”.10 Somente à luz docampo de concentração – no qual a conversa ino-cente sobre árvores, os primeiros açafrãos ou os úl-timos raios de sol, a fruição da música ou uma dançaalegre se afiguram todas quase como um crime – aimensa tarefa de revaloração do amor fati se mani-festa em sua plenitude. Não se trata de nada menosdo que inverter esses quase-crimes em impulsos decombate ao crime para que as atrocidades não ven-çam postumamente e apaguem para sempre toda a
alegria de viver. Contra isso só ajuda uma alegria de
viver que supera ao menos posteriormente as atro-
cidades, uma vez que foi impossível superá-las in lo-
co. Contestar-lhes ao menos a vida póstuma signi-
fica contestar-lhes o direito à palavra final. Tal reva-
loração é o oposto de uma neutralização final do
potencial poluente da história. Ela não se poupa a
memória: aprofunda-a. Não evoca apenas, mas tam-
bém presta contas acerca do que perfaz, em última
instância, a força e o sentido de toda a lembrança:
que nos libertemos do pesadelo do passado, ao in-
vés de enrijecermos sob sua pressão.
Com tudo isso, o filme inaugura um novo
discurso sobre a crítica. Faz sentir que as denúncias,
os desmascaramentos e as refutações sempre iguais
resultam em nada. Tendem tanto ao clichê, à frase
feita ou ao argumento moralista quanto, também a
elas tende, a sempre reiterada imputação, essa sua
quintessência do terror moderno. Talvez só reste
uma chance para a crítica: ela assumir uma forma
artística. O amor fati de Nietzsche poderia ser o
seu artifício: o início de um procedimento que, na
sua forma mais elevada, talvez ainda deva ser de-
senvolvido. Talvez o seu nome seja, então, “auto-
superação da crítica”.
Referências BibliográficasBENIGNI, R. & CERAMI, V. Das Leben ist schön. Frankfurt am Main,1998.
BRECHT, B. Die Gedichte in einem Band. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981.
NIETZSCHE, F. Zur Genealogie der Moral. Zweite Abhandlung, § 4. Kritische Studienausgabe (KSA). Berlim/Nova York/Munique: De Gruyter/DTV, 1988, v. 5.
__________. Nachgelassene Fragmente. KSA 13. Berlim/Nova York/Munique: De Gruyter/DTV, 1998.
__________. Die fröhliche Wissenschaft. KSA 3. Berlim/Nova York/Munique: De Gruyter/DTV, 1998.
__________. Ecce Homo. KSA 6. Berlim/Nova York/Munique: De Gruyter/DTV, 1998.
__________. Götzen-Dämmerung. KSA 6. Berlim/Nova York/Munique: De Gruyter/DTV, 1998.
9 NIETZSCHE, KSA 6, 1988, p. 57.10 BRECHT, 1981, p. 723.
Impulso_28.book Page 127 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

128 impulso nº 28
Impulso_28.book Page 128 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 129
CRÍTICAS NIETZCHEANAS À MODERNIDADENIETZSCHEAN CRITICISM TO MODERNITY
Resumo A presente reflexão traz como ponto central a discussão acerca da críticanietzecheana à Modernidade. Mediante a apresentação temática de elementos funda-mentais da referida crítica – o niilismo radical, a crítica ao cristianismo e à ciência histó-rica –, busca-se demonstrar a filosofia de Nietzsche como uma das possibilidades de lei-tura do fenômeno da Modernidade. O filósofo recusa-se a investigar novos horizontesdo projeto de Modernidade. Ao contrário, faz dela uma análise desde seus aspectos maisperversos.O autor, entendendo ser este um tempo em que a pessoa humana se encontra excluída,e reconhecendo a necessidade de repensar o projeto ocidental de humanidade, recorreao pensamento nietzschiano para encontrar, na gênese de seu pensamento radical, ele-mentos inspiradores para uma nova crítica.
Palavras-chave MODERNIDADE – CRÍTICA – PROJETO ANTROPOLÓGICO.
Abstract The central point of this reflection is the discussion about the Nietzscheancritiques towards modernity. Though the thematic presentation of the fundamentalelements of the above mentioned critiques (radical nihilism, the critique of Christia-nity and historical science), Nietzsche’s philosophy is demonstrated as one of thepossibilities in reading the phenomenon of modernity. This philosopher refuses to in-vestigate new horizons of the project of modernity. On the contrary, he elaborates ananalysis of the project from its most perverse aspects.The author, understanding that this is a period in which the human person is foundexcluded, and recognizing the necessity of rethinking the occidental project of hu-manity, returns to Nietzschean thought in order to find within the genesis of the ra-dical thinking of this philosopher, inspiring elements for a new critique.
Keywords MODERNITY – CRITIQUE – ANTROPOLOGICAL PROJECT.
JUNOT CORNÉLIO MATOS
Professor titular do Departamentode Filosofia e decano do
Centro de Teologia e CiênciasHumanas da Unicap
(Universidade Católica de Per-nambuco). Mestre em Filosofia
Social e doutor em Educaçã[email protected]
Impulso_28.book Page 129 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

130 impulso nº 28
legado espiritual e o testemunho existencial de Frede-rico Nietzsche se demonstram de uma atualidade mar-cante. Nietzsche edificou uma filosofia sobre o ho-mem, levando o niilismo às últimas conseqüências.Cevenacci1 opina que “com Nietzsche, o niilismo pa-rece se tornar profético. Pela primeira vez o niilismo setorna consciente. Nietzsche reconheceu o niilismo e oexaminou como um fato clínico. Dizia-se o primeiro
niilista completo da Europa”.Oliveira2 opina que “o pensamento de Nietzsche vai se transformar no
horizonte fundador de todos os diferentes matizes da crítica à razão que ex-perimentamos nos dias de hoje”. Situar o problema da crítica nietzschiana àModernidade significa colocar como questão até onde era mesmo o projetode Nietzsche elaborar uma crítica da razão contra a razão.
Configura-se, como projeto fundamental de sua filosofia, a recupera-ção da vida – reduzida a acidente, segundo sua visão – e a elaboração de umanova compreensão de homem. “O que é grande no homem é que ele é umaponte, e não um fim; o que pode ser amado no homem é que ele é um passare um sucumbir”;3 “Vede, eu sou um anunciador do relâmpago, e uma gota denuvem; mas esse relâmpago se chama o além-do-homem”.4 Alguns indicamque, para tanto, Nietzsche colocou-se contra a razão, e o classificam de “ir-racional”; outros, ao contrário, advogam ter ele denunciado a racionalizaçãoda vida pelo uso autoritário da razão instrumental. A tentação individualista foivista como uma das mais notáveis características da chamada Modernidade.
Não se pode desconsiderar que o pensamento de Nietzsche se desen-volveu numa direção em que se nega todo valor ao que representa a dimensãosocial da existência. Em primeiro lugar, está a vontade de voltar-se para o queé inatural e de combater, em si, o espírito do tempo. Há uma insatisfação crí-tica em face de todo o conhecimento que se impõe com a marca da objeti-vidade. Há uma condenação de tudo o que é “massa”, “multidão”, “reba-nho”, e que se estende às heranças culturais, às instituições colocadas sob osigno da “ilusão” ou da “decadência”. Todas essas rejeições apresentam-se,numa absoluta priorização do indivíduo. Tal afirmação incondicional temcomo escopo mantê-lo um indivíduo só. Como entender essa filosofia da in-dividualidade? Em que perspectiva deve ser considerado o eterno-retorno-a-si-mesmo, e em que sentido se pode encontrar, aí, uma categoria favorável auma concepção humanista nova?
Nietzsche aponta o horizonte de sua missão:
A minha missão consiste em preparar para a humanidade um momentosupremo de retorno à consciência de si mesma, um grande meio-diacom o qual a mesma possa olhar para trás, bem longe de si, situado –pela primeira vez – o problema do “por quê?” e do “com que fim?”. Este
1 CEVENACCI, 1978, p. 180.2 OLIVEIRA, 1989, p. 18.3 NIETZSCHE, 1968, p. 62.4 Ibid.
OOOO
Impulso_28.book Page 130 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 131
escopo é uma conseqüência necessária daconvicção de que a humanidade não cami-nha por si mesma, em linha reta, não é real-mente governada pela providência divina,mas, ao contrário, debaixo de seus mais sa-grados conceitos de valor se ocultou, impe-rando o instinto da negação, o instinto dacorrução, o instinto de decadência.5
As teses expressas na filosofia nietzschiana,propostas em poemas, ditirambos e textos aforis-máticos, são uma prova e uma provação. Nietzscheé um irreverente ou, como ele mesmo se apresenta,um extemporâneo: “tampouco é ainda meu tempo,alguns nascem póstumos”.6 Extemporaneidade sig-nifica, na visão de Marton,
(...) uma certa maneira de se relacionar como presente. O que Nietzsche diz não cons-titui um discurso autônomo e independen-te, mas um discurso mesclado a um tempoe a um espaço determinados, inscritos numcontexto preciso. Se ele se considera póstu-mo é porque se acha intimamente ligado asua época. Se nasceu póstumo é porque en-dereça ao mundo em que vive uma críticaradical. Extemporaneidade implica radicali-dade. (...) Radicalidade implica diferença. Épor isso que nos leva a alterar o ponto devista, inverter o ângulo de visão, adotar ou-tra perspectiva. De Nietzsche se pode dizer:é um homem do seu tempo, portanto, con-tra ele.7
Figura controvertida, o próprio Nietzsche ti-nha consciência das dificuldades dos seus contem-porâneos em compreendê-lo e, muito mais, emaceitá-lo. Porém, a recíproca é verdadeira. Ao justi-ficar o porquê da escrita do seu polêmico Ecce Ho-mo, escreveu:
Prevendo que dentro em pouco devo diri-gir-me à humanidade com a mais séria exi-gência que jamais lhe foi colocada, parece-me indispensável dizer quem sou. Na ver-dade, já se deveria sabê-lo, pois não deixei de“dar testemunho” de mim. Mas a despro-
porção entre a grandeza de minha tarefa e apequenez de meus contemporâneos mani-festou-se no fato de que não me ouviram,sequer me viram. Vivo de meu próprio cré-dito; seria um mero preconceito, que eu vi-va? (...) Basta-me falar com qualquer ho-mem culto que venha a Alta Engadina noverão para convencer-me de que não vivo.(...) Nestas circunstâncias existe um dever,contra o qual no fundo rebelam-se os meushábitos, mais ainda o orgulho de meus ins-tintos, que é dizer: Ouçam-me! Pois eu soutal e tal. Sobretudo, não me confundam!8
Adiante, dirá: “Para aquilo a que não temacesso por vivência, não se tem ouvido”.9
Nietzsche não deseja ser confundido. Não setem como “bicho-papão”, mas também não se vêcomo “santo”. Diz-se “o primeiro imoralista (...)destruidor por excelência”.10 Ele é, segundo suaprópria autobiografia espiritual, aquele que destrói,que visa a uma transmutação de todos os valores. Taldesejo está motivado por uma vontade de mais vida:“Derrubar ídolos (minha palavra para ideais), istosim é meu ofício”.11
Perguntar, hoje, pela atualidade de Nietzschepode significar um anacronismo, visto que ele mes-mo se disse “inatual”. Não obstante, o caminho aseguir não pretende ser nem apologético nem dedetratação. Busca-se uma via crítica que veja quetipo de contribuição pode dar a filosofia de Nietzs-che, lida na ótica e na perspectiva da crise da Mo-dernidade e de sua idéia de homem. Em carta escritaa Erwin Rohde, Nietzsche declarou: “Meu estilo éuma dança, um jogo de toda a sorte de simetrias eum pular por cima dessas simetrias. Isto até na es-colha das vogais”.12 Sua filosofia deverá, então, serencarada como uma obra assistemática, por vezes li-teratura, que inova a forma e o conteúdo de se fazerfilosofia. Nietzsche insurge-se, solitário, contratodo o marasmo de uma humanidade presa a valo-res que lhe negam a vida. Assumiu perigosamente atarefa de empreender uma crítica radical contra
5 Idem, Sobre a Verdade e a Mentira no Sentido Extra-moral, Prólogo.6 Idem, Por que escrevo tão bons livros, § 1.7 MARTON, 1990, pp. 7-8.
8 NIETZSCHE, 1968, Prólogo, 1.9 Ibid., § 6.10 Ibid., p. 159.11 Ibid., p. 44.12 Idem, Assim Falava Zaratustra, in NT, p. 21.
Impulso_28.book Page 131 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

132 impulso nº 28
qualquer espécie de transcendência que negue a vi-da, seja num mundo divino (cristianismo), em con-traposição ao mundo humano, seja num mundoideal (metafísica), em contraposição ao mundo real.Daí sua angustiante questão: “Como poderíamosnós, após tais visões (...) satisfazermo-nos como ho-mem atual?”.13
A inspiração para um caminho a seguir rumoà filosofia nietzschiana está indicada por Gérard Le-brun: “Mas que outra coisa pretender, quando nospropomos a ler Nietzsche hoje? Muito se enganariaquem pretendesse travar conhecimento com um fi-lósofo a mais. Nietzsche não é um sistema; é uminstrumento de trabalho – insubstituível. Em vez depensar o que ele disse, importa, acima de tudo, pen-sar com ele. Ler Nietzsche não é entrar num paláciode idéias, porém iniciar-se num questionário, habi-tuar-se com uma tópica cuja riqueza e sutileza logotornam irrisórias as ‘convicções’ que satisfazem asideologias correntes”.14
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARESOusadia seria pretender definir a Modernida-
de num conceito definitivo. Não há lugar para essapretenção. Nietzsche é o viés pelo qual se deseja vera Modernidade. Está claro, porém, que a sua filoso-fia não é a única. E ainda: esse trabalho apresenta,apenas, uma possibilidade de leitura entre tantas ou-tras já realizadas.
O termo modernidade está, hoje, desgastadopelo freqüente e vasto uso que dele se faz. Algunsfalam de modernidade econômica e política, referin-do-se aos ideais e metas que muitas sociedades al-mejam alcançar. Para outros, a modernidade signifi-ca um projeto social que pressupõe racionalizaçãodos cidadãos não apenas na modernização da má-quina estatal, mas também no redimensionamentoda própria vida em sociedade. Pode-se, ainda, falarem modernidade cultural, recorrendo à idéia de quenecessário se faz manter-se na “ordem do dia”, istoé, acertar os próprios passos com os da história. Fi-nalmente, pode-se, também, conceber o termo,conforme Vaz,15 como expressando “a concepção
do mundo que o homem moderno de qualquer la-titude e vivendo nos novos tempos deve adotar, eem face da qual são atingidas por irremediável cadu-citude as representações ético-religiosas das socie-dades tradicionais”.
É de Kant a definição clássica da Modernida-de. Para ele, nela o homem chega à sua maioridade,deixando-se guiar pela razão e rompendo com astradições e dogmas que determinavam sua vida atéentão. Max Weber explicita a definição kantiana aoapontar para o mundo moderno como um mundoque descarrila, abrindo espaço para a razão humanae profana. Hegel é o filósofo por excelência da Mo-dernidade. Com ele, ela ganha “status” de problemafilosófico. À definição de Modernidade pela razão,ele acrescenta o princípio da subjetividade. Tal prin-cípio tornou-se o horizonte e o fundamento da cul-tura moderna.
Vaz16 reflete que a Modernidade, elevada àcondição de problema filosófico, passa a ser uma ca-tegoria de leitura do tempo histórico. Ele assinala,como evento importante, o surgimento da ciênciahistórica como discurso explicativo do passado.Dessa forma, “pensada filosoficamente, a idéia demodernidade é, assim, correlativa à formação deuma consciência histórica, cuja primeira caracterís-tica é o privilégio de conferir ao próprio ato de filo-sofar a atualidade de seu exercício, de ordem a julgaro tempo, e cuja primeira manifestação é, pois, o apa-recimento da história”.
Os sociólogos tendem a definir a Modernida-de como a civilização inaugurada no final do séculoXVIII com dois importantes eventos sociais: a revo-lução industrial e a revolução democrática. Tais acon-tecimentos proporcionaram o advento de uma novacultura. A revolução industrial criou grande riqueza,multiplicou o impacto do capitalismo sobre a socie-dade e produziu duas novas classes sociais: os pro-prietários da indústria e a classe trabalhadora. Crioua metrópole moderna. Fomentou o desenvolvimen-to da ciência e da tecnologia e gerou a expectativa deum progresso contínuo. A revolução democráticalevou à rejeição das hierarquias tradicionais, fomen-tou os ideais de liberdade e igualdade e criou o desejo
13 Ibid., p. 125.14 LEBRUN, G. O Estado de S.Paulo, 24/ago./90.15 VAZ, 1988, p. 241. 16 Ibid.
Impulso_28.book Page 132 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 133
de participação política. Surgiu, também, o Estadomoderno, caracterizado pela centralização do podere por uma burocracia, sempre mais extensa.
Ambas as revoluções encarnaram idéias egres-sas do pensamento iluminista dos séculos XVII eXVIII, que pretendiam destruir a velha ordem do seustatus quo, elevando a razão à condição de guia da au-tolibertação humana. Razão, neste caso, significava aciência demonstrável para entendimento e controleda natureza e da sociedade; ainda, a filosofia racionalque, por sua natureza, definia o destino humano emtermos de liberdade e responsabilidade. Nesse senti-do, para compreender as raízes da dinâmica específi-ca da modernidade, certamente se deve recorrer aosconceitos de subjetividade e racionalidade. Pois apassagem para a Modernidade coincide com a emer-gência de um sujeito humano consciente de sua au-tonomia e com a vitória de uma análise racional detodos os fenômenos da natureza e da sociedade. Osucesso das revoluções industrial e democrática aca-bou transformando o “liberalismo” na atitude filo-sófica dominante nas sociedades modernas.
São muitas as tentativas de elaborar paradig-mas novos que possam orientar a caminhada domundo moderno, expurgando suas lamentáveisconseqüências. Na verdade, parece que a idéia de ra-zão pura tende a não encontrar suas conseqüênciascabais numa razão política. A velocidade da técnicae a versatilidade da ciência nem sempre têm comun-gado, em seus resultados, com o humanismo dosromânticos nem com o idealismo revolucionárioque pretendia reconhecer, em todos os homens, suaigualdade e seu direito à liberdade. As grandes des-cobertas da ciência e o avanço da tecnologia reno-vam incessantemente a imagem do mundo e do lu-gar que o homem é chamado a ocupar. A vida ganhaum ritmo alucinante. Milhões de pessoas são sedu-zidas a abandonar seu habitat ancestral e marcharem busca de uma nova vida na prometida metrópo-le. Continua havendo um descomunal crescimentourbano, fazendo a cidade grande, coroada por umamultidão de miseráveis. Dessa forma, parece perti-nente falar de nossa Modernidade como de umaModernidade em crise.
A necessidade de precisar bem as críticas que,posteriormente, serão objeto de reflexão, leva a in-
dagar sobre os fenômenos que permitem delimitara Modernidade como uma época e apreendê-la emsuas tendências básicas, também do ponto de vistafilosófico.
A Modernidade, porém, no dizer de muitos,está em crise. “As crises históricas determinam asmudanças históricas, e estas acontecem quandomuda radicalmente a estrutura da vida”.17 O proble-ma, portanto, é a crise da Modernidade. Tal questãoé relevante para a filosofia uma vez que “o desen-volvimento da história, e particularmente das criseshistóricas, cabe à filosofia, seja pelo que esta dá à his-tória, seja pelo que recebe dela própria”.18 Inseridaem um mundo complexo e em crise, a filosofia nãodeve ficar indiferente a este seu contínuo renovar-se.
Freqüentemente, a Modernidade e sua crisetêm sido objeto da ocupação de pesquisadores qua-lificados, que, no geral, nutrem um consenso não sócom respeito ao fato da crise mas, também, ao fatode já estar superado um certo modo de compreen-der a razão e a subjetividade. Alguns apregoam o“fim dos tempos modernos”, outros advogam a im-perativa necessidade de se repensar uma neomoder-nidade. Fala-se, ainda, da superação da filosofia dasubjetividade, entendida a partir do eu (individual,transcendental ou coletivo) e da consciência em suarelação de oposição e domínio do outro – e dos ou-tros –, considerado como mero objeto.
Há quem considere que tal crise se restrinja àmodernidade cultural ou a algum de seus aspectos.Para outros, o projeto da modernidade ainda nãoestá concluído e a crise é, portanto, crise de ummodo de viver e compreender a Modernidade e suasrevoluções. Existem, também, aqueles que preferemfalar em Pós-Modernidade. São, portanto, três po-sições bem diferenciadas, a saber: a neoconservado-ra, a pós-moderna e a teoria crítica.
A postura de crítica neoconservadora é a desalvaguardar a validade da racionalidade funcional eda lógica capitalista que impulsionam as produçõescientífico-técnicas e técnico-econômicas. Creditama elas os avanços da Modernidade, fundados em va-
17 CALDERA, 1984, p. 14.18 Idem, p. 17.
Impulso_28.book Page 133 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

134 impulso nº 28
lores como o gerenciamento racional da economiade mercado, o pragmatismo e o calculismo.
A crítica pós-moderna faz-se a partir da idéiade sua polêmica. Esta tende a acentuar os aspectosperversos da Modernidade para, assim, despedir-seda mesma, denunciando seu compromisso com umEstado excessivamente burocrático e uma razão to-talitária. Entretanto, tal tendência pode ser encon-trada, de modo pleno ou embrionário, na própriaModernidade. Na realidade, deve-se falar em ten-dências que se elaboram, de maneira muito variadase que não seguem uma orientação única. A teoriacrítica define a Modernidade como um projeto in-concluso e com suficientes reservas utópicas pararealizar-se.
Há quem diga que, diante da crise da Moder-nidade, a filosofia se encontra numa encruzilhada:ou o compromisso ou a indiferença. Naturalmente,não se pretende caracterizar a filosofia como “donade toda a verdade” ou particularizar uma filosofiacomo a mais verdadeira. Mas como nenhuma filo-sofia é neutra, a filosofia deveria ser esse instrumen-to crítico que traz à luz os aspectos ofuscados pelasilusões daqueles para os quais a realidade é algo pe-rigoso. Enquanto possibilidade de leitura da realida-de, Nietzsche declara a sensibilidade que deverá serinerente a todo filósofo: “Todo homem que for do-tado de espírito filosófico há de ter o pressentimen-to de que atrás da realidade em que existimos e vive-mos se esconde outra diferente, e, por conseqüência,a primeira não passa de uma aparição da segunda”.19
A CRÍTICA NIETZSCHIANA Nietzsche é freqüentemente tomado como
instrumento para a crítica à Modernidade. Sobretu-do os pós-modernos buscam em sua filosofia ele-mentos para a crítica à razão, numa tentativa de de-monstrar a Modernidade como época já ultrapassa-da. Habermas defende que,
(...) com o ingresso de Nietzsche no discur-so da modernidade, a argumentação altera-se pela base. Inicialmente a razão fora con-cebida como autoconhecimento concilia-dor, depois como apropriação libertadora e,
finalmente, como recordação compensató-
ria, para que pudesse aparecer como equiva-
lente do poder unificador da religião e supe-
rar as bipartições da modernidade a partir
das suas próprias forças motrizes. Fracas-
sou, por três vezes, a tentativa de talhar o
conceito de razão à medida do programa de
um iluminismo em si mesmo dialético.
Nesta constelação, Nietzsche só tem uma
alternativa: ou submete mais uma vez a ra-
zão centrada no sujeito a uma crítica ima-
nente ou abandona o programa na sua glo-
balidade.20
Nietzsche opta por elaborar uma crítica radi-cal, recusando-se a realizar uma nova revisão do con-ceito de razão, destituindo, assim, a dialética do ilu-minismo. Volta-se contra a metafísica, denunciandoa proliferação de conceitos. Critica o cristianismo e oidentifica como cúmplice de um abstracionismo queesvaziou tudo quanto é essencial. Rebela-se contra aeducação e a cultura, e chama a atenção para a defor-mação historicista da consciência moderna.
Com Nietzsche, a crítica à Modernidade as-sume a forma de uma crítica devastadora da razão,que, segundo Rouanet, busca pela mediação do seumétodo genealógico “desmascarar o bem e o mal, odever e a culpa, como simples máscaras da vontadede potência, princípio fundamental que atravessatoda a história do homem, de suas produções cul-turais”.21
O projeto de uma crítica à modernidade,Nietzsche o elaborou de forma bastante consciente.Referindo-se ao seu Além do Bem e do Mal, declara:“Este livro é, em todo, o essencial, uma crítica damodernidade, não excluídas as ciências modernas,mesmo a política moderna, juntamente com indica-ções de um tipo antipático o menos possível, umtipo nobre, que diz sim. Neste sentido, o livro éuma escola de gentilhomme, entendido o conceitode maneira mais espiritual e radical do que nunca. Épreciso ter dentro de si coragem para simplesmentesuportá-lo, é preciso não haver aprendido a temer.(...) Todas as coisas de que a época se orgulha são
19 NIETZSCHE, Origem da Tragédia, § 20.
20 HABERMAS, 1990, p. 91.
21 ROUANET, 1987, p. 240.
Impulso_28.book Page 134 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 135
percebidas como contrárias a esse tipo, como másmaneiras quase, por exemplo a famosa ‘objetivida-de’, a ‘compaixão pelo sofredor’, o ‘sentido históri-co’, com sua submissão pelo gosto alheio, com seuarrastar-se ante os petis faits, a ‘cientificidade”.22
Pode-se asseverar que Nietzsche olha a Mo-dernidade a partir dos seus aspectos mais perversos.Tem por grande tema a vida e o projeto de transmi-tir todos os valores, mediante uma crítica destemidae radical. Identifica, ao que parece, a Modernidadecomo uma época histórica cuja principal caracterís-tica é a negação da vida, pela imposição de valoresmorais que reduzem o homem a mero animal gre-gário. Reserva, a si, a tarefa de analisar as “idéias mo-dernas”. Nelas identifica e denuncia um procedi-mento marcado pelo ressentimento, uma tendênciamoderna a aplainar as diferenças individuais das pes-soas por uma imposição uniformizadora, e ataca oreino do animal de rebanho. É desse ponto de vistaque avalia os acontecimentos históricos, as corren-tes de idéias e os sistemas de governo. Nesses ter-mos, considera a democracia, o socialismo e o anar-quismo. Aborda vários temas pertinentes à filosofiapolítica, embora não se pretenda um teórico do po-der ou analista político. Atenta para os aconteci-mentos de sua época e não se furta à tentação de re-fletir sobre eles. Porém, em sua obra, a política apa-rece como estreitamente vinculada à moral e à reli-gião23.
Repetidas vezes, Nietzsche adverte para a es-tratégia dos modernos, na tentativa de fazer valermais o instinto de sobrevivência, de conservação, doque a vida. No seu entender, o aparecimento das“idéias modernas” faz parte dessa estratégia. Numfragmento póstumo, pode-se ler: “Cristianismo, re-volução, abolição da escravatura, direitos iguais, fi-lantropia, amor à paz, justiça, verdade: todas essasgrandes palavras só têm valor na luta enquanto es-
tandarte; não como realidade, mas como termospomposos para algo completamente diferente (e atéoposto!)”.24 É a partir dessa perspectiva que o filó-sofo encara todo o ideário moderno.
O pensamento de Nietzsche deve ser situado,historicamente, no pano de fundo da crise do fim doséculo XIX, no clima de decadência e esteticismo eu-ropeu, e se insere no movimento mais amplo da rea-ção antipositivista. Contra a tirania da razão científi-ca, contra o conformismo dos princípios democrá-ticos e igualitários e contra a medíocre confiança emum progresso determinista, Nietzsche levanta seusprotestos. Correlativamente, despojou a história desua função reveladora, herdada do cristianismo emantida nas noções de progresso e de classe, denun-ciando, ao mesmo tempo, seus compromissos coma racionalidade.
Deve-se ressaltar o estilo aforismático de suafilosofia. Com seu estilo peculiar, Nietzsche inau-gura uma nova concepção da filosofia e do filósofo.Não está ele a buscar o ideal de um conhecimentoverdadeiro, mas sim assumindo a tarefa de avaliar. Ainterpretação procura fixar o sentido de um fenô-meno, a avaliação busca determinar o valor hierár-quico desses sentidos. Assim, o aforismo é, ao mes-mo tempo, a arte de interpretar e a coisa a ser inter-pretada. Desse modo, ele entende o filósofo comocrítico de todos os valores estabelecidos e criador denovos valores. O filósofo do futuro deverá ser ar-tista e médico-legislador, pois a tarefa de interpretarseria uma espécie de análise clínica daquele que con-sidera os fenômenos como sintomas e fala por afo-rismo, ao mesmo tempo em que a tarefa de avaliarleva à criação de perspectivas. São muitos os poemase aforismos com os quais Nietzsche enriqueceu a li-teratura e a filosofia do seu tempo.
Crítica Nietzschiana à MetafísicaO niilismo, acontecimento propriamente eu-
ropeu, impõe-se como característica mais universalda Modernidade, simultaneamente uma história eum destino. A história do pensamento ocidental éconsiderada como um niilismo que se radicaliza.
22 NIETZSCHE, Ecce Homo, p. 136, § 2.23 Scarlett Marton, em seu artigo Nietzsche e a Revolução Francesa, mos-tra que o filósofo não se pretende teórico do poder, no sentido estrito dapalavra, e tampouco se quer analista político. Intimamente ligados em seupensamento, moral, política e religião integram um campo de investigaçãomais amplo: são objeto da crítica dos valores. Analisa o ideário da Revolu-ção Francesa com a palavra de ordem “Liberdade, Igualdade, Fraterni-dade”, mostrando como o conhecimento histórico se acha relacionadocom a religião cristã e a moral dos ressentidos. In: Discurso. São Paulo,Departamento de Filosofia/USP, 18: 85-96, 1990
24 NIETZSCHE, Frammenti Postumi, (371) 11 (135), nov. 1887/mar.1888.
Impulso_28.book Page 135 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

136 impulso nº 28
Nietzsche tomou as reflexões sobre o niilis-mo como uma forma de analisar a crise do seu tem-po. Assim, toda a crítica à metafísica ancora-se nestacategoria. “Niilismo: falta o fim, falta a resposta ao‘por quê?’. O que significa niilismo? Que os valoressupremos se desvalorizam.”25 O diagnóstico do nii-lismo, Nietzsche o faz consciente e intencional-mente. “Pressuposto dessa hipótese: que não existauma verdade, que não exista uma constituição ab-soluta das coisas, uma ‘coisa-em-si’; isto é niilismo,aliás, o niilismo extremo. Essa repropõe o valor dascoisas propriamente no fato de que a tal valor nãocorresponda nem tenha correspondido nenhumarealidade, mas só um sintoma de força por parte dequem põe o valor.”26
Contudo, Nietzsche escolheu o horizonte daanálise filosófica (metafísica), por entender ser esseo lugar mais alto das determinações dos valores. Elese apercebe de que a metafísica está na base da mo-derna democracia parlamentar e de que esta, com aretórica da “igualdade de direitos”, ocultou a reali-dade do domínio e a efetiva conformação das rela-ções de força. O filósofo entende que a liberdade,tópico do ideário político ou postulado de doutrinamoral, é uma idéia falaciosa.
Ao homem das idéias modernas, Nietzschese refere como “animal de rebanho”. Não está deacordo com a moral dualista, disseminada por todaa Europa: “Evidentemente se sabe, na Europa, o queSócrates acreditava não saber, o que a velha e famosaserpente prometeu ensinar: hoje se sabe o que ébem e mal”.27 Sua percepção é de que tal moral su-gere o aplainamento das diferenças individuais, danegação da possibilidade de erigir valores segundouma convicção particular, pela imposição totalitáriade uma moral não problematizada, mas à qual deveo homem pura e simplesmente adequar-se. “Moralde animal de rebanho” porque não é dado ao indi-víduo o direito à inquirição e à salvaguarda das pe-culiaridades de sua personalidade. Entretanto, Niet-zsche considera que tal moral é “apenas uma espéciede moral humana ao lado da qual, antes da qual, de-
pois da qual muitas outras morais, sobretudo maiselevadas, são ou deveriam ser possíveis”.28
O filósofo aponta a religião, mais precisamen-te o cristianismo, como elemento de sublimação ejustificação dessa moral. Assim, a crítica nietzschia-na à metafísica é um combate à teoria das idéias so-crático-plantônicas e, também, uma luta acirradacontra o cristianismo. Considera ele que o cristia-nismo consagrou o dualismo helênico, constituin-do-se num “platonismo para o povo”. A metafísicae o cristianismo representam a perversão dos instin-tos que colocam a vida na condição de mero aciden-te, permitindo à consciência fraca contentar-se comuma vida de resignação e sofrimento. Dessa forma,os vencidos vislumbram o além como forma decompensar a própria miséria, inventam pseudovalo-res e forjam o mito da eternidade, conquistadanuma luta quase neurótica contra o pecado e a plenasatisfação dos instintos da vida.
Nietzsche pretende, então, mediante uma crí-tica radical e devastadora, abordar os homens dasilusões modernas, pois, ao seu ver, elas negam a vida.O desejo do “animal do rebanho”, diz Nietzsche,pode ser encontrado até mesmo nas instituições po-líticas e sociais. Anota que o movimento democrá-tico é uma herança do movimento cristão. Para ele,a democracia é uma forma histórica de decadênciado Estado. Decadência, aqui, entendida como escra-vização do pensamento, num Estado que não dáprioridade à cultura. A crítica nietzschiana se voltacontra o Estado democrático por entender que elese sobrepõe, como absoluto, ao homem. Torna-sefim em si, reservando para o homem a tarefa de ser-vi-lo. Observa que a incumbência do Estado deveriaser a de mediar a realização da cultura e fazer nascero além-do-homem.
Critica os anarquistas, por serem dilapidado-res da cultura, e os socialistas, que querem a socie-dade livre mas, na verdade, são unânimes, todos, naradical e instintiva amizade a toda outra forma desociedade que não a do rebanho autônomo. Paraele, toda a luta dos socialistas está fundada em umacrença na comunidade redentora, isto é, no rebanhoem si.
25 Ibid., c. VIII, t. II, p. 12, § 35. 26 Ibid.27 Idem, Além do Bem e do Mal, pp. 101-102, § 202. 28 Ibid.
Impulso_28.book Page 136 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 137
A tarefa de desvelar os falaciosos fundamentosda moral burguesa e cristã, o filósofo a tem comoalgo inerente à sua própria natureza. Revela que, des-de garoto, preocupou-o o problema da origem dobem e do mal. Sua vida toda foi uma busca de enten-dimento de tais valores: como eles foram inventa-dos, com que fim e a quem servem. Angustiam-noindagações como “sob que condições o homem in-ventou para si os juízos de valor bom e mau? E quevalor têm eles? Obstruíram ou promoveram até ago-ra o crescimento do homem? São indício de miséria,empobrecimento, degeneração da vida? Ou, ao con-trário, revela-se neles a plenitude, a força, a vontadeda vida, sua coragem, sua certeza, seu futuro?”.29
Vale salientar que ele se considerava como o maiscompleto imoralista europeu.
O filósofo havia percebido como a sociedadecristã-burguesa era marcada, no seu interior, pelopredomínio da moral e da supremacia dos valoreséticos. Segundo ele, “o elemento comum da históriada Europa, de Sócrates em diante, é a tentativa de fa-zer prevalecer, sobre todos os outros valores, os va-lores morais, de modo que eles sejam os guias e osjuízes não só da vida mas também do conhecimen-to, das artes, das aspirações políticas e sociais”.30
Para ele, “ética e política, moral e domínio, formamo binômio que permitiu à sociedade cristã-burguesafuncionar e reproduzir-se em escala alargada antesque esse binômio se rachasse, no âmbito da demo-cracia de massa. Foi a ruptura desse binômio, sob oimpacto da massificação, que provocou a revogaçãodo valor de todos os valores, recolocando em ques-tão a história da metafísica européia”.31
Nietzsche tenta ultrapassar a posição metafí-sica dos valores, criticando-a e efetivando a “trans-valorização de todos os valores”, isto é, problemati-zando qual é o valor dos valores. Ele entende que hánecessidade de uma crítica dos valores morais, emque o próprio valor de tais valores seja colocado emquestão: “Para isto é necessário um conhecimentodas condições e circunstâncias nas quais nasceram,sob as quais se desenvolveram e se modificaram(moral como conseqüência, como sintoma, másca-
ra, doença, mal-entendido; mas também moralcomo causa, medicamento, estimulante, inibição,veneno), um conhecimento tal como até hoje nun-ca existiu nem foi desejado”.32
Poder-se-ia elencar o filósofo como o primei-ro a encarar, totalmente, o problema da perda da fédo homem ocidental na religião cristã. Adiante ana-lisar-se-a tal questão. Vale, porém, o registro de que,ao anunciar a morte de Deus, Nietzsche está, de fa-to, colocando no homem a responsabilidade pelacriação de toda a moral, a verdade, os valores, enfim,de todos os padrões de qualquer espécie. A suaabordagem leva à reavaliação de todos os valores àluz do que, honestamente, se acredita e se sente.
Parece que a crítica à metafísica, cuja categoriacentral é o niilismo, tem como premissa de base suacrença em que todos os valores cristãos são falsos,porque desprovidos de fundamento, e têm, portan-to, de ser derrubados.
Ao contrário de Platão, que busca na Alegoriada Caverna uma linguagem própria para desenvol-ver sua teoria das idéias, ensinando que a visão daluz prefigura um árduo caminho, cujo fruto aprazí-vel poderá ser a libertação das ilusões, Nietzscheconvida para que se desçam os olhos à “negra e mal-cheirosa” oficina onde se fabricam idéias, a terra.Seu intento é descer até a raiz dos fundamentos daera moderna para desmistificar a moral burguesa-cristã. Sua alegoria apresenta uma oficina subterrâ-nea onde nada se vê, apenas se escuta um sussurrarindicativo de quem mente. A mentira significa umainversão de valores: a fraqueza é, mentirosamente,mudada em mérito, a impotência em bondade, abaixeza em humildade, a submissão em obediência.Falam em paciência, perdão e amor aos inimigos. Ésua inversão de valores que Nietzsche denuncia, po-rém não com a pretensão de levar seus leitores à luzda verdade. Seu desejo parece ser o de provocar a in-quirição corajosa para que o próprio leitor possa re-agir.33
Não provoca estranheza que Nietzsche atri-bua ao Deus cristão a submissão e eleição do ho-mem para uma vida de miséria cuja recompensa será
29 Idem, Genealogia da Moral, Prólogo, p. 9, § 3.30 Ibid.31 Ibid.
32 Ibid., p. 13, § 6. 33 Ibid., pp. 45-47, § 14.
Impulso_28.book Page 137 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

138 impulso nº 28
a felicidade no além. Ele desenvolve a idéia de que amoral cristã é uma moral de ressentimento. Isto é,os escravos, submissos e os marginalizados de todaa terra “estão melhores” do que os poderosos, pois,no juízo final, serão recompensados com a beatitu-de. Como se vê, a crítica da metafísica é crítica de to-dos os valores. Não há, então, como dicotomizar ascoisas. A crítica à metafísica é crítica à Europa, emsua totalidade.
Nietzsche vê a história da Europa como a his-tória da metafísica, e a metafísica como uma fetichi-zação da moral que esconde, por trás, o domínio. Daío seu empenho para desencobrir o que se pode cha-mar de “ideologia da verdade”. Essa era parece tersido marcada, em seu berço, por uma necessidade im-periosa de fazer passar cada uma e toda forma de co-nhecimento humano pelo crivo da ciência. Falandonesses termos, fica pertinente dizer, com Nietzsche,que “no domínio das ciências as convicções dão di-reito à cidadania”.34 Isto é, as convicções são cidadãssomente quando submissas ao domínio da ciência. Ofilósofo alerta para o fato de que unicamente quandoa convicção deixa de ser convicção passa a ter o direi-to de cidadania científica. Não seria justamente ocontrário? Não nasceria a ciência de convicções já fir-madas? “Não há ciência sem postulado”, responde.O filósofo questiona a necessidade da ciência. Chamaatenção para essa “camisa de força” pela qual devepassar, obrigatoriamente, toda idéia que se pretendacomo verdadeira.
Há uma nítida preocupação de Nietzschecom a obrigatória condição da certeza que se ex-pressa na verdade. Não estariam, os modernos, pre-sos à busca de verdades? Nietzsche demonstra quetal busca denota o receio de correr o risco da incer-teza; ao seu ver, assim se procede por conta de umaconsciência medrosamente fraca, e positivamentecalculista e utilitária.
Entretanto, ele opina que querer a verdadesignifica bem mais do que apenas “não querer dei-xar-se enganar”. Tal propósito significaria “querer aprópria morte”, uma vez que aprisionaram a vidaem conceitos e verdades definitivos. Assim sendo, a
ciência se liga à moral, porque “a vida, a natureza, ahistória são imorais”.35
Nietzsche dirá que a necessidade da ciência seassenta numa fé metafísica, isto é, pressupõe um ou-tro mundo “sem ser esse o da vida, da natureza e dahistória”. Denuncia a fé cristã, “para quem o verda-deiro se identifica com Deus e toda a verdade é di-vina”.36 A crítica genealógica da filosofia nietzschia-na procura solapar a modernidade em sua própriabase. A razão, apresentada como instrumento paraas conquistas da ciência e para a gestão do mundo,acabou dogmatizada e imposta, tornando-se autori-tária e fazendo uso de uma moral dualista e negadorado indivíduo, pelo uso recorrente a uma metafísicaigualmente dominadora.
Atacar a moralidade constituída sob o signoda razão pode significar uma postura de descom-promisso. Alguns há que classificam a filosofia deNietzsche como irracionalista e, por isso, advogamque ela estaria desprovida de valor. O irracionalismoseria uma ruptura com a Modernidade, que se recu-sa a enfrentar sua face perversa. Porém, parece que,no horizonte da filosofia nietzschiana, a recusa darazão instrumental é opção pela vida e possibilidadede sua perene construção. Está em jogo não apenaso discurso teórico acerca da metafísica e, conse-qüentemente, dos valores morais, mas toda a visãode homem, mundo, vida, derivada de tais discursos.
Seria incorreto pensar que o desmascaramen-to da razão é movido, apenas, por um instinto“guerreiro” que tenta demolir tudo e todos. A pre-ocupação, tantas vezes expressa pelo filósofo, faladas prisões a que, muitas vezes, os homens são sub-metidos por conta da imposição de credos e dog-mas cristalizadores. Nessa perspectiva, pode-se en-tender que Nietzsche aponta “uma diferença enor-me entre o pensador que compromete a personali-dade no estudo dos seus problemas (...) e aquele quese mantém impessoal”.37 Diz não ter encontrado,ainda, nenhum pensador que tenha “comprometidoa sua própria pessoa no estudo da moral”.38 Nin-guém ousou fazer uma crítica dos valores morais,
34 Idem, A Gaia Ciência, pp. 233-235, § 344.
35 Ibid.36 Ibid., pp. 236-238, § 345.37 Ibid.38 Ibid.
Impulso_28.book Page 138 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 139
ainda que fosse tão-somente por curiosidade cientí-fica. Constata algumas tentativas de elaboração deuma “história das origens dos sentimentos morais edas escalas dos diferentes valores morais”.39 Porémnão de uma crítica, pois, na verdade, tais historiado-res não passam de escolta de uma moral pela com-paixão. Nesse sentido, poder-se-ia compreender aprópria postura da pessoa de Frederico Nietzscheenquanto pensador e crítico de sua própria época.Daí sua extemporaneidade. Pensador, o filósofo nãose entretém com a ansiosa busca da verdade. Críti-co, empreende com racionalidade a devastação daseternas verdades negadoras da vida.
Nietzsche chama a atenção para três erros dosmoralistas: 1. cristalizar em postulados uma tradiçãoque implica obrigação; 2. desvincular a moral do de-ver, ao perceberem que povos diferentes têm dife-rentes escalas de valores; e 3. considerar a crítica damoral apenas como a demonstração das ambigüida-des da moral. Com a constatação de que a moralestá presa a velhas prescrições que não tematizam avida nem buscam sua autocrítica, Nietzsche declaraque seu trabalho será o de fazer a crítica da moralempenhando o seu valor.
Por outro lado, ele crê ser muito difícil dis-pensar a moral. “O europeu disfarça-se com o ca-pote da moral porque se tornou num animal doen-te, numa besta enferma e mutilada que tem excelen-tes razões para se mostrar ‘domesticada’: as razõesdo quase aborto, do canhestro, do fraco. Um animalde presa não julga necessário disfarçar sua ferocida-de, é a besta do rebanho que tem necessidade de dis-simular a sua mediocridade, o medo, o aborreci-mento que causa a ela própria. A moral, confesse-mo-lo, faz todos os esforços para nos fazer parecermais nobres, mais importantes, mais reluzentes,mais ‘divinos’.”40
O niilismo se revela no âmbito da metafísicae da história européia através da crise da sociedadecristã-burguesa. Com essa crise – que hoje assume afigura da crise da sociedade pós-liberal – e com aruptura entre as forças de vida (valores) e técnicasde domínio, o mundo aparece desprovido de valor,
em sua trama onto-teo-lógica. Com isso, também ainterpretação cristã-burguesa do mundo começa aentrar em crise: “O controle exercitado a respeitoda moral é elemento determinante. O acaso da in-terpretação moral do mundo que não tem mais umasanção, depois de ter tentado refugiar-se em umalém: isso acaba no niilismo. ‘Nada tem sentido’(inaplicabilidade de uma interpretação do mundo àqual foi dedicada grande energia) desperta para asuspeita de que todas as interpretações do mundosejam falsas”.41 É, objetivamente, visível no sistemaeuropeu de aspirações humanas.
Dessa forma, o niilismo é apresentado comoa ciência desse apagamento, como “a história destegrande desprendimento”, o extremo rompimentocom o lugar específico do homem, como uma mu-dança de centro, uma excentricidade que constitui omodo de notificação mais fundo do seu ser e a con-figuração, em ato, de sua vida.
O niilismo como história e destino radicaliza-se na expressão Deus morreu. “O maior e mais mo-derno acontecimento – que ‘Deus morreu’, que a féno Deus cristão se tornou indigna de fé – começa jáa lançar as suas primeiras sombras sobre a Euro-pa.”42
Efetivamente, o cristianismo representara oesteio mais forte da cultura européia. Ele definia ohorizonte de sentido, o princípio de orientação naexistência, o critério supremo do valor, e impusera oideal, em nome do qual se julga a vida. Parece quetudo converge para a sua dissolução, sobretudo como laicismo das ciências e da filosofia modernas quese oferecem como substitutivo, na perspectiva deesvaziá-la de sua autoridade. Assim, a crítica à me-tafísica e o desejo de “desconstruí-la” leva também auma crítica ao cristianismo.
Uma Crítica ao Cristianismo A Modernidade, de um modo geral, pode ser
caracterizada pelo anseio de romper com tudo aqui-lo que signifique tradição. É o advento do novo quepretende impor-se como diferente. Mas que é, nãoobstante os próprios presentes, também uma reto-mada da cultura greco-romana naquilo que ela re-
39 Ibid.40 Ibid., pp. 247-248, § 352.
41 Idem, Frammenti Postumi, p. 113, § 3.42 Idem, A Gaia Ciência, § 573.
Impulso_28.book Page 139 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

140 impulso nº 28
presenta de revolucionária em relação à ordem so-cial e religiosa. Assim, ela busca legitimar-se me-diante os instrumentos disponíveis, entre os quaisa religião.
Deve-se mencionar que Nietzsche era filhode pastor da Igreja Luterana e viveu de forma inten-sa a influência da religião em sua infância. Chegou aestudar na Schulpforta, o colégio interno protestan-te mais famoso, e a teologia foi a disciplina que maisestudou quando ingressou na Universidade deBonn. Seus biógrafos apontam os primeiros anos desua vida como os de uma fervorosa experiência re-ligiosa.
Entretanto, uma das características da filoso-fia nietzschiana parece ser, exatamente, a crítica à re-ligião. Freqüentemente tem passado, entre nós, aidéia de que a filosofia de Nietzsche é uma filosofiaatéia; de que Nietzsche é devastador em sua nega-ção de Deus. Parece que tal convicção não leva emconta que não se pode trabalhar o autor fora docontexto nem o texto, do seu pretexto. Guardadasas devidas proporções, deve-se analisar a crítica ni-etzschiana à religião dentro do contexto de sua crí-tica à Modernidade. Aí, sim, tem-se a clareza de quese busca um paradigma novo, coerente com o uni-verso de sua filosofia. Não se trata de perguntar,como o fizeram alguns, se Nietzsche é ou não é esseateu terrível. Trata-se de contemplar que o problemade fundo não é esse, mas a sua obra e o contributoque ela encerra. É verdade que o seu ataque ao cris-tianismo não é neutro, desinteressado, pacífico, masvidente e dramático. È um ataque mais contra ocristianismo que contra o Cristo. Ele considera queo homem do século XIX devia manter-se de pé semo apoio da fé ou de qualquer espécie de dogma. Suacrítica é devastadora, uma vez que todos os valorespositivos do cristianismo são criticados e rejeitados:dar a face direita a quem maltratou a esquerda, amaro próximo como a si mesmo, compadecer-se do so-frimento alheio etc.
Nietzsche teve a surpreendente originalidadede captar o deslocamento do pensamento judaico-cristão não como um lugar de idéias ou como umdinamismo dialético, mas como uma empresa edu-cativa, a de julgá-lo não com referência à verdadeque manifestava, mas em relação à vida que estimula
ou contraria. Correlativamente, despojou a história
de sua função reveladora, herdada do cristianismo e
mantida nas noções de progresso e de classe, denun-
ciando, ao mesmo tempo, seus compromissos com
a racionalidade. O seu grande tema é, de fato, a vida.
Questionar a religião e, mais precisamente, o cristia-
nismo, vale enquanto tal empresa se presta para des-
velar a realidade oculta pela tradição e pelas diversas
manifestações da religião. Necessariamente, não é
contra a religião que se volta seu pensamento. Ao
que parece, não está negada a dimensão de religio-
sidade na pessoa humana, mas o cristianismo en-
quanto institucionalização de um código de condu-
ta moral que acaba por oprimir a vida. Basta abrir al-
gumas páginas de Zaratustra e não há como evitar
uma imediata analogia com a Bíblia. Zaratustra pa-
rece significar a emergência de uma nova concepção
religiosa, em que a vida é a grande vitoriosa. Parece
oportuno registrar o testemunho de Heinz P. Pe-
ters: “Lou, por sua vez, ouvira falar de Nietzsche
durante suas longas conversas com Rée, que a jo-
vem russa e seu amigo, o professor, tinham muita
coisa em comum. Ambos se preocupavam com a
busca de uma nova fé, ambos se recusavam a en-
frentar a realidade de um universo sem Deus”.43
Contudo, a importância cultural de Nietzs-
che só foi tardiamente reconhecida pelo mundo
cristão. Seu pensamento apresentou-se tumultuoso
demais para ser compreendido, imediatamente, em
sua dimensão filosófica. Sobre ele pesou uma espé-
cie de censura preconceituosa, que ainda hoje existe
em certos meios. Em torno de sua filosofia, verifi-
cou-se uma polêmica superficial ou um desprezo al-
tivo, na medida que o pensamento de Nietzsche era
reduzido a um sistema dominado por alguma forma
violentamente, anticristã. No debate entre “o bem e
o mal”, a filosofia de Nietzsche será, sempre, assi-
milada às forças destruidoras do mal. Porém, “a re-
ação cristã face ao pensamento de Nietzsche é, no
mínimo, contrastante. Além das recusas sistemáti-
cas ou das conciliações incondicionais, constatamos
já uma evolução significativa. Do ressentimento,
como primeiro lugar da reflexão, passamos rapida-
43 PETERS, 1986, p. 71.
Impulso_28.book Page 140 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 141
mente ao que parece mais essencial: a proclamaçãoda morte de Deus”.44
Talvez um dos textos mais polêmicos e lidos daliteratura nietzschiana seja aquele de A Gaia Ciênciaem que é anunciada a morte de Deus. Nietzsche o in-titulou de o insensato. O próprio termo já apresentauma ponta de ironia com a qual ele pretende desmas-carar as promessas religiosas da Modernidade. Con-sidere-se que o texto é extenso, porém, por tratar-sede peça fundamental no que tange à crítica religiosa eao projeto de repensamento da ordem moral, sejapermitido transportá-lo em sua inteireza:
Nunca ouviram falar do louco que acendia
uma lanterna em pleno dia e desatava a cor-
rer pela praça pública gritando sem cessar:
“– Procuro Deus! Procuro Deus!” Mas
como havia ali muitos daqueles que não
acreditam em Deus, o seu grito provocou
grande riso. “– Ter-se-á perdido como uma
criança?”, dizia um. “– Estará escondido?
Terá medo de nós? Terá embarcado? Terá
emigrado?” Assim gritavam e riam todos ao
seu tempo. O louco saltou no meio deles e
trespassou-os com o olhar. “– Para onde foi
Deus?”, exclamou. “É o que lhes vou dizer.
Matamo-lo (...) vocês e eu! Somos nós, nós
todos, que somos os seus assassinos! Mas
como fizemos isso? Como conseguimos
esvaziar o mar? Quem nos deu uma esponja
para apagar o horizonte inteiro? Que fize-
mos quando desprendemos a corrente que
ligava esta terra ao Sol? Para onde vai ele
agora? Para onde vamos nós próprios? Lon-
ge de todos os sóis? Nós estaremos inces-
santemente a cair? Para diante, para trás,
para o lado, para todos os lados? Haverá
ainda um acima, um abaixo? Não estaremos
errando através de um vazio infinito? Não
sentiremos na face o sopro do vazio? Não
fará mais frio? Não aparecem sempre noi-
tes, cada vez mais noites? Não será preciso
acender os candeeiros logo de manhã? Não
ouvimos ainda nada do barulho que fazem
os coveiros que enterram Deus? Ainda não
sentimos nada da decomposição divina? (...)
Os deuses também se decompõem! Deus
morreu! Deus continua morto! E fomos
nós que o matamos! Como havemos de
nos consolar, nós assassinos entre os assas-
sinos! O que o mundo possui de mais sa-
grado e de mais poderoso até hoje sangrou
sob o nosso punhal; quem nos há de limpar
deste sangue? Que água nos poderá lavar?
Que expiações, que jogo sagrado seremos
forçados a inventar? A grandeza deste ato é
demasiado grande para nós. Não será preci-
so que nós próprios nos tornemos deuses
para, simplesmente, parecermos dignos de-
la? Nunca houve ação mais grandiosa, e
quaisquer que sejam aqueles que poderão
nascer depois de nós pertencerão, por causa
dela, a uma história mais elevada do que, até
aqui, nunca o foi qualquer história!” O in-
sensato calou-se depois de pronunciar estas
palavras e voltou o olhar para os seus audi-
tores: também eles se calavam, como ele, e o
fitavam com espanto. Finalmente atirou a
lanterna ao chão, de tal modo que se partiu
e se apagou. “– Chegou cedo demais”, disse
então. “O meu tempo ainda não chegou.
Esse acontecimento enorme está ainda a ca-
minho, caminha e ainda não chegou ao ou-
vido dos homens. O relâmpago e o raio pre-
cisam de tempo, a luz dos astros precisa de
tempo, as ações precisam de tempo, mesmo
quando foram efetuadas, para serem vistas e
entendidas. Esta ação ainda lhes está mais
distante do que as mais distantes constela-
ções; e foram eles contudo que a fizeram!”
Conta-se ainda que este louco entrou nesse
mesmo dia em diversas igrejas e entoou o
seu Requiem aeternum Deo. Expulso e in-
terrogado, teria respondido inalteravelmen-
te a mesma coisa: “O que são estas igrejas
mais do que túmulos e monumentos fúne-
bres de Deus?”.45
O texto nietzschiano reflete um pouco da
perplexidade com que se encontra o cidadão co-44 LEDURE, Y. O pensamento cristão face à crítica de Nietzsche. InConcilium – Revista de Teologia Fundamental, Petrópolis: Vozes, (65): 66,1981. 45 NIETZSCHE, A Gaia Ciência, pp. 145-146, § 125.
Impulso_28.book Page 141 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

142 impulso nº 28
mum ante o absurdo de um mundo em cuja época
não está convidado a participar como um parceiro
igual. Contudo, consola-se nas promessas de uma
vida além, seu refúgio e sua única esperança. Obje-
tivamente, ao anunciar a morte de Deus, Nietzsche
desmascara o fundamento da moral cristã-burguesa.
Zilles46 explica que, nessa parábola, Nietzscheafirma duas coisas: 1. Deus está morto; 2. os ho-mens assassinos não se deram conta de sua façanhamortífera. Com a morte de Deus morreram todosos valores que, até então, circulavam em torno daidéia de Deus. É fato. Não obstante, não parecere-sidir aqui o mais importante anúncio. Entretanto, amais contundente denúncia presente no texto éaquela que indica o autor, ou os autores, desta faça-nha: “Vocês e eu somos nós, nós todos que somosos seus assassinos!”. Nietzsche anuncia, assim, umfato consumado, mas ainda não constatado. Ele pa-rece proclamar aos seus contemporâneos que oDeus anunciado e adorado nos sagrados tempos re-ligiosos não correspondia mais com a vida concretaque estavam levando. A religião, com seus exigentespreceitos e discursos, era fardo pesado que não maisafirmava a vida: havia-se tornado uma instituição va-zia e inibidora da vida.
Nietzsche identifica essa morte do deus cris-tão com o término virtual da moral do bem e domal e de todas as formas de idealismo. Para alguns,o anúncio da morte de Deus é o evento fundamen-tal da história moderna e do mundo contemporâ-neo. Nesse sentido, tal anúncio não se apresentacomo mera constatação ou neutra reflexão, mas jápassa a integrar um projeto radical de crítica da Mo-dernidade. Talvez por isso Vattimo entenda que talanúncio deva ser considerado como “a data do nas-cimento da pós-modernidade na filosofia!”.47 De-leuze constata nele uma grave dificuldade: a filoso-fia nietzschiana, uma vez que nela não se encon-tram novas decodificações, a exemplo de Marx eFreud, mas um universo de reflexões que só se dãoa perceber à luz da experiência interior. A impor-tância de tal anúncio não faz de Nietzsche o patri-arca do ateísmo, não obstante seja sua consumação
filosófica. Na história européia, não se conhece umataque tão contundente quanto este.48
Stern afirma que “em Nietzsche, a compreen-são da espiritualidade cristã é tão íntima quanto a dequalquer apologista”.49 Vários são os textos de sualiteratura em que ele demonstra grande familiarida-de com o temário religioso. Nietzsche se propôs atarefa de recuperar a vida e transmutar todos os va-lores do cristianismo. Projeta elaborar uma genealo-gia da moral que explique a origem do bem e domal, demonstrando que os homens são escravos deconvenções. Nesse sentido é que deplora a palavrageral. Entende que os códigos morais tendem a eli-minar o que há de melhor no homem para erigiruma moral de rebanho. A opinião que preside à lei-tura dos textos nietzschianas sobre a crítica religiosaé a de que ele não problematiza as reais condições dafé. Ele constata e anuncia o falecimento do deuscristão, não de Jesus Cristo, a quem ele, elogiosa-mente, se refere como sendo “o homem mais dignode amor e o maior cristão”.50 Sua interpretação éconvincente, quando considerado o contexto emque se realizou.
Tudo leva a crer que Nietzsche, em sua obra,trata, precipuamente, do valor/não valor da vida.Chama a atenção para o valor e a negação sistemá-tica da vida realizada em nome de uma pretensa fé,anunciada num discurso descomprometido com asinesgotáveis possibilidades da vida. Está em jogo odesmascaramento de experiências ilusórias em ins-tituições cujo escopo é, antes, o de preservar a sipróprio do que a elevação do homem.
Em sua crítica radical, Nietzsche conclui queo cristianismo é uma “religião da compaixão”, ins-trumento de decadência que cruza aqueles instintosque visam à elevação e conservação da vida.
46 ZILLES, 1991, p. 170.47 VATTIMO, 1988, p. 175.
48 Scarlett Marton diz textualmente que “não houve quem descobrisse comtanta perspicácia e combatesse com tanta violência todos os resíduos doteísmo. Resíduos metafísicos, como o amor Dei intelectualis de Bruno eEspinsa, o ‘transcendental’ de Kant, o ‘Absoluto’ de Hegel. Resíduos morais,como o ascetismo e o misticismo de Schopenhauer, que, depois de ter seconvencido do nada de tudo, procura no budismo e no cristianismo algoque preencha este vazio desolador. Resíduos sociais dos liberais e socialistas,que, pregando igualdade e fraternidade, guardam implicitamente o conceitode um Deus Pai em que todos os homens seriam iguais e irmãos.” NIETZS-CHE, Das Forças Cósmicas aos Valores Humanos, p. 20.49 STERN, 1978, p. 56.50 NIETZSCHE, Aurora, § 39.
Impulso_28.book Page 142 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 143
Crítica à “Ciência Histórica”Em dezembro de 1873, Nietzsche conclui a
sua segunda Intempestiva – Da utilidade e desvanta-gem da história para a vida. É mais um “ataque” queele deseja fazer à ciência e, em particular, à historio-grafia. Dirá que “as Extemporâneas são integralmen-te guerreiras”.51 Aliás, na sua concepção, ele próprioé, igualmente, um guerreiro. Na realidade, a segundaExtemporânea é mais uma crítica à Modernidade,cujo modelo permanece oculto até seu último capí-tulo. Eis que Nietzsche não se confronta com oscritérios modernos, senão que se afasta deles e osobserva de fora. O intento é, então, buscar umacompreensão da história, mas fora dos critérios damodernidade filosófica. Filólogo, Nietzsche de-monstra seu entusiasmo pela Grécia Antiga, porémnão deseja retomar o passado helênico na Moderni-dade. Seu propósito é especular os efeitos que umtal passado, interpretado corretamente, pode provo-car na juventude do seu tempo. Assim sendo, aGrécia torna-se um modelo para ele; um modelo dealto ideal cultural, capaz de fazer nascer um ideal su-focado pela educação moderna. A reflexão de Nietzs-che em torno da educação visa denunciar o fato de osaber ter-se tornado improdutivo, ornamento parao ócio, e protestar contra a formação histórica im-posta à juventude na Alemanha de Bismarck.
É sabido que as Intempestivas se incluíamnum conjunto de ensaios intitulados Angriffen (aatacar), estando previstos cerca de vinte desses es-critos. Tal projeto foi abandonado posteriormente.Mas o interesse aqui é o de averiguar qual o seu po-sicionamento perante a época que não cansou de as-sediar. Naturalmente, não se pretende que exista, jáneste ensaio de juventude, uma concepção e umacrítica acabada da Modernidade. Um Nietzscheamadurecido de décadas adiante certamente fariauma revisão radical nas suas Extemporâneas.
Em Goethe, Nietzsche encontra a inspiraçãoinicial para mais uma investida: “De resto, abominotudo aquilo que me instrui sem aumentar e estimu-lar imediatamente a minha atividade”.52 Por aqui sevê que o ensaio em questão não pretende ser apenas
crítica à história e aos historiadores mas, também, abusca de uma terapia dessa doença moderna. And-ler53 observa que pode faltar o instinto da vida e osentido de orientação na ciência e na arte, mas a fi-losofia é, ela mesma, esse instinto e esse sentido.
No ensaio de Nietzsche, o que está em causaé simples: trata-se de decidir acerca do valor/não va-lor da história, tomando como parâmetro a vida. Adecisão passa, então, necessariamente, pela tensãovida/história. Esse curso é o de um deferimento quedeve criar as condições para a vida, cujo suporte é ahistória que aparentemente a nega. Trata-se, portan-to, de realizar a apresentação crítica da história, de-nunciando a moderna epidemia historiográfica, ob-jetivando colocar a história em seu lugar. Nietzscheanota que “o sentido da história e sua negação sãoigualmente necessários à saúde de um indivíduo, deuma nação e de uma civilização”.54
“Temos necessidade da história”,55 escreve,mas acrescenta, “quero dizer que temos necessidadedela para a vida e para a ação”.56 “A história é própriado ser vivo por três razões: porque é ativo e ambi-cioso, porque tem prazer em conservar e venerar, eporque sofre e tem necessidade de libertação.”57
Dessa forma, tanto a história pode ser útil ao pre-sente, fortalecendo crenças ou libertando a vida deantigos obstáculos, como pode impedir o futuro, apartir de seus ensinamentos. Nietzsche entende quehá uma tripla relação na história: história monu-mental, história tradicionalista e história crítica.
A noção de história tradicionalista está per-meada pela preocupação com a utilidade da história.Sua virtude é mergulhar no tempo, buscando en-contrar nela pressentimento do futuro, ter a sensi-bilidade de ver no passado tudo que permitiu às ge-rações presentes nascerem: “(...) o prazer de saberque não se é um ser (...) arbitrário e fortuito, masque se vem de um passado que é herdeiro”.58 “A his-tória tradicionalista degenera logo que a vida presen-te deixa de animar e vivificar, a piedade endurece,
51 Idem, Ecce Homo, p. 98, § 1.52 Idem, I l Intempestiva, Prefácio.
53 ANDLER, 1985, pp. 159-164.54 NIETZSCHE, I l Intempestiva, p. 109, § 1.55 Ibid., p. 101. 56 Ibid.57 Ibid., p. 117, § 2.58 Ibid., p 127.
Impulso_28.book Page 143 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

144 impulso nº 28
fica o pedantismo rotineiro, que roda egoísta e com-placentemente à volta do seu própria centro. E de-saparece, por vezes, com o espetáculo repugnantede uma fúria cega de colecionador, empenhado emdesterrar tudo o que existiu no passado.”59
Na história crítica, a tradição está apresentada
como ré e vilã, pois toda a tradição é posta em ques-
tão. “Consegue-o fazendo comparecer esse passado
perante o seu tribunal, submetendo-o a um inqué-
rito rigoroso e, no fim, condenando-o. Todo o pas-
sado merece condenação porque, como acontece
com todas as coisas humanas, nele se misturam a
força e a fraqueza do homem.”60 Aqui, a vida volta-
se para a necessidade imperiosa de crescer, vislum-
bra o futuro. Quando o passado chega a inibir a
inesgotável dinâmica da vida, é preciso libertar-se
dele. A história, portanto, deve auxiliar para que
brote uma nova natureza.
Nietzsche fala ainda de um terceiro tipo de
história: a monumental. Esta é a história dos gran-
des momentos do passado, na qual se funda, para
ele, a crença na humanidade. “Crer que os grandes
momentos da luta entre os indivíduos formam uma
cadeia que prolonga através dos milênios a trave-
mestra da história, crer que para mim um desses
momentos já passados continua vivo e luminoso, é
o fundamento da crença na humanidade.”61
O valor da humanidade, dirá o filósofo, está
justamente na capacidade de atingir tais momentos,
de aperfeiçoar e elevar a natureza. Mas se essa é uma
capacidade humana, ela não se realiza necessaria-
mente. Nietzsche se refere a uma luta entre os dois
tipos de humanidade nos quais “tudo aquilo que
vive fora da atmosfera de grandeza protesta”. Na
Genealogia da Moral, Nietzsche desenvolve uma
dupla noção de humanidade, que tem como refe-
rência a vida: o tipo ativo e o reativo. Também nesse
ensaio, ele parece diferenciar dois tipos de indivídu-
os, de forma bastante semelhante à Genealogia. O
que diferencia os dois é o ponto de vista a partir do
qual vêem a vida: os grandes homens pouco se pre-
ocupam com a finitude da existência, na medida que
tomam por tarefa a grandeza da espécie humana
através “de uma obra, uma arte, (...) uma criação”.
O segundo tipo é o homem angustiado pela brevi-
dade da vida, “para quem importa a conservação da
existência a todo preço”.62
Um excelente balanço de como é que a crítica
à Modernidade se apresenta na segunda Intempesti-
va foi realizado por Miranda.63 Ele lembra que “é
inegável que o Idealismo alemão, que culmina com
Hegel e começa a se decompor com o Romantis-
mo, tem a ver com o problema da Modernidade na
sua generalidade, isto é, enquanto ruptura ocorrida
no tecido da tradição ocidental”. Nesse sentido,
busca-se entender a crítica nietzschiana da Moder-
nidade: numa perspectiva de deconstrução da or-
dem filosófica até então tida como seu fundamento.
De sorte que o problema do valor, ou não-valor, da
história é problema para a vida. Vale enquanto cor-
relato. Mas a correlação história/vida tem o seu
pano de fundo na Modernidade e no historicismo
que nela vigora.
Nietzsche busca, assim, uma deconstrução da
modernidade nos seus fundamentos. Os traços ge-
rais dessa deconstrução são uma mescla das críticas
do Iluminismo e do Romantismo.
UMA CONCLUSÃOQuem se entretém, com curiosidade especu-
lativa, em torno da filosofia de Nietzsche, certa-
mente não verá como prioridade uma crítica à Mo-
dernidade mas, sim, um procedimento genealógico
que busca revirar pelo questionar todas as bases que
justificam e mantêm o mundo humano. Entretanto,
não parece tão coerente apontar Nietzsche como
crítico da modernidade, aqui entendida como cate-
goria filosófica, a exemplo do que fez Hegel. Parece
que a crítica do filósofo se volta mais ao fenômeno
dos tempos modernos do que a hipostatização de
uma categoria totalizadora deste fenômeno. É for-
çoso reconhecer que o assunto é controvertido e
que são discordantes as opiniões que quanto a ele se
59 Ibid., p. 128.60 Ibid., p. 129.61 Ibid., p. 118.
62 CAVALCANTI, 1989, p. 34.63 MIRANDA, 1987, p. 206.
Impulso_28.book Page 144 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 145
formulam. Contudo, categorizamos algumas possi-
bilidades de leituras do problema da modernidade.
Se tal propósito é legítimo, parece possível enqua-
drar Nietzsche como um crítico radical da classifi-
cada modernidade cultural, não no sentido de ajus-
tamento aos modismos em vigor, mas no de indig-
nação e protesto quanto aos seus fundamentos.
Ora, enquanto Kant postula a maioridade do ho-
mem moderno ao deixar-se guiar pela razão, abrin-
do espaço para uma razão temporal, Nietzsche pro-
cura colher qual o sentido último e propósito dessa
razão que, ao seu ver, levou a um abstracionismo es-
magador. Hegel traz à tona o princípio da subjetivi-
dade como horizonte e fundamento da cultura mo-
derna; Nietzsche nega-se a reciclar a razão e, mais
uma vez, apoiar nela o futuro da humanidade.
Fala-se de uma Modernidade em crise e de
posturas críticas diferentes ante o fenômeno da crise.
Nestes termos deseja-se expressar a dificuldade em se
remeter a Nietzsche a fundação da pós-modernidade.
Não parece precípua preocupação do filósofo a busca
de reciclagens de categorias ou dados históricos. Pre-
ocupa-se com o futuro da humanidade porque vê
que, no presente, o homem está negado e porque o
entende como um ente a ser superado.
Foram apresentadas três dimensões da sua
crítica nietzschiana, iniciando por averiguar a crítica
à metafísica por ser ela, segundo o filósofo, o lugar
mais alto das determinações dos valores e, desta for-
ma, fundamento da democracia moderna.64 Nietzs-
che identifica a história da Europa como sendo a
história da metafísica. Antes dele, os estudos da mo-
ral não radicalizavam a crítica de uma forma tão de-
vastadora como ele o fez. Seu propósito é resgatar o
valor da vida transvalorizando a moral. Tal projeto
incorre num individualismo algumas vezes equivo-
cadamente utilizado por falsos divulgadores de suas
idéias.
Discorreu-se sobre a crítica ao cristianismosabendo ser esta uma crítica apaixonada, impulsio-nada, inclusive, pela sua experiência religiosa. Possi-velmente, uma leitura mais ortodoxa tenha contes-tado com preconceito e desdém essa crítica pelo seuteor, altamente contestatório. Precisaria, porém, in-vestigar o contexto histórico em que essa ocorreu econsiderar seus aspectos mais controvertidos parainiciar um diálogo mais elucidativo.
Na Intempestiva sobre a história, Nietzschecritica os ensinamentos que servem somente de or-denamento, mas não são lições para que a vida se ex-panda e se realize. Considera que o passado deve es-tar a serviço do presente, e que a tradição somenteé útil como fonte de experiência e fortalecimento,pois a história tem como missão servir de intermé-dio que favoreça o nascimento do novo homem.
Referências BibliográficasAA.VV. A modernidade em discussão. Revista Concilium, Petrópolis, 244, 1992.
ANDLER, C. Nietzsche, sa Vie et sa Pensée. Paris: Galimard, 1985, v. 3.
BORDIN, L. O ético e o político depois de Nietzsche. Boletim de Filosofia da UFRJ, Rio de Janeiro, 7/8: 101-110, 1989.
CALDERA, A.S. Filosofia e Crise: pela filosofia latino-americana. Trad. dos Reis, O. Petrópolis: Vozes, 1984.
CAVALCANTI, A.H. Nietzsche e a história. Cadernos do Departamento de Filosofia da PUC-RJ, Rio de Janeiro, 1: 1989.
CAVENACCI, M. Dialética do Indivíduo: o indivíduo na natureza, história e cultura. 3ª. ed., São Paulo: Brasiliense, 1978.
DELEUZE, G. Nietzsche e a Filosofia. Trad. Magalhães, A.M. Porto: Rés Editora Ltda. s/d.
__________. Nietzsche. Rio de Janeiro: Edições 70, 1989.
FINK, E. La Filosofía de Nietzsche. Madrid: Alianza Editorial, 1981.
64 “O elemento comum na história da Europa, de Sócrates em diante, é atentativa de fazer prevalecer, sobre todos os outros valores, os valoresmorais, de modo que eles sejam os guias e juízes não só da vida, mas tam-bém do conhecimento, das artes, das aspirações políticas e sociais.” Frag-mentos Póstumos, c. II, p. 82.
Impulso_28.book Page 145 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

146 impulso nº 28
HABERMAS, J. O Discurso Filosófico da Modernidade. Trad.: Bernardo, A.M. et al. Rev. científ.: A. Marques. Lisboa: Publica-ções Dom Quixote, 1990.
__________. Sobre Nietzsche y otros Ensayos. Madrid: Tecnos, 1982.
HALÉVY, D. Nietzsche – Uma biografia. Trad. Lacerda, R.C. & Dutra, W. Rio de Janeiro: Campos, 1983.
HÉBER-SUFFRIN, P. O Zaratustra de Nietzsche. Trad. Magalhães, L. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991.
JASPERS, K. Nietzsche. Berlim: Walter de Gruyter & Co., 1950.
LEBRUN, G. O Avesso da Dialética: Hegel à luz de Nietzsche. Trad. R.J. Ribeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.
__________. Sur homme et homme total. Manuscrito, Campinas, II (1): 1978.
LUKÁCS, G. Al Asalto a La Razón. Trad. Roces, W. Madrid: Editor Grijalbo, 1976.
LYOTARD, J.F. A Condição Pós-Moderna. Miranda, J.B. 2ª. ed., Lisboa: Gradiva Publicações, 1989.
MACHADO, R. Nietzsche e a Verdade. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
MARTON, S. Nietzsche: das forças cósmicas aos valores humanos. São Paulo: Brasiliense, 1990.
__________. (org.) Nietzsche Hoje? Trad. Nascimento, M. & Goldberg, S. São Paulo: Brasiliense, 1985.
__________. O eterno retorno do mesmo: tese cosmológica ou imperativo ético. In: Ética. São Paulo: Companhia dasLetras/Secretaria Municipal de Cultura, 1992.
__________. Nietzsche e Hegel, leitores de Heráclito. Discurso, São Paulo, (21): 31-52, 1993.
MATOS, J.C. A filosofia na crise da Modernidade. Symposium, Revista de Humanidades, Ciências e Letras da Unicap, Recife,34 (1): 13-25 1992.
MATOS, O.C.F. Os Arcanos do Inteiramente Outro: a escola de Frankfurt. A Melancolia e a revolução. São Paulo: Brasiliense,1989.
MENESES, P. A cultura e suas razões. Síntese Nova Fase, Belo Horizonte, 19 (56): 7-13, 1992.
MIRANDA, J.B. Nietzsche e a modernidade. Nietzsche: cem anos após o projeto Vontade de Poder – Transmutação de Todosos Valores. Org. Marques, A. Lisboa: Veja, 1987.
NIETZSCHE, F. Além do Bem e do Mal: prelúdio a uma filosofia do futuro. Trad., not. e posf.: Souza, P.C. São Paulo: Companhiadas Letras, 1992.
__________. Genealogia da Moral. 2ª. ed. Trad. Souza, P.C. São Paulo: Brasiliense, 1988.
__________. A Gaia Ciência. 4ª. ed., Trad. Margarido, A. Lisboa: Guimarães Editores, 1987.
__________. A filosofia na época trágica dos gregos.Obras Incompletas. 3ª. ed. Trad. e not. Torres Filho, R. Posf. Cândido, A.Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1983.
__________. Sobre a verdade e a mentira no sentido extra-moral. Obras Incompletas. 3ª. ed., Trad. e not. Torres Filho, R.Posf. Cândido, A. Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1983.
__________. Umano, Troppo Umano. v. IV, tomo II e III. Ed.: G. Colli & M. Montinari. Milano: Adelphi, 1968.
__________. Considerazioni Inattuali, I-III. Frammenti Postumi. v. II, t. III. In: Opere de Friedrich Nietzsche. Ed.: G. Colli & M.Montinari. Milano: Adelphi, 1968.
__________. Considerazioni Inattuali, IV (Richard Wagner a Bayreuth). Frammenti Postumi. v. IV, t. I. In: Opere de FriedrichNietzsche. Ed.: G. Colli & M. Montinari. Milano: Adelphi, 1968.
__________. La nascita della tragedia. Frammenti Postumi. (1869-1872). v. III, t. I. In: Opere de Friedrich Nietzsche. Ed.: G.Colli & M. Montinari. Milano: Adelphi, 1968.
__________. Ecce Homo. v. VI, t. III. In: Opere de Friedrich Nietzsche. Ed.: G. Colli & M. Montinari. Milano: Adelphi, 1968.
__________. L’Anticristo. v. VI, tomo III. In:Opere de Friedrich Nietzsche. Ed.: G. Colli & M. Montinari. Milano: Adelphi, 1968.
__________. Assim Falava Zaratustra: um livro para toda a gente e para ninguém: 6ª. ed., Trad. Souza, M.S. São Paulo: BrasilEditora, 1965.
Impulso_28.book Page 146 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 147
OLIVEIRA, M.A. de. A crise da racionalidade moderna: uma crise de esperança. Síntese Nova Fase, Belo Horizonte, 17 (45):13-33, 1989.
__________. A Filosofia na Crise da Modernidade. São Paulo: Loyola, 1989.
PERINE, M. Modernidade e crise moral. Síntese Nova Fase, Belo Horizonte, 17 (50): 5-11, 1990.
PETERS, H.F. Lou: minha irmã, minha esposa. Trad. Dutra, W. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1986.
QUESADA, J. Un Pensamiento Intempestivo – Ontología, estética y política en F. Nietzsche. Barcelona: Editorial Antrophos,1988.
ROSSE, P. Antichi, moderni, postmoderni. Il Mulino. Bolonha, ano 37, n.º 320, nov./dez. 1988.
ROUANET, S.P. As Razões do Iluminismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
STERN, J.P. As Idéias de Nietzsche. Trad. Cajado, O. São Paulo: Cultrix, 1978.
TÜRCKE, C. O Louco Nietzsche e a Mania da Razão. Trad. Lima, A.C.P. Petrópolis: Vozes, 1993.
VATTIMO, G. Introduzione a Nietzsche. Bari: Editori Laterza, 1988.
__________. La Fine della Modernità. Italia: Garzanti Editore, 1981.
VAZ, H.C. de L. Religião e Modernidade Filosófica. Síntese Nova Fase, Belo Horizonte, 18 (53): 147-165, 1991.
__________. Escritos de Filosofia II. Ética e Cultura. Col. Filosofia, v. 8. São Paulo: Loyola, 1988.
VELHO, G. Individualismo e Cultura: notas para uma antropologia da sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: Zahar,1981.
VERMAL, J.L. La Critica de la Metafísica en Nietzsche. Barcelona: Editorial Antrophos, 1987.
ZILLES, U. Filosofia da Religião. São Paulo: Paulinas, 1991.
Impulso_28.book Page 147 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

148 impulso nº 28
Impulso_28.book Page 148 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 149
Impulso_28.book Page 149 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

150 impulso nº 28
Impulso_28.book Page 150 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 151
O CULTO DOS ÜBERMENSCH.Extropianos,os elitistasnietzcheanos do século XXITHE CULT OF THE DIGITAL ÜBERMENSCH.Extropians, 21’st century nietzschean elitists
idéia dos Übermensch é um dos conceitos menos com-preendidos de Nietzsche, em parte porque ele o explicoude maneiras muito complexas e contraditórias. Os nazis-tas abusaram consideravelmente da idéia, e de um modoque Nietzsche havia previsto, amarga mas resignadamen-te. Ele sabia que muitos dos seus leitores taxariam a si pró-prios de Übermenschianos, ou, pelo menos, de estaremmais próximos deste estado que os outros – quando, na
verdade, o que ele queria dizer estava muito além de qualquer pessoa exis-tente. Desde a era nazista, a maioria dos pensadores inspirados em Nietzschepreferiram se afastar dos Übermensch, concentrando-se em outros aspectosdo seu pensamento.
No entanto, o conceito permanece. O lugar em que veio à tona maisrecentemente foi no pensamento dos extropianos, um grupo de futuristastransumanistas sediados na Califórnia. Ecoando o subtítulo de Crepúsculodos Ídolos – Como filosofar com um martelo, o credo dos extropianos pode serrotulado de Como tecnologizar com um martelo. Esse grupo de loucos da com-putação e excêntricos da alta tecnologia quer forçar todo tipo de tecnologia omais rápido possível – a Internet, modificações corporais, síntese do ser hu-mano com o computador, nanotecnologia, modificações genéticas, criogenia,o que for. Ao longo do caminho, querem se livrar dos governos, das restri-ções morais, e, finalmente, da própria humanidade, refazendo o mundocomo um sistema de realidade virtual hipereconômica povoado por ciborgsou Übermensch da realidade virtual, onde o dinheiro e a tecnologia controlamtodas as coisas. Esta é uma visão excitante e assustadora, e quando alguém asonda em detalhes, encontra, em grande medida, tanto as virtudes quanto asfraquezas do conceito de Nietzsche.
BEN GOERTZEL
Ph.D. in Mathematics fromTemple University. Chairmanand Chief Technology Officer
The Webmind Corporation(http://www.webmind.com)
AAAA
Impulso_28.book Page 151 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

152 impulso nº 28
OS EXTROPIANOSIntuitivamente concebido como o oposto da
entropia, a extropia é um termo mais filosófico quecientífico. O Website dos extropianos (www.extro-py.org), a bíblia online do movimento, define extro-pia como “uma metáfora que se refere a atitudes evalores compartilhados por aqueles que desejam su-perar os limites humanos através da tecnologia. Es-tes valores (...) incluem o desejo de direcionar a pes-soa na busca do eterno progresso e da autotransfor-mação com uma atitude de otimismo prático imple-mentado, usando o pensamento racional e atecnologia inteligente numa sociedade aberta”. Oextropianismo é uma forma de transumanismo,preocupado com a “busca de uma continuação e ace-leração da evolução da vida inteligente além de suaatual forma e limites humanos por meio da ciência eda tecnologia, guiado pelos princípios e valores dapromoção da vida, porém evitando a religião e odogma”. Atuar no sentido da obsolescência da raçahumana através da Inteligência Artificial (IA) e dosrobôs é apenas parte disto; outro aspecto é a trans-ferência das personalidades humanas para corposmais duráveis, modificáveis, rápidos e poderosos, epara hardwares pensantes, usando tecnologiascomo a engenharia genética, a integração “neuro-computacional” e a nanotecnologia. A evolução doÜbermensch pode ser acelerada, de acordo com osextropianos, de um modo que Nietzsche jamais vis-lumbrou: pela direta modificação ou substituiçãodo vaso físico que estrutura nossas mentes para re-mover nossas atuais limitações.
Junto com a visão tecnológica vem a visão po-lítica. Os extropianos, de acordo com o www.extro-py.org, distinguem-se por uma gama de princípiossociopolíticos, tais como “o apoio a ordens sociaisque fomentam a liberdade de expressão, a liberdadede ação e a experimentação; a oposição a controlessociais autoritários, e o favorecimento do governoda lei e a descentralização do poder; (...) prefere anegociação à luta e a troca à compulsão; (...) abertu-ra ao desenvolvimento à utopia estática; (...) busca opensamento independente, a liberdade individual, aresponsabilidade pessoal, auto-orientação e respeitopelos outros”. Está explicitamente declarado nadoutrina extropiana que não pode haver extropia-
nos socialistas, embora as várias nuances do socia-lismo democrático não sejam exploradas em deta-lhes. Na realidade, a imensa maioria dos extropianossão libertários radicais, defendendo a total ou quasetotal abolição de governo. O que é realmente sin-gular no movimento extropiano é o seguinte: a fu-são do otimismo tecnológico radical com a filosofiapolítica libertária. Com uma ligeira perda de signifi-cado, pode ser chamado de transumanismo libertá-rio.
O próprio Nietzsche não era um libertárioper si, mas certamente não era fã de governos demo-cráticos, expressando uma preferência por monar-cas poderosos, reis-filósofos, talvez. Acreditava quepessoas poderosas deveriam estar fora da lei. Os ex-tropianos se consideram pessoas notavelmente po-derosas e, à moda nietzschiana, rejeitam leis impos-tas sobre eles.
Alguns extropianos levam seu anti-socialismoa um extremo incrível. Por exemplo, o roboticistavisionário Hans Moravec, um corajoso herói extro-piano, trocou idéias um tanto perturbadoras com oescritor Mark Dery,1 em 1993. Dery questionouMoravec sobre as implicações socioeconômicas datecnologia robótica que ele vislumbrava. Moravecrespondeu que “as implicações socioeconômicassão (...) totalmente irrelevantes. Não importa o queas pessoas fazem, porque elas ficarão para trás comoo segundo estágio de um foguete. Vidas infelizes,mortes horríveis e projetos fracassados fizeram par-te da história da vida na terra desde que existe vida;o que realmente importa, com o tempo, é o que per-manece”. Será que nos importa hoje, ele pergunta,que os dinossauros estejam extintos? Analogamen-te, o destino dos humanos não interessará aos robôssuperinteligentes do futuro. Os humanos serão vis-tos como um experimento fracassado – e já pode-mos ver que alguns seres humanos e algumas cultu-ras humanas são fracassos piores que outros.
Dery absolutamente não conseguiu engoliristo: “Eu não criaria uma homologia entre um gru-po de répteis fracassados e os que estão nos degrausmais baixos a escada socioeconômica”. Resposta deMoravec: “Mas eu, sim”.
1 DERY, 1996, p. 307.
Impulso_28.book Page 152 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 153
Claro que a atitude de Moravec é intensamen-te nietzschiana. Max More, o fundador do extropia-nismo, faz uma conexão explícita com Nietzschequando, no Extroy # 10, iguala explicitamente o “ex-tropiano exemplar” ao “Übermensch de Nietzsche”.2.Mas ele adverte, num outro ensaio,3 que “o Über-mensch não é a fera loura e saqueadora”. Ao contrário,o Übermensch extropiano “transpirará benevolência,emanando seu excesso de saúde e autoconfiança”.Isso é tranqüilizador... mas difícil de conciliar com odesinteresse olímpico de Moravec com relação àdestruição da raça humana. Esta contradição, creio,é tanto a fraqueza essencial do extropianismo quan-to sua principal fonte de energia. Ela reflete a con-tradição essencial da noção do Übermensch de Ni-etzsche. Nietzsche advertiu repetidamente que oÜbermensch não era um super-herói brutal que le-varia a mera humanidade à submissão. No entanto,ele escreveu sistematicamente sobre o Übermenschde um modo tal que levava precisamente a essa con-cepção errônea. Talvez ele simplesmente não pudes-se evitar. Em alguns casos, ele escrevia intencional-mente, de modo a enganar o leitor casual, e revelavaseu verdadeiro sentido apenas aos adeptos; mas,nesse caso, qual teria sido sua motivação para escre-ver intencionalmente de modo a levar o leitor casuala crer em coisas erradas e perigosas?
COMPARAÇÕES ENTRE CHISLENKO E NIETZSCHE
Sasha Chislenko4 foi um cientista-filósofo ex-tropiano que conheci muito bem pessoalmente. Seupensamento tinha grande amplitude e profundida-de, mas sua pesquisa científica concentrava-se, prin-cipalmente, na “filtragem colaboradora ativa”, tec-nologia que permite às pessoas classificar e revisarcoisas que vêem na Internet, e, depois, lhes reco-menda coisas com base em suas classificações pas-sadas e nas classificações de outras pessoas pareci-das. Websites populares, como amazon.com ebn.com, têm sistemas de filtragem colaboradoraembutidos – quando você acessa para comprar um
livro, eles lhe dão uma lista de livros nos quais vocêpoderia estar interessado. Às vezes estes sistemasfuncionam, às vezes não. Os sistemas de recomen-dação que Sasha projetou eram muito mais sofisti-cados, provavelmente os mais avançados do mun-do. Ele comandava uma equipe que implementavaalguns de seus projetos na Firefly, uma empresa quemais tarde foi adquirida pela Microsoft.
Comparada à modificação corporal, às toma-das cranianas e à inteligência artificial super-huma-na, a filtragem colaboradora ativa talvez pareça umcaminho pouco excitante para o futuro hipertecno-lógico, mas, para Sasha, era uma coisa tremenda-mente empolgante – um meio para os seres huma-nos se unirem e intensificarem a eficiência mentaluns dos outros, transmitindo o que aprenderam unsaos outros na forma de classificações, revisões e re-comendações. A tecnologia de recomendação e fil-tragem era um tipo de droga inteligente coletivapara a raça humana que surfa na rede.
A visão de Sasha nessa área está condensadanum Website como o epinions.com, que paga aosusuários para que dêem suas críticas sobre produtosde consumo e outras coisas. Quanto mais alto clas-sificam suas críticas, maior o valor que você recebe.Ele achava que, como a economia tinha se transfor-mado numa hipereconomia ciberneticamente ativa-da, contribuições intelectuais como as suas final-mente teriam o respeito econômico que sempremereceram. As pessoas seriam pagas para escreverensaios científicos na medida da apreciação de ou-tros cientistas. O bem maior seria alcançado não pe-los editais de um governo autoritário, mas pelosefeitos auto-organizadores de pessoas classificandooutras produções, e pagando umas às outras porsuas classificações e opiniões. Ele inventou a palavrahipereconomia para se referir à complexa dinâmicade uma economia na qual agentes fazem pequenospagamentos por tudo, e na qual complexos instru-mentos financeiros emergem até de simples transa-ções diárias – agentes de IA pagando outros agentespor informações sobre onde conseguir informação;seu agente de compras comprando de você não ape-nas alface, mas perspectivas e opções sobre a alface,e talvez até perspectivas e opções sobre informaçõesde outros agentes.
2 Ibid., p. 302.3 Idem, Technological transformation: expanding personal extropy. 4 Veja sua obra em http://www.lucifer.com/~sasha/home.html.
Impulso_28.book Page 153 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

154 impulso nº 28
Mas havia uma dolorosa contradição escondi-da aqui, não muito abaixo da superfície. E esta con-tradição pessoal, creio, pega bem no coração da fi-losofia extropiana – e é herdada das raízes nietzschia-nas do extropianismo. A tendência anti-humanista nopensamento de Sasha era totalmente declarada: umavez ele me disse, meio ironicamente, que achava queo ar deveria ter um preço, e que aqueles que não ti-vessem dinheiro para pagar pelo seu ar deveriam su-focar! Mais tarde descobri que esta era uma variaçãode um argumento padrão libertário, repetido fre-qüentemente por Max More, de que o fato de o arestar poluído era porque ninguém era dono dele –portanto, o ar, como tudo mais, deveria ser propri-edade privada.
Sasha igualava riqueza a valor fundamental, esua visão do futuro cibernético era o de uma com-plexa rede hipereconômica, uma grande massa dedinheiro voando por aí em pequenas parcelas, indu-zindo as pessoas e os agentes de IA a interagir demaneiras complexas de acordo com seus vários mo-tivos pessoais e sua ganância. Mas ele, pessoalmente,não era, de modo algum, rico, e esse fato lhe era al-tamente perturbador. Muitas vezes, achava que es-tava sendo tratado injustamente, que o mundo lhedevia uma maior compensação financeira por suasbrilhantes idéias, que as empresas para as quais haviatrabalhado tinham tomado suas idéias e ganho mi-lhões de dólares com elas, dos quais ele havia vistoapenas uma pequena porcentagem, na forma de sa-lário e de ações.
Quando Sasha cometeu suicídio, em meadosdo ano 2000, fiquei imaginando se aquele tinha sidoum ato de desespero filosófico. Teria havido algumproblema na empresa onde ele era vice-presidentede tecnologia? Não estariam eles dispostos a imple-mentar seus mais recentes projetos para filtragemcolaboradora online? Teria ele recebido mais umaprova devastadora de que o mundo simplesmentenão iria compensá-lo apropriadamente por suasidéias, que o futuro cibernético hipereconômico de-moraria muito para chegar? O que na verdade acon-teceu foi que sua terrível atitude foi mais diretamentemotivada por um complicado e doloroso relaciona-mento amoroso – angústia passional, antiquada, debaixa tecnologia e humana.
Em alguns aspectos importantes, Sasha foi se-melhante a Nietzsche, que, como vimos, foi um dospadrinhos filosóficos dos extropianos. Tanto Sashaquanto Nietzsche eram superastros intelectuais queenunciaram explicitamente uma filosofia moral,mas viveram outra. Nietzsche pregou a resistência ea dureza, mas foi uma pessoa doce, respeitosa dossentimentos de sua mãe e sua irmã (cujas crençasdesprezava). No dia em que enlouqueceu, foi vistoabraçando um cavalo na rua, com pena por ele terapanhado de seu dono. Ele pregava o mérito de ho-mens de ação robustos e saudáveis e criticava os as-cetas intelectuais, porém era ele próprio suscetível àdoença, quase celibatário, e ficava em seu quartopensando e escrevendo diariamente. Semelhante-mente, Sasha exaltava a teoria monetária do valor,mas viveu buscando a verdade e a beleza em vez dedinheiro, tentando transformar o mundo em algomelhor e distribuindo suas idéias gratuitamente on-line. Argumentava que o ar deveria ser fornecidoapenas aos que pudessem pagar por ele, no entantoera infalivelmente delicado e generoso na vida real,sempre disposto a ajudar jovens intelectuais em seucaminho, sem nada pedir em troca.
O DILEMA ÉTICO NIETZSCHIANO/EXTROPIANO
Como Max More percebeu desde o início, osaspectos da filosofia moral do extropianismo sãochave. Como Nietzsche, os extropianos reconhece-ram que a moral é biológica e culturalmente relativa,e não absoluta. Quem já não se deu conta disso emum momento ou outro? Consideramos normal co-mer animais, mas não seres humanos; os hindusconsideram imoral comer vacas; os Maori e outrastribos, até bem pouco tempo, achavam normal co-mer pessoas. Ou considere a moral sexual. Por quea infidelidade e a promiscuidade femininas são con-sideradas “piores” que comportamentos semelhan-tes por parte de homens? Isso é comum a todas asculturas humanas; vem direto das necessidades evo-lutivas do nosso DNA egoísta.
Dada essa ruidosa arbitrariedade, fica bastanteatraente ignorar totalmente os valores humanos econcentrar a atenção no conhecimento, entendi-mento e poder – qualidades que parecem ter um sig-
Impulso_28.book Page 154 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 155
nificado absoluto que falta à moralidade. Nessa li-nha de pensamento, Nietzsche enfocava o poderpessoal alcançado através da exploração mental e daautodisciplina, enquanto os extropianos enfocavamo poder alcançado por meio do avanço tecnológico.Ambos compartilham do enfoque no brilhantismointelectual e de uma perigosa atitude de rejeição paracom os que não têm o necessário para dar o próxi-mo passo no caminho evolutivo cósmico, como re-velado na citação de Moravec acima.
É claro que Moravec estava fazendo o papelde advogado do diabo naquela entrevista. Em com-pensação, às vezes More traz uma visão benevolentedo Übermensch. Mas o aspecto da benevolência pa-rece estranhamente atenuado... e esta atenuação dossupostos efeitos de “gotejamento” é um aspecto dopensamento extropiano que vem diretamente dadoutrina da liberdade absoluta. Sim, é uma afirma-ção plausível de que a ausência de governo seja omelhor caminho para ajudar os que estão em des-vantagem. Isto é, se concentrarmos todos os nossosrecursos no desenvolvimento irrestrito da alta tec-nologia, a riqueza pingará para todos, seja do estiloMargaret Thatcher ou Ronald Reagan. Eu, pessoal-mente, acho que está errado, mas é um argumentoplausível, tanto no cenário contemporâneo quantono futuro cibernético profetizado pelos extropia-nos. Mas a falta de atenção a esse suposto fenômenode gotejamento na literatura extropiana e libertáriame faz pensar na seriedade com que se toma este as-pecto dessas filosofias. Opiniões como a de Mora-vec expressa acima me fazem pensar ainda mais. Opróprio Nietzsche, em seus escritos, não fingiu sepreocupar com o homem comum, embora as açõese atitudes de sua vida real indicassem uma filosofiadiferente.
Pessoalmente falando, embora admire tantoNietzsche quanto os extropianos, algo em mim serebela contra o extremismo de sua filosofia ética epolítica. Talvez seja apenas minha herança biológica,mas não posso abalar a idéia de que haja uma essên-cia de verdade ética que vá além da relatividade cul-tural e biológica dos códigos morais. Apresenteiesta questão na lista de e-mail dos extropianos, qua-tro ou cinco anos atrás. Postulei que a compaixão, asimples compaixão, era uma ética universal, embora
pudesse se manifestar de maneiras diferentes emculturas diferentes e espécies diferentes. Sugeri quea compaixão, na qual uma mente vai além de si mes-ma para sentir os sentimentos dos outros e agir parao bem dos outros sem nada querer em troca, era es-sencial à evolução dos complexos sistemas auto-or-ganizadores que chamamos culturas e sociedades.Basicamente, expressei minha descrença de quetoda interação humana seja, ou devesse ser, econô-mica por natureza. A reação foi desestimulante. Aprofunda e ética discussão que eu estava esperando,bem, não aconteceu. Houve algum ardor, refuta-ções de um impassível Ayn Randish, e depois vol-taram ao assunto que vinham discutindo, impertur-báveis com minha posição herética de que talvez otransumanismo e o humanismo possam ser compa-tíveis, que o otimismo tecnológico não era lógica eirrefutavelmente casado com a política libertária.
CONCLUSÃOMinha impressão final dos extropianos? Ad-
miro sua coragem nietzschiana de ir contra o modoconvencional de pensamento, reconhecendo que araça humana não é o ponto final da evolução cós-mica, e prevendo que muitas das restrições morais elegais da sociedade contemporânea serão mudadas,suspensas ou transcendidas com o crescimento datecnologia e da cultura. Como eles, fico furioso e ir-ritado quando os governos nos impedem de expe-rimentar com nossas mentes e corpos novas tecno-logias – químicas, eletrônicas ou seja lá quais forem.Considero seus escritos muito mais fascinantes doque a maioria das coisas que leio. Eles olham para ofuturo, explorando regiões do espaço conceitualque, de outro modo, permaneceriam desconheci-das, e, ao fazê-lo, podem acabar empurrando o de-senvolvimento da tecnologia e da sociedade paramelhor. No entanto, fico um pouco incomodadocom a visão que têm de si mesmos como proto-Übermensches supertecnológicos, observando doalto a inevitável obsolescência da humanidade.Como a visão original de Nietzsche sobre o Über-mensch, é ao mesmo tempo atraente, divertida e per-turbadora.
Nietzsche, assim como Sasha, foi um ser hu-mano geralmente exemplar, apesar dos aspectos de-
Impulso_28.book Page 155 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

156 impulso nº 28
sumanos de sua filosofia. No entanto, muitos anosapós sua morte, a obra de Nietzsche teve um papelnas atrocidades, exatamente como ele tinha amargamas designadamente previsto. No fundo de minhamente, vislumbro um holocausto hipertecnológicono futuro distante, no qual ciborgs déspotas forne-cem ar a 50 dólares o metro cúbico citando escritosextropianos da virada do milênio, porque os huma-nos ficarão obsoletos de qualquer forma, por issonão fará muita diferença se os matarmos agora ounão. E, contudo, acho que os extropianos deveriamser lidos, porque eles pensaram em alguns aspectosdo nosso futuro muito mais que qualquer outro.Mas também acho que a idéia chave que torna ogrupo singular – a aliança da tecnologia transuma-nista com a simplista e incompassiva filosofia liber-tária – merece vigorosa oposição. Do mesmo mo-do, ao mesmo tempo que aprecio profundamenteas percepções de Nietzsche em relação à mente, àsociedade e ao mundo, jamais promoveria suas vi-sões sobre o governo, as mulheres e a moralidadecomo orientação para as atividades do mundo real.
Nenhuma filosofia pode fazer justiça à plenariqueza da experiência humana. As filosofias sãoabstrações, e o papel das abstrações não é substituiras especificidades das quais emergem, mas direcio-nar o seu desenvolvimento. Porém, algumas filoso-fias captam mais a riqueza humana que outras, e meparece que o extropianismo está numa posição mui-to baixa nesta escala – muito mais baixa que o pen-samento de Nietzsche, que contém percepções ex-tremamente profundas sobre a psicologia individual
e coletiva, a história da moralidade, a metafísica, edaí por diante.
Creio que nós, humanos, por toda a nossa ga-nância e fraqueza, temos uma essência compassiva,e espero que esse aspecto de nossa humanidade sub-sista até a era digital – até mesmo na era transumana,sobrevivendo ao corpo humano na sua forma atual.Eu adoro o calor humano e a prolífica diversidademental de importantes pensadores como Max Mo-re, Hans Moravec e Sasha Chislenko, e grandespensadores como Nietzsche – e espero que essasqualidades sobrevivam aos aspectos mais simplistastementes da ambigüidade de suas filosofias. Cons-ciente da contradição humana que isso envolve, an-seio pelo desenvolvimento de uma filosofia ciberné-tica além do extropianismo – um transumanismohumanista.
Percebe-se claramente com tudo isso que oconceito de Nietzsche sobre o Übermensch ainda éprofundamente relevante, e o será ainda mais ao lon-go dos próximos séculos. Esta é uma boa razão paranão ignorá-lo, mas pensar sobre ele pelo menos tantoquanto nos outros aspectos da filosofia nietzschiana.Com o desenvolvimento das tecnologias advogadaspelos extropianos, o Übermensch se tornará umanoção progressivamente mais concreta. A contradi-ção moral que está na essência do conceito – esta-mos realmente falando da destruição de uma huma-nidade insignificante, ou apenas da sua transcendên-cia num sentido mais benigno – não deixará de exis-tir, mas talvez seja confrontada e ela mesmatranscendida de maneiras que ainda não podemosperceber no atual estágio.
Referências BibliográficasCHISLENKO, S. <http://www.lucifer.com/~sasha/home.html>
DERY, M. Escape Velocity. Londres: Hodder & Stoughton, 1996.
Impulso_28.book Page 156 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 157
Impulso_28.book Page 157 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

158 impulso nº 28
Impulso_28.book Page 158 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 159
DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MÃO-DE-OBRA FEMININA: uma síntese da controvérsia teóricaDISCRIMINATION AGAINST FEMALE LABOR: overview of the theoretical controversy
Resumo A partir da publicação do trabalho de Gary Becker The Economics of Dis-crimination, de 1957, que estabelece a interpretação mais abrangente da teoria neo-clássica sobre as condições em que a discriminação contra a mão-de-obra femininapode persistir nas economias capitalistas, tem início um profícuo debate, em que ou-tras correntes teóricas apresentam visões alternativas. Este artigo contém uma análisecrítica dessa controvérsia, centralizando a atenção nas interpretações oferecidas pelateoria neoclássica e suas vertentes constituídas pela teoria estatística da discriminaçãoe pela do “capital humano”, e na abordagem da teoria do mercado de trabalho seg-mentado.
Palavras-chave MERCADO DE TRABALHO – DISCRIMINAÇÃO – MÃO-DE-OBRA FE-
MININA.
Abstract With the publication of Gary Becker’s work The Economics of Discrimina-tion, 1957, establishing a broader interpretation of the neoclassic theory on the con-ditions in which the discrimination against female labor can persist in capitalistic eco-nomies, a useful debate began with other theoretical currents presenting alternativepoints of view. This article contains a critical analysis of such controversy, focusing onthe interpretation given by the neoclassic theory and related discussion consisting ofthe statistical theory of discrimination and the “human capital” theory and the ap-proach of the internal labor markets theory.
Keywords LABOR MARKET – DISCRIMINATION – FEMALE LABOR.
ANA MARIA HOLLAND OMETTO
Docente da EscolaSuperior de Agricultura
Luiz de Queiroz-ESALQ/USP
Impulso_28.book Page 159 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

160 impulso nº 28
INTRODUÇÃO
as últimas décadas, as transformações de ordem econô-
mica, social e demográfica pelas quais passou a sociedade
brasileira afetaram consideravelmente a composição da
força de trabalho familiar. As elevadas taxas de cresci-
mento do Produto Interno Bruto per capita nos anos 70,
particularmente as taxas de crescimento dos setores se-
cundário e terciário, geraram oportunidades de trabalho
que levaram, pela primeira vez desde que as estatísticas
oficiais de emprego se tornaram disponíveis, o crescimento da população
economicamente ativa (PEA) a superar o da população.
Paralelamente, tomaram corpo mudanças consideráveis no âmbito da
família, como a generalização de um padrão característico do Sudeste urbano
– o formato em que predomina a unidade biológica pai/mãe/filhos – e a sua
contraface, a diminuição das famílias extensas –; a diminuição do número de
filhos, que se costuma associar à intensificação do processo de urbanização,
e ao maior nível de escolaridade, bem como ao maior acesso aos meios anti-
concepcionais; e o aumento das famílias quebradas, especialmente das chefi-
adas por mulheres.1
A literatura especializada tem, reiteradamente, associado tais transfor-
mações ao crescimento da participação da mulher na força de trabalho. Nesse
sentido, a comparação entre o Censo Demográfico de 1970 e o de 1980 mos-
tra que a participação feminina na PEA se eleva de 21% para 28% nesse pe-
ríodo.
A crise que se abateu sobre a economia brasileira no início dos anos 80
não interrompe esse processo. Ao invés disso, contrariando as teses apoiadas
no conceito marxista de “exército industrial de reserva”, que levariam a prever
que a discriminação da mulher iria se agudizar nas conjunturas recessivas, as
estatísticas mostram que as taxas de atividade feminina se mantiveram ascen-
dentes ao longo de toda a década de 80.
A tabela 1, elaborada a partir de informações obtidas através das Pes-
quisas Nacionais por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1981 a 1998, per-
mite verificar que o crescimento das taxas de atividade feminina no Brasil e
o decorrente aumento da participação das mulheres na PEA persiste na década
de 80, quando a economia brasileira atravessa uma das mais graves crises de
sua história. Os dados disponíveis para os anos 90 evidenciam, ainda, o apro-
fundamento do processo de incorporação da mulher no mercado de traba-
lho, de forma que, em 1998, a taxa de atividade feminina é de 47,5% e a par-
ticipação das mulheres na PEA, de mais de 40%.
1 Conforme OLIVEIRA, 1987; COSTA et al., 1987; OLIVEIRA & BERQUÓ, 1990; e BERQUÓ et al.,1990, entre outros.
NNNN
Impulso_28.book Page 160 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 161
Tabela 1. Indicadores de condição de atividade para as pessoas de 10 anos ou mais de idade – 1981 a 1998. Brasil.
Fonte: dados de 1981-1989 – IBGE, Síntese de Indicadores da Pesquisa Básica da PNAD de 1981-1989, tabela 3.3; dados de 1990– Anuário Estatístico do Brasil, 1992; dados de 1993 em diante obtidos nas PNAD correspondentes.
Nota: exclusive a população da área rural da Região Norte.
É importante salientar, também, que o cresci-
mento da participação feminina na PEA tem sido
acompanhado por mudanças de composição, que
podem impactar significativamente na evolução dos
rendimentos dessa força de trabalho. Entre elas
pode-se mencionar: a do perfil da participação etá-
ria, com acentuado crescimento de atividade nos
grupos de idade intermediária; a setorial, decorrente
do crescimento relativo de setores que usualmente
são bons empregadores de mão-de-obra feminina e
de um processo de feminilização a taxas diferencia-
das por setor; a da posição na ocupação, que aponta
principalmente para o processo de proletarização da
mão-de-obra feminina na agricultura; a da educação,
com o aumento expressivo dos níveis de escolarida-
de; a da estrutura ocupacional, com a mão-de-obra
feminina se distribuindo em um elenco mais diver-
sificado de ocupações; e a regional, associada ao
processo de urbanização.2
A despeito dessas transformações, o diferen-
cial de rendimento entre os sexos vigente na nossa
sociedade permanece elevado. A tabela 2 mostra a
evolução dos rendimentos reais do trabalho de ho-
mens e mulheres ocupados na economia brasileira,
no período compreendido entre 1981 e 1998. Nota-
se que na primeira metade da década de 80 a remu-
neração das mulheres se mantém ao redor de 50%
da dos homens. Na segunda metade dessa década, o
rendimento real feminino cresce proporcionalmen-
te mais que o masculino (1986) ou cai menos (1987,
1988 e 1990), de forma que, em 1990, a remunera-
ção das mulheres é 57,6% da dos homens. Com a
crise implantada no início dos anos 90, a relação en-
tre os rendimentos femininos e masculinos volta a
cair expressivamente, atingindo, em 1993, o valor de
50,6%. Somente a partir da estabilização da moeda
e da recuperação da economia, essa relação vai assu-
mir novamente valores crescentes, atingindo, em
1998, o pico de 59,3%.
Em linhas gerais, a desigualdade de salários
pode ser decorrente de dois fatores: o primeiro, li-
gado à heterogeneidade dos trabalhadores com
respeito a seus atributos produtivos; e o segundo,
ao fato de trabalhadores com idêntica qualificação
ANOTAXA DE ATIVIDADE
DISTRIBUIÇÃO DAS PESSOAS
ECONOMICAMENTE ATIVAS POR SEXO
Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres1981 53,4 74,6 32,8 100,0 68,7 31,3
1983 54,8 74,8 35,6 100,0 67,0 33,0
1984 54,8 74,6 35,6 100,0 66,9 33,1
1985 56,1 76,0 36,9 100,0 66,5 33,5
1986 55,8 75,7 36,8 100,0 66,2 33,8
1987 57,1 76,6 38,6 100,0 65,3 34,7
1988 56,8 75,9 38,7 100,0 64,9 35,1
1989 56,7 75,8 38,7 100,0 64,8 35,2
1990 56,7 75,3 39,2 100,0 64,5 35,5
1993 61,1 76,0 47,0 100,0 60,4 39,6
1995 61,3 75,3 48,1 100,0 59,6 40,4
1996 59,1 73,2 45,9 100,0 59,9 40,1
1997 60,1 73,9 47,2 100,0 59,6 40,4
1998 60,2 73,6 47,5 100,0 59,3 40,7
2 Conforme publicações das PNAD do período.
Impulso_28.book Page 161 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

162 impulso nº 28
Tabela 2. Rendimento médio mensal real de todos os trabalhos das pessoas ocupadas, segundo o sexo – 1981 a 1998.Brasil.
Fonte: IBGE – Síntese de Indicadores da Pesquisa Básica da PNAD de 1981-1989, tabela 6.18 e IBGE – Síntese de Indicadores da Pes-quisa Básica da PNAD de 1990, tabela 6.20. Dados de 1992 em diante obtidos nas PNAD correspondentes.
Nota: Exclusive o rendimento da população da área rural da Região Norte.(1) Inflacionado pelo INPC com base em setembro de 1989.(2) Valores revistos.(3) Valores em NCZ$.
serem remunerados de forma distinta, seja porque
são discriminado (ou, em outros termos, diferencia-
dos com base em atributos não produtivos), seja
porque o mercado de trabalho é segmentado (caso
em que os postos de trabalho valorizam seus atri-
butos de forma diferente).3
Diz-se que as mulheres são discriminadas no
mercado de trabalho quando, apesar de igualmente
qualificadas, recebem salários menores porque têm
acesso apenas às ocupações pior remuneradas e/ou
recebem pagamento inferior no desempenho da
mesma função. No primeiro caso, a discriminação é
ocupacional, decorrente de uma segmentação do
mercado de trabalho na qual o sexo se torna uma va-
riável de triagem. O segundo compreende a discri-
minação salarial propriamente dita.
Embora no âmbito internacional existam vir-
tualmente centenas de trabalhos empíricos desen-
volvidos com o objetivo de quantificar a discrimina-
ção contra a mão-de-obra feminina, são raros os
pesquisadores que se utilizam de ferramental eco-
nométrico para analisar a existência desse tipo de
discriminação na economia brasileira. Entre eles po-
dem ser citados os trabalhos de Camargo & Serra-
no4 e o de Barros, Ramos & Santos.5
Mais recentemente, Ometto, Hoffmann &
Alves,6 utilizando dados individuais das PNAD, ana-
lisaram a evolução, entre 1981 e 1990, da segregação
ocupacional por gênero nos Estados de São Paulo e
de Pernambuco. Verificaram, através do índice de
segregação de Duncan, que a segregação ocupacio-
nal por sexo nesses Estados é elevada, com os valo-
ANO
RENDIMENTO MÉDIO MENSAL REAL(1) DE TODOS OS TRABALHOS DAS PESSOAS OCUPADAS
Total(3) Homens(3) Mulheres(3) Homens/Mulheres (%)1981 739 874 443 50,7
1983 635 765 372 48,6
1984 630 753 381 50,6
1985(2) 731 876 441 50,3
1986 1.042 1.245 642 51,6
1987(2) 792 944 504 53,4
1988(2) 786 938 502 53,5
1989 928 1.112 591 53,1
1990 757 892 514 57,6
1992 605 740 394 53,2
1993 656 814 412 50,6
1995 853 1.044 565 54,1
1996 903 1.080 633 58,6
1997 893 1.072 617 57,6
1998 885 1.057 627 59,3
3 REIS & BARROS, 1991.
4 CAMARGO & SERRANO, 1983.5 BARROS et al., 1992.6 OMETTO et al., 1997.
Impulso_28.book Page 162 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 163
res do índice indicando que entre 58% e 65% da
força-de-trabalho feminina (ou masculina) deveriam
ser realocados para eliminar sua super-representação
em determinadas ocupações e sua sub-representa-
ção em outras.
Se o acesso às ocupações é universal, mas ho-
mens e mulheres igualmente qualificados encon-
tram-se segregados por escolha ou opção pessoal, as
diferenças de remuneração entre os gêneros não
exigiriam nenhum tipo de intervenção. Todavia, se
esse acesso não é universal e ocupações tipicamente
masculinas possibilitam a obtenção de rendimentos
significativamente maiores, as mulheres que se en-
contram excluídas de tais postos de trabalho são
prejudicadas.
Utilizando essa mesma base de dados, Omet-
to, Hoffmann & Alves7 compararam a importância
relativa da discriminação salarial e da ocupacional
nesses dois Estados brasileiros, através da metodo-
logia que conjuga o ajuste de equações de rendi-
mento por categoria ocupacional a um modelo lo-
gito multinomial, que procura estimar a distribuição
ocupacional que vigoraria na ausência de discrimi-
nação. Os resultados obtidos mostraram que as di-
ferenças de qualificação entre homens e mulheres
que participam da PEA não apenas explicam uma
parcela desprezível da desigualdade de remuneração
em São Paulo, como contribuem para reduzir essa
desigualdade em Pernambuco. O modelo utilizado
permitiu concluir, ainda, que as diferenças de remu-
neração entre os gêneros em São Paulo decorrem da
existência das duas formas de discriminação – a sa-
larial e a ocupacional. Já em Pernambuco resultam,
basicamente, da discriminação salarial.
A existência de diferenças significativas entre
salários masculinos e femininos em um amplo es-
pectro de países e a comprovação de que tais dife-
renças não podem ser explicadas pela desigualdade
de qualificação têm gerado uma série de estudos que
visam a criação de modelos analíticos, os quais, apoia-
dos em diferentes pressuposições teóricas, estabele-
cem as condições nas quais esse tipo de discrimina-
ção pode persistir.
O presente trabalho pretende desenvolver
uma reflexão crítica a respeito desse debate teórico,
considerando que o aprofundar do conhecimento
sobre as condições que favorecem a permanência de
práticas discriminatórias no mercado de trabalho é
uma pré-condição para a adoção de políticas que be-
neficiem a transformação da sociedade brasileira
numa sociedade mais igualitária.
DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MÃO-DE-OBRA FEMININA: INTERPRETAÇÕES ALTERNATIVAS
De modo geral, pode-se dizer que as análises
sobre a discriminação têm, como pano de fundo,
uma questão central: o mercado de trabalho é uni-
ficado, ou existem impedimentos estruturais crian-
do barreiras à mobilidade, que levam à constituição
de mercados isolados, cada um dos quais com regras
próprias de determinação de salários, promoções
etc.?
A partir de diferentes respostas a essa questão
preliminar, a escola neoclássica, com sua vertente
constituída pela teoria do capital humano, e a teoria
do mercado de trabalho segmentado fornecem ex-
plicações particulares à remuneração persistente-
mente menor da mão-de-obra feminina.
A INTERPRETAÇÃO DA TEORIA NEOCLÁSSICA: DO MODELO DE GARY BECKER À PROPOSTA DO “CAPITAL HUMANO”
Embora o primeiro neoclássico a abordar de
forma relativamente sistemática a questão da discri-
minação tenha sido Edgeworth,8 o interesse no
tema por parte dessa corrente da teoria econômica
viria a se difundir apenas após a publicação do tra-
balho de Becker.9
Supondo um mercado de trabalho unificado,
no qual existe perfeita informação dos agentes en-
7 Idem, 1999.
8 EDGEWORTH, 1922, pp. 431-457.9 BECKER, 1957.
Impulso_28.book Page 163 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

164 impulso nº 28
volvidos e livre mobilidade, tanto dos trabalhadores
em busca de melhores salários como dos emprega-
dores por mão-de-obra, a teoria neoclássica propõe
que os salários e o emprego sejam determinados a
partir dos processos de maximização do lucro das
firmas e da utilidade dos indivíduos. Num mercado
competitivo, as empresas maximizam seus lucros
considerando a tecnologia e os preços dos fatores
de produção como dados, contratando trabalhado-
res até o nível de emprego no qual os salários se
igualam ao valor do produto marginal do trabalho.
Nesse processo se estabelece a demanda por traba-
lho. Os indivíduos, por sua vez, optam entre o tra-
balho (e subseqüente renda) e o lazer, e, dadas as
suas preferências e os salários (reais) com que se de-
param, escolhem a combinação que maximiza a uti-
lidade. Nesse processo é gerada a oferta de trabalho.
A interação entre a oferta e a demanda determina os
níveis do emprego e do salário que vigorarão na eco-
nomia. Em outros termos, a inexistência de entraves
ao funcionamento desse mercado, como o estabe-
lecimento de valor mínimo para os salários ou ainda
limitações que impeçam sua flexibilidade, inibindo
as oscilações salariais decorrentes de variações da
oferta e da demanda por trabalho, garantirão o ple-
no emprego na economia.
Considerando um mercado de trabalho fun-
cionando segundo esse modelo, Becker acrescenta
as condições de que homens e mulheres sejam
igualmente produtivos e de que exista a “preferência
pela discriminação”, motivo pelo qual “os indivídu-
os agem como se estivessem dispostos a pagar, dire-
tamente ou na forma de renda reduzida, para se re-
lacionar com algumas pessoas ao invés de outras”.10
Essa preferência pode ter diversas origens, implican-
do, isolada ou conjuntamente, que os empresários
estejam dispostos a contratar mulheres apenas por
salário menor do que o que pagariam a homens
igualmente produtivos, que os colegas de trabalho
exijam um adicional de pagamento para comparti-
lhar com elas o ambiente de trabalho, ou ainda, que
os consumidores por elas atendidos adquiram as
mercadorias apenas se lhes for oferecido um des-
conto.
A análise de Becker permite verificar que, sob
tais hipóteses, as diferenças entre os rendimentos
dos dois tipos de trabalhadores podem ocorrer ape-
nas no curto prazo, numa situação de “desequilíbrio
autocorrigível”.
Se numa sociedade existem empregadores
que discriminam mulheres, mas o volume de em-
prego oferecido pelos que não o fazem é suficiente
para absorver a oferta de trabalho, homens e mulhe-
res igualmente produtivos receberão salário equiva-
lente, embora se configure uma situação de segre-
gação, pois, em tais circunstâncias, as mulheres não
encontrarão emprego nas firmas que as discrimi-
nam. Por outro lado, se o volume de emprego ofe-
recido pelas empresas que não se pautam pelo pre-
conceito é insuficiente para a absorção da oferta de
trabalhadoras, os seus salários serão reduzidos (e o
pleno emprego restaurado). Contudo, nesse caso, a
mão-de-obra contratada pelos empregadores sem
preconceito será exclusivamente feminina, tornan-
do tais firmas mais lucrativas, o que, pelas pressupo-
sições do modelo, é insustentável no longo prazo.11
Se o preconceito se origina no consumidor, e
estiver suficientemente difundido na economia,
pode provocar a queda dos salários de mulheres em
trabalhos que envolvam contato com consumido-
res.12 Mas, nesse caso, conforme alega Stiglitz,13 as
trabalhadoras seriam encorajadas a procurar postos
de trabalho que não exigissem tal contato, o que pro-
vocaria novamente segregação, e não, necessaria-
mente, diferencial salarial. Somente na hipótese
pouco plausível da estrutura vigente do emprego
impedir que as mulheres encontrem espaço em tais
postos é que o diferencial de salários se sustentaria.
Por fim, se colegas de trabalho preconceituo-
sos exigissem um adicional de pagamento para tra-
10 Ibid., p. 6.
11 Becker argumenta que a expansão das firmas sem preconceito somentepoderia ser freada se os custos fossem crescentes à escala (1957, p. 36). Emesmo sob essa hipótese, a inexistência de barreiras à entrada que caracte-riza o sistema de competição perfeita possibilitaria às firmas com lucrosacima dos considerados “normais” a expansão da produção através damontagem de novas plantas e/ou compra das já existentes. 12 BECKER, 1957, p. 56ss.13 STIGLITZ, 1973.
Impulso_28.book Page 164 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 165
balhar com mulheres igualmente capazes, nova-
mente os custos maiores do emprego conjunto po-
deriam ser evitados através da segregação ocupacio-
nal.14 O diferencial de salários poderia persistir
apenas quando o número de trabalhadoras e traba-
lhadores sem preconceito fosse insuficiente para
permitir o funcionamento de firmas em escala eco-
nomicamente viável que integrassem a mão-de-obra
de mulheres e homens sem preconceito ou nas
quais se promovesse a segregação.
Assim, salvo em situações consideradas pou-
co prováveis, as diferenças salariais discriminatórias
num mercado de trabalho competitivo seriam um
fenômeno de curto prazo, autocorrigível pelas pró-
prias regras que norteiam o funcionamento do mer-
cado.
Mesmo relaxando a pressuposição de compe-
tição perfeita, Becker encontra dificuldades em ofe-
recer um modelo que explique de maneira convin-
cente a persistência da discriminação.
Supondo novamente um mercado de traba-
lho que funcione com base em pressuposições ne-
oclássicas, no qual os trabalhadores dos dois sexos
sejam igualmente produtivos e exista a “preferência
pela discriminação”, a competição imperfeita pode
ser introduzida através das seguintes hipóteses: 1. al-
gumas firmas detêm monopólio no mercado de
produtos; 2. um pequeno número de empregadores
absorve fração expressiva da força de trabalho; e 3.
os trabalhadores estão organizados em sindicatos.
Na primeira situação é preciso ter em mente
que, embora o monopólio no mercado de produtos
possa resultar em lucros acima dos considerados
“normais” (o que viabilizaria perdas decorrentes de
comportamento discriminatório), não implica po-
der no mercado de trabalho. Se a firma não puder
afetar os salários, a sua situação de monopólio será
irrelevante, pois não conseguirá contratar mulheres
por salário inferior ao que vigora no mercado, e nem
necessitará pagar aos homens salário superior. Em
decorrência, tal firma contratará apenas homens,
configurando-se novamente a segregação, e não a
discriminação da mão-de-obra. E mais, mesmo que a
difusão dos monopólios na economia seja suficiente
para que o comportamento do conjunto dessas em-
presas possa afetar o mercado de trabalho, ainda as-
sim, se a posse for transferível, a racionalidade dos
agentes envolvidos levaria a que, no longo prazo,
empresários menos preconceituosos assumissem o
comando. Em outros termos, assim como a com-
petição no mercado de produtos tende a eliminar a
discriminação nas empresas competitivas, a compe-
tição no mercado de capitais deve reduzi-la nas em-
presas monopolistas.15 Dessa forma, conclui que a
discriminação nas indústrias monopolistas poderia
persistir apenas se a posse fosse intransferível. E
mesmo nesse caso a influência do monopólio como
fonte primária de discriminação poderia ser questio-
nada por razões de ordem prática. Conforme sugere
Marshall,16 monopolistas (ou oligopolistas) devem
ter menor interesse em discriminar (dado que, nas
grandes empresas, as relações estabelecidas entre a
administração e os empregados são mais distantes)
e maior facilidade em integrar a mão-de-obra sem
custos adicionais (visto que mesmo colegas de tra-
balho preconceituosos procuram evitar o sacrifício
de boas posições no mercado de trabalho). Além do
mais, as empresas monopolistas, pela sua proemi-
nência pública, tendem a ser muito sensíveis à ques-
tão da imagem e, assim, às pressões organizadas de
grupos minoritários, que podem prejudicá-las ape-
lando ao público simpático aos interesses das mino-
rias.17
Na segunda situação, considerada como for-
ma clássica de exploração da mão-de-obra, os traba-
lhadores estão cativos em um mercado no qual o
número de empregadores é suficientemente peque-
no para que as ações de cada um deles, individual-
mente, afetem o nível de salários e a oferta de tra-
balhadores aos demais. Nessas circunstâncias, cada
empregador se depara com uma oferta de trabalho
ascendente, de forma que variações na sua demanda
de trabalho afetam o nível de salários. Na busca de
14 BECKER, 1957, p. 48.
15 Ibid., p. 38.16 MARSHALL, 1974.17 CAIN, 1986.
Impulso_28.book Page 165 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

166 impulso nº 28
maximização dos lucros o monopolista empregará
trabalhadores até que se atinja o ponto no qual a
despesa marginal com a mão-de-obra iguale sua re-
ceita marginal, o que, conforme descrito nos manu-
ais de microeconomia neoclássica, leva a uma situa-
ção de equilíbrio na qual o volume de emprego e o
salário são menores que os que vigorariam num
mercado competitivo. Pode-se demonstrar que,
nesse modelo, o comportamento maximizador dos
lucros resultará em salários menores para mulheres
quando a oferta feminina de trabalho for menos
elástica em relação aos salários que a masculina.18
Cain19 critica a viabilidade da persistência de
diferenciais salariais por esse motivo, argumentando
que a prevalência de monopsônio no mercado de
trabalho é muito limitada, não apenas porque a mai-
oria da população vive em grandes centros urbanos,
mas também porque os meios de transporte mo-
dernos expandiram os limites geográficos desse
mercado. Lembra, também, que as análises empíri-
cas têm verificado que a elasticidade da oferta femi-
nina de trabalho é usualmente maior que a da mas-
culina.
Por fim, quando trabalhadores preconceituo-
sos formam um monopólio na venda da força de
trabalho, podem, simultaneamente, elevar seus ní-
veis salariais e restringir a entrada de mulheres na ca-
tegoria.20 E, embora a adoção de critério de contra-
tação que exclua eventuais candidatos com base no
sexo possa ser alvo de sanções, os sindicatos costu-
mam negociar com os empregadores um conjunto
de requisitos que afastam de fato as mulheres (como
a experiência prévia no ramo, a disponibilidade para
serviço noturno e horas extras etc.).
Ao contrário das situações de monopsônio,
os sindicatos trabalhistas estão amplamente difun-
didos na sociedade. Além disso, uma série de pes-
quisas empíricas tem verificado efeito positivo da
sindicalização na remuneração dos seus associados.
Assim, a menor participação feminina em categorias
cobertas por contratos coletivos de trabalho deveria
resultar em salários médios menores que os mascu-
linos. Apesar disso, Ashenfelter21 verificou que,
dado o baixo grau de sindicalização dos trabalhado-
res de ambos os sexos na economia norte-america-
na, o impacto da sindicalização no diferencial de pa-
gamentos de homens e mulheres é insignificante
(explicando apenas 1,9% dele).
Portanto, a introdução de imperfeições no
mercado de produto e/ou trabalho claramente não
resolve os problemas encontrados pela teoria neo-
clássica para explicar as diferenças substanciais e per-
sistentes entre o pagamento de homens e mulheres
igualmente produtivos.22
Em resumo, toda a argumentação de Becker
o leva a concluir que a discriminação pode resultar
na segregação das trabalhadoras em determinados
postos de trabalho, mas apenas em circunstâncias
muito pouco prováveis tais postos podem ser per-
sistentemente pior remunerados. De modo geral, o
seu modelo mostra que diferenças salariais de
cunho discriminatório seriam um fenômeno de cur-
to prazo, autocorrigível pelo funcionamento do
mercado de trabalho.
As dificuldades enfrentadas por Becker na
construção de uma “economia da discriminação” le-
varam Arrow23 a concluir, corretamente, que “o
modelo prevê a ausência do fenômeno que se pro-
põe a explicar”. Pelas mesmas razões, Welch24 deno-
mina a teoria de Becker de “teoria da segregação”, e
não da discriminação.
Arrow,25 Phelps26 e Spence,27 cientes dessas
dificuldades, assim como do irrealismo da hipótese
da “preferência pela discriminação” num modelo
pautado pela racionalidade econômica dos agentes
18 MADDEN, 1973.19 CAIN, 1986.20 BECKER, 1957, p. 54.
21 ASHENFELTER, 1973.22 Essas questões tem sido levantadas por críticos do modelo primitivo deBecker, como SOWELL, 1971; STIGLITZ, 1973; ARROW, 1972 e 1973;MARSALL, 1974; WELCH, 1975; DARITY, 1975; e CAIN, 1986. São,claramente, críticas internas à teoria, pois, embora procurem apontar ascontradições internas do modelo de Becker, não colocam as pressuposi-ções neoclássicas em xeque. CAIN, 1986 e MADDEN, 1988 apresentamrevisão abrangente das idéias de Becker e das críticas subseqüentes à publi-cação do seu trabalho. 23 ARROW, 1972, p. 192.24 WELCH, 1975.25 ARROW, 197326 PHELPS, 1972.27 SPENCE, 1973.
Impulso_28.book Page 166 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 167
envolvidos,28 buscaram justificar as diferenças sala-
riais através do relaxamento da pressuposição de in-
formação perfeita no mercado de trabalho.
No que se convencionou denominar “teoria
estatística da discriminação”, considera-se que os
empregadores não pretendem discriminar as mu-
lheres. Entretanto, embora estejam dispostos a pa-
gar salários semelhantes para homens e mulheres
igualmente produtivos, não dispõem de informa-
ções seguras sobre a produtividade real dos candi-
datos, necessitando avaliá-la com base em indicado-
res que não são plenamente confiáveis. Nesse mun-
do de informações imperfeitas, os empresários, ba-
seados em suas percepções da realidade, constróem
estimativas da produtividade média de homens e
mulheres com determinadas características (nível de
escolaridade, experiência etc.) e, considerando os
custos envolvidos numa análise mais precisa, caso a
caso, dos candidatos, optam por remunerar a mão-
de-obra de acordo com as estimativas de que dis-
põem, ou seja, os indivíduos passam a ser julgados
com base nas características médias dos grupos a
que pertencem.29
Neste contexto, os diferenciais de salários são
explicados basicamente por dois argumentos.30 O
primeiro propõe que, apesar de a mão-de-obra dos
dois sexos ser, em média, igualmente produtiva, a
variância da produtividade é maior para a mão-de-
obra feminina. Nessas circunstâncias, a aversão ao
risco do empresariado o levará a preferir contratar
homens, deprimindo a demanda por mulheres no
mercado de trabalho e, em conseqüência, os seus sa-
lários.31
No segundo, alega-se que, apesar de a produ-
tividade média de homens e mulheres ser semelhan-
te, os indicadores disponíveis são menos confiáveis
para as mulheres. Novamente, a aversão ao risco do
empresariado deprimirá a demanda pela mão-de-
obra feminina e, conseqüentemente, o seu salário.32
Além de se poder questionar a razoabilidadedas suposições de maior variância da produtividadee/ou da menor confiabilidade dos indicadores, tam-bém a argumentação não demonstra que o custo daprocura de informações mais fidedignas é maior que odos erros de contratação que decorrem da ineficiênciados critérios. E, em quaisquer das hipóteses existem,dentro do referencial neoclássico no qual a teoria éconstruída, incentivos consideráveis para que traba-lhadores e empresários encontrem indicadores maiseficazes da produtividade. Se é apenas a falta de in-formação que leva os trabalhadores a serem remu-nerados pela estimativa da produtividade média doseu sexo, pode-se supor que os trabalhadores que seconsiderassem prejudicados pelos critérios adota-dos – não apenas as mulheres, mas todos os queacreditassem ter produtividade maior que a médiada sua categoria – provavelmente estariam dispostosa trabalhar por baixos salários durante um períodode experiência, na expectativa dos salários maioresque vigorariam após tal período. Assim, diferençassalariais baseadas em percepções da realidade que aexperiência demonstrasse ser equivocadas não deve-riam persistir.33
Em suma, os obstáculos encontrados pela teo-ria neoclássica para justificar a existência de discri-minação no mercado de trabalho aparentementenão puderam ser transpostos a contento, nem peloabandono da pressuposição de competição perfeitanem pelo da informação perfeita. O passo seguintefoi, então, considerar que as diferenças salariais sãoo resultado de diferenças – determinadas exogena-mente ao mercado de trabalho – de qualificação da
28 Como justificar que trabalhadores e empresários, considerados agenteseconômicos racionais que dispõem de perfeita informação, adotem umcomportamento que pode excluí-los do mercado ao solicitar, respectiva-mente, adicional de pagamento para compartilhar o ambiente de trabalhocom mulheres igualmente produtivas, ou se dispor a pagar salários maioresa homens igualmente qualificados?29 As normas preconizadas para o funcionamento do mercado de trabalhosão as mesmas da teoria neoclássica convencional, com a diferença de queas empresas contratam trabalhadores até o nível de emprego no qual ossalários se igualam não ao valor do produto marginal do trabalho, mas àestimativa da média desse valor.30 A formalização dos argumentos pode ser vista em PHELPS, 1972.31 LUNDBERG & STARTZ, 1983.
32 SPENCE (1973) considera que, apesar de a educação formal não geraraumentos de produtividade, os indivíduos naturalmente mais hábeis têmmaior facilidade para alcançar níveis elevados de escolaridade. Assim, aescolaridade é encarada como uma credencial que indica a produtividadeinata do indivíduo. Entretanto, como é considerada um indicador menosconfiável para as mulheres, a aversão ao risco do empresariado o leva acontratar mulheres apenas se os seus salários forem menores.33 McCALL, 1972.
Impulso_28.book Page 167 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

168 impulso nº 28
mão-de-obra. E essa tarefa foi empreendida pelosadeptos da teoria do capital humano.
A linha mestra dessa teoria é a hipótese deque grande parte dos gastos que os indivíduos têmconsigo mesmos é realizada objetivando retornosfuturos. Dessa forma, a busca de maior escolarida-de, informação, saúde etc., implica gastos que de-vem ser encarados, não como decisões de consumo,mas como decisões racionais de investimento.
Dada a fundamentação neoclássica da teoria,considera-se que o trabalhador seja pago pelo valordo seu produto marginal. Em decorrência, investi-mentos no “capital humano”, sejam gerais (atravésdo ensino formal) ou específicos (através do treina-mento em atividades particulares da firma que em-prega o trabalhador), levam a aumentos de produ-tividade que resultam em salários maiores. A racio-nalidade econômica dos indivíduos os leva a investirna sua formação com base em suas percepções doscustos das opções disponíveis e dos benefícios ge-rados por cada uma delas.34
Sob tais hipóteses, a desigualdade de renda vi-gente numa sociedade em que prevalece a igualdadede oportunidades e o acesso a informações passa aser o reflexo da distribuição de atributos pessoaisnatos, entre os quais o talento e o tino comercial, oufruto de decisões individuais, como os investimen-tos na educação (que refletem, por sua vez, os pa-drões individuais de preferência temporal), e da ex-periência no mercado de trabalho.
Os diferenciais de rendimento entre os sexosvão decorrer, basicamente, do fato de homens e mu-lheres avaliarem suas opções considerando diferen-tes expectativas a respeito dos padrões de trabalhoque esperam desenvolver ao longo de sua vida útil.
Tais expectativas resultam de uma divisão detrabalho na família que, conforme Becker,35 é favo-recida por incentivos econômicos. Considerandoque o consumo familiar envolve a aquisição de bens(o que, por sua vez, implica rendimentos monetáriose, portanto, trabalho remunerado) que devem sertransformados pelo trabalho doméstico, a subsis-tência familiar exige o desempenho de atividades no
mercado de trabalho e no ambiente doméstico.Como tais atividades envolvem habilidades especí-ficas, que podem ser aprimoradas através de inves-timentos sujeitos a retornos crescentes, a famíliacomo um todo ganha com a especialização dos seusmembros.36
Consubstanciada essa divisão sexual do traba-lho, as decisões de investimento em termos do “ca-pital humano” dos membros da família são tomadascomo base em expectativas a respeito dos padrõesfuturos de trabalho que diferem segundo o sexo.
Além do mais, assumindo-se que as respon-sabilidades domésticas resultem em um padrão deatividades remuneradas marcado pela descontinui-dade, e que a interrupção da atividade seja “punida”pela depreciação dos salários que decorre da obso-lescência das habilidades do trabalhador que se au-senta do mercado, a expectativa desse padrão37 levaas mulheres não apenas a menores investimentos naqualificação, mas também a buscar os empregos nosquais a descontinuidade receba menor penalidade.38
Como resultado, mesmo na ausência de discrimina-ção, as escolhas racionais dos ofertantes do trabalhoconduzem à segregação ocupacional: “Se o ciclo departicipação no mercado de trabalho difere entre osindivíduos, e se os custos desses diferentes graus deintermitência variam entre as ocupações, então osindivíduos vão escolher as ocupações com menorpenalidade para a participação que programam ter alongo de sua vida”.39
34 BECKER, 1975; e MINCER, 1962 e 1974.35 BECKER, 1981 e 1985.
36 Como percebe corretamente O’NEILL (1988), as pressuposiçõesdesse modelo resultam na especialização, mas não na divisão sistemáticado trabalho segundo o gênero. Para tal seria necessária a vigência de outrascondições: a mulher deveria apresentar vantagens comparativas na produ-ção doméstica e/ou rendimentos potenciais menores no mercado de tra-balho.37 É preciso ter em mente que para a lógica da teoria não é necessário que opadrão de descontinuidade se verifique, pois sua expectativa é condiçãosuficiente para gerar os resultados preconizados. 38 POLACHEK, 1976 e 1979.39 Idem, 1979, p. 144. England, através da análise das informações do Natio-nal Longitudinal Survey (NLS), de 1967, não encontra suporte empíricopara as idéias defendidas por Polachek (ENGLAND, P. The failure ofhuman capital theory to explain occupacional sex segregacion. The Journalof Human Resources, 17 (3): 358-370, 1982). Verifica que os rendimentos dasmulheres em ocupações predominantemente femininas não apresentammenor taxa de depreciação ou de valorização do que os das que estão inseri-das em ocupações masculinas. Além disso, as mulheres que passam maiornúmero de anos depois da escola fora do mercado de trabalho não se encon-tram em ocupações com maior predominância de mulheres do que as quetêm atividade mais contínua.
Impulso_28.book Page 168 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 169
Ou seja, dado um padrão de divisão familiar
do trabalho que confere maiores responsabilidades
domésticas às mulheres, os diferenciais de rendi-
mento entre os sexos e a segregação ocupacional se
explicam por decisões racionais dos ofertantes do tra-
balho em termos dos investimentos diferenciados
segundo o sexo na qualificação profissional e da es-
colha da carreira a seguir.40
A intermitência resulta ainda em menor expe-
riência e, como a experiência provoca aumento dos
rendimentos em decorrência da produtividade gerada
pelo treinamento que ocorre no trabalho,41 a teoria
encontra uma justificativa adicional para os menores
salários auferidos pelas mulheres.
Em suma, a abordagem do capital humano
enfatiza a idéia de que o menor investimento, me-
nor experiência e segregação ocupacional resultam
de escolhas voluntárias da mão-de-obra feminina.
Diferenças por gênero na estrutura da demanda,
por sua vez, desempenham papel passivo no mode-
lo, na medida em que são consideradas mero resul-
tado da percepção correta dos empregadores acerca
da menor produtividade das trabalhadoras.
A Teoria da Segmentação doMercado de Trabalho
Rejeitando o universalismo a-histórico das
análises neoclássicas, Doeringer & Piore42 propõem
ser a segmentação do mercado de trabalho uma
conseqüência do desenvolvimento da estrutura pro-
dutiva das economias capitalistas industrializadas.
O desenvolvimento desigual da indústria mo-
derna acarreta o surgimento de setores oligopoliza-
dos, compostos por grandes empresas, tecnicamen-
te dinâmicas, e setores menos concentrados, abran-
gendo firmas de menor porte e base técnica usual-
mente menos avançada.
A expansão do número de postos e funções
que respondem à necessidade de normas de contro-
le burocrático das grandes empresas do mundo
contemporâneo, assim como às suas especificidades
em relação à qualificação, tecnologia e processos de
treinamento da mão-de-obra, faz com que o mer-
cado de trabalho assuma natureza cada vez mais
compartimentalizada. Assim, nas grandes empresas,
as posições subalternas da hierarquia são preenchi-
das pelos trabalhadores que nelas ingressam. Con-
tudo, uma vez admitidos, as promoções são decidi-
das internamente, com base numa estrutura de car-
gos e salários que constituem carreiras específicas
das firmas e visam, não apenas atender a normas de
controle burocrático de estruturas agigantadas, mas
também, e principalmente, diminuir os custos sig-
nificativos da rotatividade de uma mão-de-obra re-
crutada, selecionada e treinada para o desempenho
de atividades específicas da empresa.
Deve-se considerar que a introdução de novas
técnicas e o crescimento da produtividade da mão-
de-obra registrado nessas empresas nas últimas dé-
cadas tornam os salários parcela cada vez menos im-
portante do seus custos, permitindo-lhes conceder
aumentos salariais sem comprometer a lucrativida-
de. Entretanto, dada a oferta abundante de mão-de-
obra para os postos de ingresso, tais aumentos não
necessitam ser generalizados. Ao invés disso, abre-
se a possibilidade de um amplo leque de salários que
sanciona o estabelecimento do mercado interno de
trabalho.43
A progressão do indivíduo na carreira à qual
seu posto de ingresso dá acesso dependerá de sua
adaptabilidade às normas estabelecidas, de sua iden-
tificação com os objetivos da empresa, dos treina-
mentos aos quais foi submetido etc., ficando relega-
das para segundo plano as dimensões avaliadas antes
da incorporação do trabalhador.
Neste contexto, o processo de determinação
dos salários difere significativamente do preconiza-
40 Deve-se notar que essa explicação difere substancialmente da oferecidapor BECKER, 1957. Como vimos, para esse autor se houver preconceitocontra mulheres por parte de empregadores, colegas de trabalho ou con-sumidores de certas empresas, no longo prazo, a mão-de-obra femininaserá realocada nas atividades em que os agentes envolvidos não se pautampelo preconceito. Em outros termos, a análise de Becker enfoca os deter-minantes da demanda de trabalho que levam à segregação das trabalhado-ras em determinadas posições. Contudo, é importante perceber que asduas abordagens não se constituem em interpretações opostas, mas simcomplementares. 41 MINCER, 1962; e BECKER, 1975.42 DOERINGER & PIORE, 1971. 43 SOUZA, 1980, p. 94.
Impulso_28.book Page 169 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

170 impulso nº 28
do pela teoria neoclássica. A incorporação, na análi-
se, dos custos fixos da força de trabalho (decorren-
tes do recrutamento, seleção, contratação e treina-
mento da mão-de-obra), que devem ser amortiza-
dos ao longo de uma permanência incerta do
trabalhador na firma, dificulta sobremaneira a deter-
minação dos salários pelo princípio da equivalência
entre custos e produtividade marginal. Além disso,
o salário, que não deve ser encarado como a remu-
neração do indivíduo, mas como a que pode ser re-
cebida pela ocupação de determinado posto de tra-
balho, não está atado à produtividade individual, e
sim a de grupos de trabalhadores na mesma função.
Por fim, outro importante determinante neoclássi-
co dos salários – a remuneração em oportunidades
alternativas de emprego – também perde importân-
cia, pois os trabalhadores que abandonam a empresa
têm acesso apenas a posições de ingresso (e, portan-
to, pior remuneradas) nas demais.
Logicamente, as grandes empresas não absor-
vem a totalidade da força de trabalho. No âmbito
dos mercados internos de trabalho, cujo conjunto
Doeringer e Piore denominam mercado primário,
os salários se tornam relativamente elevados, as pos-
sibilidades de ascensão profissional amplas e os em-
pregos estáveis. Contrapondo-se a ele encontra-se o
mercado secundário de trabalho, que compreende os
empregos que não se estruturam segundo níveis hi-
erarquicamente estabelecidos (ou, em outros ter-
mos, aqueles para os quais não existe nenhum tipo
de carreira), e os que, embora organizados segundo
uma estrutura formal, tendem a ter muitos postos
de ingresso e pouca mobilidade ou possibilidades de
promoção. Nesse mercado, que abrange principal-
mente os empregos localizados no setor doméstico
e nas firmas de menor porte, além de alguns tipos de
trabalho desenvolvidos em grandes empresas, a ro-
tatividade não é percebida como um problema, pois
a oferta de trabalhadores, pelas baixas exigências de
qualificação e treinamento, é abundante, possibili-
tando que a reposição da mão-de-obra se faça pra-
ticamente sem custos. Em decorrência, no mercado
secundário os cargos são menos estáveis, os salários
mais baixos e a possibilidade de ascensão profissio-
nal menor.
Nessa abordagem, a desigualdade de salários
por gênero resulta de uma alocação da força de tra-
balho que seleciona as mulheres preferencialmente
para as carreiras menos atrativas do mercado secun-
dário.
A questão central que se coloca é o porquê da
segregação da mão-de-obra feminina em tais pos-
tos. E, nesse particular, a resposta da teoria do mer-
cado segmentado é semelhante a dos adeptos da te-
oria estatística da discriminação: o caráter intermi-
tente do trabalho feminino favorece sua participa-
ção no mercado secundário, que encoraja a
rotatividade da mão-de-obra através dos baixos sa-
lários e raras chances de promoção. A organização
do mercado primário, por sua vez, pelos custos de
treinamento da mão-de-obra e oportunidades de as-
censão profissional, é mais adaptada à mão-de-obra
masculina, encarada como mais estável e confiável.
Se homens e mulheres diferem significativamente
em termos da proporção que possui as característi-
cas desejadas (no caso, a estabilidade), num mundo
onde não existe perfeita informação, a política mais
eficiente de contratação pode ser, simplesmente, a
exclusão dos candidatos do sexo feminino. Dessa
forma, o sexo torna-se uma variável-chave de tria-
gem e o diferencial de salários se explica por uma se-
gregação ocupacional com predomínio de mulheres
nos cargos pior remunerados.44
É claro que as práticas que restringem as mu-
lheres às posições subalternas e lhes negam o acesso
a treinamento devem provocar a elevação da rotati-
vidade e do absenteísmo. Assim, pode-se criar um
círculo vicioso através do qual as opiniões são rea-
firmadas sem que se ofereçam às mulheres oportu-
nidades de responder a uma estrutura diferente de
incentivos.45
Os autores argumentam, ainda, que mesmo
as trabalhadoras que estão incorporadas no merca-
do primário de trabalho podem ser pior remunera-
das em decorrência de práticas discriminatórias nas
44 DOERINGER & PIORE, 1971, cap. 8.45 WEISSKOFF, 1972, p. 164.
Impulso_28.book Page 170 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 171
regras que governam a determinação dos salários.
Em primeiro lugar, a baixa remuneração que aufe-
rem no mercado secundário é transmitida para o pri-
mário através do rebaixamento dos níveis salariais
iniciais das carreiras em que estão inseridas. Além
disso, as carreiras com predominância de ocupação
feminina podem também ser subvalorizadas pela
aplicação de critérios desiguais de avaliação, que
adotam como prática estabelecer salários semelhan-
tes para mulheres lotadas em diferentes tipos de ser-
viço, ao invés de procurar equipará-los pelo nível de
qualificação exigido.46
CONCLUSÕES
Quando se busca verificar se a desigualdade
por gênero observada na distribuição ocupacional e
nos salários resulta de diferentes escolhas dadas as
mesmas oportunidades, ou de oportunidades desi-
guais de realizar escolhas semelhantes, as correntes
teóricas consideradas neste trabalho fornecem res-
postas diferentes.
Para os adeptos da abordagem do mercado de
trabalho segmentado, a segregação das mulheres
nos postos de trabalho pior remunerados é deter-
minada pela demanda de trabalho. Entretanto, essa
segregação não necessariamente decorre da discri-
minação por parte dos agentes econômicos, pois a
expectativa do empresariado acerca da menor esta-
bilidade do conjunto da mão-de-obra feminina,
considerada uma característica-chave para o setor
oligopólico, é suficiente para excluir as mulheres
dos empregos melhor remunerados. De qualquer
forma, as oportunidades desiguais com que se de-
frontam as trabalhadoras levam tanto à sua segrega-
ção num elenco restrito de ocupações, como à sua
pior remuneração.
Os adeptos da teoria estatística da discrimina-
ção explicam os diferenciais de salário entre os sexos
através da aversão ao risco do empresariado conju-
gada à sua percepção acerca da maior variância da
produtividade da mão-de-obra feminina ou, ainda,
da menor confiabilidade na capacidade dos indica-
dores disponíveis de avaliar corretamente a produ-
tividade desse tipo de trabalhador. Assim, segundo
essa abordagem, a menor remuneração das mulhe-
res não é provocada pela discriminação, mas por ca-
racterísticas próprias de seu sexo, causadas por fato-
res exógenos ao mercado de trabalho, além da aver-
são ao risco do empresariado. A segregação das mu-
lheres nas ocupações pior remuneradas não se
constitui em objeto de análise dessa teoria.
Já para Becker,47 a discriminação pode levar à
segregação das trabalhadoras em postos de trabalho
nos quais os agentes envolvidos não se pautam pelo
preconceito. Entretanto, apenas em circunstâncias
muito específicas tais postos podem ser persistente-
mente pior remunerados.
A abordagem do capital humano, por sua vez,
enfatiza a idéia de que são as escolhas racionais das
ofertantes de trabalho que levam à sua segregação
nas ocupações menos penalizadas pela intermitên-
cia, as quais apresentam, correlatamente, reduzidas
possibilidades de ascensão. Os diferenciais salariais
explicam-se, ainda, pelos menores investimentos re-
alizados pela mão-de-obra feminina no “capital hu-
mano” e pela sua menor experiência no mercado de
trabalho.
De qualquer forma, é importante salientar
que, transcorrido mais de um século após a abolição
da escravidão no Brasil e a plena constituição de um
mercado de trabalho assalariado, as análises empíri-
cas disponíveis sobre o mercado de trabalho brasi-
leiro permitem verificar que a discriminação contra
mão-de-obra feminina se encontra amplamente di-
fundida na nossa sociedade, com as trabalhadoras
brasileiras encontrando-se não apenas segregadas
em ocupações pior remuneradas, como também au-
ferindo rendimentos menores que os trabalhadores
no desempenho da mesma função/ocupação. Tais
evidências são fortes indicativos de que esse não é
um problema autocorrigível pelo funcionamento
do mercado de trabalho, como quer a análise neo-
clássica. Por outro lado, os elevados índices de se-
gregação ocupacional reportados nas análises empí-
46 DOERINGER & PIORE, 1971, cap. 7. 47 BECKER, 1957.
Impulso_28.book Page 171 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

172 impulso nº 28
ricas disponíveis sugerem que a teoria da segmenta-
ção do mercado de trabalho pode se constituir
numa ferramenta importante para a melhor com-
preensão desse fenômeno.
Todavia, é importante notar que a opção pelas
diferentes interpretações teóricas não conduz, ne-
cessariamente, a propostas políticas diferenciadas.
Se considerarmos que o padrão de divisão fa-
miliar do trabalho que confere às mulheres maiores
responsabilidades domésticas pode ser provocado
pelos seus rendimentos potenciais menores no mer-
cado de trabalho, o tratamento igualitário nesse
mercado elimina as razões para considerar as mu-
lheres como donas-de-casa, em primeiro plano, e
trabalhadoras remuneradas, em segundo. Oportu-
nidades iguais encorajarão as jovens a se preparar
para a atividade profissional e, no longo prazo, a ale-
gada (embora não comprovada) inferioridade da
mão-de-obra feminina em termos do seu “capital
humano” tenderá a desaparecer.
Da mesma forma, uma estrutura de incenti-
vos que ofereça às mulheres oportunidades de trei-
namento e o acesso a postos superiores na hierar-
quia, ou, em outros termos, o ingresso no mercado
primário de trabalho, deve provocar a diminuição da
sua rotatividade e taxas de absenteísmo, quebrando
o círculo vicioso que as condena às posições pior re-
muneradas.
Referências BibliográficasARROW, K. The theory of discrimination. In: ASHENFELTER, O. & REES, A. (eds.). Discrimination in Labor Markets. Princeton:
Princeton University Press, 1973.
__________. Models of job discrimination. In: PASCAL, A.H. (ed.). Racial Discrimination in Economic Life. Lexington: Lexing-ton Books, 1972.
ASHENFELTER, O. Discrimination and trade unions. In: ASHENFELTER, O. & REES, A. (eds.). Discrimination in Labor Markets.Princeton: Princeton University, 1973.
BARROS, R.P. et al. E. Gender Differences in Brasilian Labor Markets. IPEA, 1992. [Mimeo].
BECKER, G.S. A Treatise on the Family. Cambridge: Harvad University Press, 1981.
__________. The allocation of effort, specific human capital and differences between men and women in earnings andoccupations, Journal of Labor Economics, 3 (1): 1985.
__________. Human Capital. New York: Columbia University Press, 1975.
__________. The Economics of Discrimination. Chicago: University of Chicago Press, 1957.
BERQUÓ, E. et al. Arranjos familiares não-canônicos no Brasil. In: Encontro Nacional de Estudos Populacionais, vii. Anais, 1:99-135, 1990.
CAIN, G.G. Labor market discrimination. In: ASHENFELTER, O. & RAYARD, R. (eds.). Handbook of Labor Economics, 1 (13):1986.
CAMARGO, J.M. & SERRANO, F. Os dois mercados: homens e mulheres na indústria paulista. Revista Brasileira da Econo-mia, 37 (4): 435-48, 1983.
Censo Demográfico de 1980. Rio de Janeiro, IBGE.
Censo Demográfico de 1970. Rio de Janeiro, IBGE.
COSTA, I.N. et al. Estrutura das famílias e dos domicílios no Brasil: mudanças quantitativas e linhas de convergência. Estu-dos Econômicos, São Paulo, 17 (3): 367-403, 1987.
DARITY, W.A. Economic theory and racial economic inequality. Review of Black Political Economy, 5: 225-490, 1975.
DOERINGER, P.B. & PIORE, M.J. Internal Labor Makets and Manpower Analysis. Lexington: Heath, 1971.
EDGEWORTH, F.Y. Equal pay for men and women for equal work, Economic Journal, 431-457: 1922.
LUNDBERG, S.J. & STARTZ, R. Private discrimination and social intervention in competitive labor market. American Econo-mic Review, 73: 340-347, 1983.
Impulso_28.book Page 172 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 173
MADDEN, J.F. The persistence of pay differencials (The economics of sex discrimination). In: LARWOOD, L. et al. (eds.).Women and Work. Beverly Hills: Sage Publications, 76-114, 1988.
__________. The Economics of Sex Discrimination. Lexington: Heath and Co. 1973.
MARSHALL, F.R. The economics of racial discrimination: a survey. Journal of Economic Literature, 12: 849-871, 1974.
McCALL, J.F. The simple mathematics of information, job search and prejudice. In: PASCAL, A. (ed.). Racial Discriminationin Economic Life, Lexington: Lexingotn Books, 1972.
MINCER, J. Labor force participation of married women: a study of labor supply. In: National Bureau of Economic Research.Aspects of Labor Economics. Princeton: Princeton University Press, 1962.
__________. Schooling, Experience and Earning. New York, National Bureau of Economic Research, 1974.
O’NEILL, J. Role differentiation and the gender gap in wage rates. In: LARWOOD, L. et al. (eds.). Women and Work. BeverlyHills: Sage Publications, 1988.
OLIVEIRA, M.C. & BERQUÓ, E. A família no Brasil: análise demográfica e tendências recentes. In: Encontro Anual daANPOCS, XII, 1990.
OLIVEIRA, Z.L.C. A crise os arranjos familiares de trabalho urbano. In: Encontro Nacional da ANPOCS, XI, Águas de SãoPedro, 1987.
OMETTO, A.M.H. et al. A segregação por gênero no mercado de trabalho nos Estados de São Paulo e Pernambuco.Revista de Economia Aplicada, 1 (3): 393-423, 1997.
__________. Participação da mulher no mercado de trabalho: discriminação em Pernambuco e São Paulo. Revista Brasi-leira de Economia, 53 (3): 287-322, 1999.
PHELPS, E.S. The Statistical theory of racism and sexism. American Economic Review, 62: 533-563, 1972.
PNAD. Síntese de Indicadores da Pesquisa Básica da PNAD de 1981 a 1989. Rio de Janeiro: IBGE, 1990.
POLACHEK, S.W. Occupational segregation among women: theory, evidence, and prognosis. In: LLOYD, C.B. et al. (eds.).Women in the Labor Market. New York: Columbia University Press, 1979.
__________. Occupational segregation: an alternative hypotesis. Journal of Contemporary Business, 5: 1-12, 1976.
REIS, J.G.A. & BARROS, R.P. Desigualdade salarial: resultados de pesquisas recentes. In: CAMARGO, J.M. & GIAMBIAGI, F.(orgs.). Distribuição de Renda no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 1991.
SOUZA, P.R. Emprego, Salários e Pobreza. São Paulo: HUCITEC/FUCAMP, 1980.
SOWELL, T. Economics and black people. Review of Black Political Economy, 1: 3-21, 1971.
SPENCE, M. Job market signalling. Quarterly Journal of Economics, 87: 355-74, 1973.
STIGLITZ, J. Approaches to the economics of discrimination. American Economic Review, Papers and Proceedings, 63:287-95, 1973.
WEISSKOFF, F. Women’s place in the labor market. American Economic Review, 62 (5): 161-166, 1972.
WELCH, F. Human capital theory: education, discrimination, and life cycles. American Economic Review, 65: 63-73, 1975.
Impulso_28.book Page 173 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

174 impulso nº 28
Impulso_28.book Page 174 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 175
MEMÓRIA, HISTÓRIA E NOVAS TECNOLOGIASMEMORY, HISTORY AND NEW TECHNOLOGIES
Resumo O presente artigo pretende analisar as relações entre as práticas historiográ-
ficas e as novas tecnologias, buscando problematizar as mudanças que esses novos
meios de geração e transmissão de conhecimento trazem para essa disciplina. Cate-
gorias como tempo, espaço e memória são colocadas em discussão por esses meios.
Perguntas são lançadas a respeito, com a finalidade de propiciar uma reflexão e uma
discussão que levem os historiadores a meditar sobre essa etapa de mudanças episte-
mológicas.
Palavras-chave HISTORIOGRAFIA – SOCIEDADE TECNOLÓGICA – MEMÓRIA.
Abstract This article tries to analyze the relationship between historiographical prac-
tices and new technologies. It attempts to discuss the problem of the changes that
these new means for the generation and transmission of knowledge bring to the stu-
dy of history. Categories such as time, space and memory are put into question by
these new technologies. Questions are made in order to propitiate a reflection and
discussion that bring historians to consider this moment of epistemological changes.
Keywords HISTORIOGRAPHY – TECHNOLOGICAL SOCIETY – MEMORY.
EDUARDO ISMAEL MURGUIA
Doutor em Educação pelaUnicamp. Professor do Curso
de História da [email protected]
RAIMUNDO DONATODO PRADO RIBEIRO
Doutorando em CiênciasSociais da PUC-SP. Professor do
Curso de História da [email protected]
Impulso_28.book Page 175 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

176 impulso nº 28
prática historiográfica na sociedade contemporânea está aexigir importantes considerações no que diz respeito àforma como se pensa a si mesma. Nesse sentido, o quesignificaria fazer história, considerando que ela seja umelemento necessário para a construção de uma identidadecoletiva num momento em que o esquecimento aparececomo um novo valor?Longe de responder a esta pergunta, cuja complexidade
extrapolaria os limites de uma primeira aproximação, trataremos de apresen-tar alguns problemas a serem debatidos com a finalidade de contribuir paraa reflexão sobre o ofício do historiador.
A obra de Tucídedes1 que trata da Guerra do Peloponeso antevê umaconcepção de história fundamentada na narração de acontecimentos querompem o cotidiano, resgatando nestes acontecimentos o sentido de seremmerecedores da lembrança pela sua grandiosidade. Assim, o acontecimentoé revestido de um valor: por ser extraordinário na manifestação de coragemdo povo grego, torna-se exemplar e paradigmático, ou seja, torna-se pedagó-gico.
A história passa a ter um sentido, uma utilidade. Ela é valorizada en-quanto educa, apresentando para as gerações futuras modelos de conduta decaráter moralista. Nesse sentido, a história que nasce com Tucídedes aparece,desde o começo, instituída de uma prática pedagógica. Esse caráter pedagó-gico do que fazer historiográfico perpassou, com as conhecidas mudanças,parte considerável da história ocidental. Por exemplo, na Idade Média, a im-portância do acontecimento desloca-se para as biografias e crônicas. O cará-ter pedagógico da história manifesta-se nas hagiografias, ou vidas de santos,ques têm um traço providencial e escatológico, servem como modelos devida a serem seguidos pelos fiéis. Já na Renascença, continua a se revigorar aexcepcionalidade dos acontecimentos e das personalidades, desta vez políti-cas e artísticas.
No século XIX, assistimos importantes mudanças no ofício do histo-riador, tanto no objeto quanto na metodologia. Ainda que nesse momentose produzisse uma história calcada num fazer histórico muito próximo aos jámencionados, a noção de acontecimento individual extraordinário amplia-separa o estudo do fato social. Da mesma forma, o método passa a ser conside-rado como destituído de qualquer mácula subjetiva. A história torna-se ciênciaobjetiva, emprestando das ciências naturais critérios de aproximação para osocial. Porém, a objetivação do acontecimento torna-o manipulável, contro-lável, o que significa, também, pedagógico. Com efeito, toda vez que explicaas causas e os efeitos de um acontecimento, pode servir como parâmetro pre-ventivo e definidor de políticas públicas, como foi o caso das intervençõesnos espaços da cidade a partir de estudos históricos prévios.2
1 TUCÍDEDES, 1987.2 FUSTEL DE COULANGES, 1975.
AAAA
Impulso_28.book Page 176 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 177
A NARRATIVA DA HISTÓRIA
Outro aspecto a destacar do fazer historio-
gráfico nesse século está constituído pela ênfase
dada à discursividade da narração histórica. A histó-
ria sempre foi, em última análise, um contar de acon-
teceres – embora nem todo acontecer seja contado e
nem tudo o que se conta tenha acontecido. Conto/
acontecer são dois aspectos de um ato só, enquadra-
do dentro de um processo maior, o ato comunica-
tivo, e permeado pelas mediações subjetivas e cultu-
rais.
Privilegiada como sua característica, ou mes-
mo como parte da sua compreensão do escrever a
história, as produções dos Annales3 e, mais recente-
mente, da sua variante nomeada Mentalidades não
escapou desses ideais. Chega-se a posições como a
de Peter Gay,4 para quem a história é a maneira
como o historiador constrói os fatos, o que significa
que o estilo é a própria história.
Podemos, ainda, identificar duas formas de
narrar. A primeira é a narração mítica, que se dá sob
a forma de uma narrativa circular. Os acontecimen-
tos contados são arquetípicos: atemporais, tempo
sagrado que serve para reconstituir o tempo profa-
no, este sim mutável e cronológico. A narrativa mi-
tológica é metonímica: ela é o próprio tempo sagra-
do. O ritual narrativo não representa, ao contrário,
ele atualiza, o tempo da criação. Na medida em que
o tempo primeiro, o tempo da criação, é atualizado,
presente, passado e futuro fecham-se no círculo que
dilui as fronteiras que os separam.
Essa narrativa é oral.5 O tempo arquetípico só
existe no momento da recitação feita através da re-
petição. Daí o desenvolvimento de técnicas mne-
mônicas rigorosas, que faziam este tempo inalterá-
vel. Com o aparecimento da agricultura, novas per-
cepções do tempo e do espaço se colocam, como o
domínio do solo e a necessidade inerente a esse do-
mínio da previsão do tempo de plantar e de colher.
A partir desse fato, a complexidade nas relações
possibilita o aparecimento do Estado, que precisa de
meios que permitam o controle e o planejamento daprodução e da população pela escrita.
A segunda forma de narrar é marcada pela di-ferença entre a palavra e a escrita. Ela elimina a me-diação do sujeito-intérprete, possibilitando umanova mediação, do sujeito-leitor diretamente com otexto. Qualquer suporte onde o signo escrito se ma-nifeste, implica sempre um ordenamento linear quepressupõe a separação entre início, meio e fim. Issodetermina uma visão linear do tempo constituídapelo passado-presente-futuro, deixando para a his-tória a narração do passado. A escrita possibilita,também, a datação, na medida em que prevê o tem-po do acontecimento, do tempo em que se escreve,do tempo em que o texto será lido.
Se a história nasce com a escrita, lançamos aseguinte indagação: não seria contra-senso conside-rar a existência de uma história oral? Uma vez queo objeto da história é o passado – o que implicariauma cronologia, não no sentido de uma seriação dedatas, mas na ruptura de uma circularidade atempo-ral –, sua narração precisa de uma linearidade que in-sere sua existência num passado, num presente enum futuro.
Não esqueçamos, também, a importância dosuporte para a escrita. Todo texto, ao longo do tem-po, é materializado num objeto – argila, pedra, pa-piro, pergaminho, papel –, que permite a perenidadedo ato narrativo, tornando-se prótese da memória.A hermenêutica só é possível na medida em que umtexto permanece. A interpretação faz-se necessáriapara a leitura de um outro tempo no qual um textoaparece; isto indica o outro lado da historiografia. Oque fazer histórico não se esgota na escrita, mas seestende na recepção, na leitura, na interpretação dotexto. A história só existe enquanto entendidacomo processo comunicativo. Qualquer documen-to só adquire importância na medida em que é per-cebido, ou seja, na medida em que comunica.
A partir da segunda metade do século XX, as-sistimos o aparecimento de um fenômeno tecnoló-gico que mudaria radicalmente a forma de geração edifusão do conhecimento, assim como nossa per-cepção da realidade: as novas tecnologias da comu-nicação e a informática. No que se refere à informá-tica, os próprios experimentos feitos na década de
3 BURKE, 1991.4 GAY, 1990.5 LÉVY, 1993.
Impulso_28.book Page 177 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

178 impulso nº 28
50 sobre a linguagem e a inteligência artificiais apon-tam possíveis vias de compreensão a respeito dasmudanças por ela gerada no campo cognitivo. Sementrar na questão específica do campo epistemoló-gico da informática, valeria olhar as suas implicaçõespara o esquecimento do passado.
Se a linguagem e a memória constituem, elasmesmas, a narrativa histórica, de que forma seriaafetada essa narrativa com a criação de linguagens ememórias artificiais? Entendemos linguagem artifi-cial como a linguagem das linguagens naturais, ouseja, como uma metalinguagem, e a memória artifi-cial como a memória das memórias. Caberia inda-gar, então, qual o lugar a ser ocupado no campo his-toriográfico por essa metanarrativa.
Toda narrativa é formada por uma mensageme um código. Não existem mensagens de mensa-gens. Mas podem existir códigos de códigos, comoas metalinguagens. Desse ponto de vista, seria a in-formação uma metanarrativa? Sim, porque a infor-mática é capaz de transmitir qualquer mensagem,seja através da escrita, da imagem, do som e, mais re-centemente, do tato. E também porque é capaz detraduzir qualquer código em código binário. Senum primeiro momento, a informação foi entendi-da “no seu significado abrangente, isto é, de modoa compreender a comunicação, toda vez que não háinformação fora de um sistema qualquer de sinais efora de um veículo ou meio para transmitir esses si-nais. Em conseqüência, a nossa ênfase recairá sobreos aspectos sintáticos, formais e estruturais da orga-nização e transmissão de mensagens”.6
Posteriormente, o significado do conceito deinformação ficou restrito ao conhecimento gerado,armazenado e difundido pela computação. Numprimeiro nível, isto significa a ênfase na sintaxe noseu aspecto formal, pela qual mensagens são cons-truídas a partir de modelos ou programas que possi-bilitam infinitas combinações de dados com signifi-cados mínimos. As possibilidades de combinaçãotrazem consigo uma nova concepção de finitude, nosentido que, mesmo sendo os programas possibili-dades limitadas, nosso tempo torna-se insuficientepara esgotá-las.
Num segundo nível, isso significa também apeculiaridade que o suporte da informação traz con-sigo. Como vimos anteriormente, a durabilidadedos suportes da escrita e o fato de serem superfíciesplanas determinavam sua linearidade formal expres-sada na sintaxe, que por sua vez determinava a line-aridade expositiva (narrativa) das mensagens. Coma informática, desaparece a idéia do suporte. Se pen-sarmos que a informação nada mais é que do sinaiseletrônicos descontínuos, teríamos que ela se mani-festa intermitente e fugazmente. A informação,nesse sentido, torna-se uma latência infinita, ouuma manifestação fugidia e efêmera. O que significatambém que, pelo fato de não ter suporte, ela podeter qualquer suporte. Através dos bytes, a informa-ção pode ser armazenada em chips, manifestando-se nos pixels da tela ou na impressão. É justamenteesta flexibilidade, ou esta imaterialidade, que torna ainformação veloz, bastando centésimos de segun-dos para intercambiar, alterar, diluir, combinar, mis-turar mensagens.
Contraditoriamente, a miniaturização dasmemórias dos computadores possibilita a maximi-zação ad extremis da capacidade de armazenamento.Se nossa memória é seletiva pelo fato de ser limita-da, a memória da informática é permissiva por serilimitada, o que significa que o excesso de dadosguardados é, ao mesmo tempo, nenhuma mensa-gem lembrada. Memórias sem lembranças, infor-mações sem mensagens, significantes sem significa-dos, a diluição do contexto.
MEMÓRIA E NOVAS TECNOLOGIAS
A memória sempre desempenhou um papelfundamental na explicação do desenvolvimento dainteligência. A partir dela, experiências podem seracumuladas, readaptadas ou modificadas. Os gregosa chamavam de Mnemosine, filha do Céu e da Terra,amada por Júpiter durante nove noites, e que, de-pois de nove meses, deu à luz as nove musas: a dapoesia, a da música, a da comédia, a da eloqüência, ada persuasão, a da sabedoria, a da história, a da ma-temática e a da astronomia. Desta forma, os gregospressupunham a memória como fundamento es-sencial dessas valorizadas atividades.6 PIGNATARI, 1991, p. 12.
Impulso_28.book Page 178 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 179
A Igreja, que sempre valorizou a separaçãoplatônica entre corpo e alma, atribuía à alma três fa-culdades de entendimento: memória, razão e von-tade. Um exemplo interessante acerca da idéia dememória nos inícios da modernidade é oferecido naobra de Matteo Ricci, O Palácio da Memória.7
Quando o Padre Ricci aprimora técnicas mnemô-nicas que vinham desde a Antigüidade clássica, atra-vés da visualização de nomes e conceitos em nichosvisuais específicos, procurava sistematizar as lem-branças dos dados da realidade. A própria idéia damemória como um palácio, ou seja, como prédio,significa que cada um dos cômodos, cantos, era partede um todo maior. A memória precisava ser ordena-da, requisito necessário para uma maior eficiência noacúmulo de conhecimentos.
Outro aspecto a mencionar no Palácio daMemória é o referente ao emprego da memória vi-sual. Lembremos que as técnicas do Padre Ricciapontam para o uso da imagem como um referenteque nos remete a dados cognitivos. Em última ins-tância, essas imagens servem como espécies de “ca-bides” onde os dados eram pendurados. A fragmen-tação a que podem levar as lembranças visuais erasuperada justamente por esse todo maior ao qualnos referimos e que era representado pelo palácio.Assim vemos que, tal e qual a escrita, o método doPadre Ricci apresenta uma continuidade com come-ço, meio e fim. Mesmo porque essa era uma formade ordenamento constituído historicamente a partirde uma concepção temporal também histórica. Essemétodo só servia enquanto conexão ordenada deinformação contida nas imagens, também previa-mente dispostas seguindo uma seqüência dada pelosujeito.
Com a informática, novas questões se colo-cam. O acesso à memória da máquina é feito de ma-neira aleatória, independe de seqüência e de ordempara acessá-la. A informação contida é fragmentadanão enquanto programa, mas pelas infinitas combi-nações que o ordenamento lógico, elementar, doprograma permite. A lembrança do computador éaleatória, qualquer dado serve a qualquer momento,sem se importar com a ordem ou a seqüência. Aliás
se alguma seqüência pode ser feita, ela é dada pelosujeito, e não mais pelos objetos. O que significaum ordenamento subjetivo e relativo, e não maisabsoluto.
A memória da informática se prefigura comopeças de quebra-cabeças, com a diferença de que osquebra-cabeças tradicionais só podem constituiruma imagem. A lembrança da informática são peçasde quebra-cabeças que permitem, simultaneamente,a criação de múltiplas imagens. Não possuindo su-porte, e sendo capaz de conter todas/nenhumamensagem, os dados tornam-se flexíveis e adaptá-veis a qualquer outro suporte ou mensagem.
Enquanto o método do Padre Ricci aparececomo uma necessidade para ampliar os limites denossa memória, a memória nas novas tecnologiasnão precisa de métodos de lembranças. Paradoxal-mente, a sociedade da memória de ampliação ilimi-tada, contraditoriamente destituída de lembranças,permite a negação do homem como suporte de suamemória. Se, antes, a memória estava em nós – e daío por quê de desenvolver métodos mnemotécnicos –, hoje, ela é separada do sujeito, tornando-se virtual.Contida numa máquina, a memória se objetiva, seafasta do sujeito.
Embora nossa memória seja uma, ela se adap-ta a diferentes circunstâncias. Entendidas comoexercício da memória, as lembranças de fatos mar-cantes, por qualquer motivo, ao longo de nossas vi-das, sempre permanecerá, porque é o único meioque permite manter a identidade de cada um. Já aslembranças de um conhecimento constituído, cria-do, fora de nós e de nossa emotividade é um exer-cício mais complexo. O conhecimento (dentro doqual incluímos a história) é ainda mais complexo,porque guardá-lo na memória requer aprendizado(atenção, abstração e repetição).
Assumindo que o conhecimento seja cumu-lativo, um sujeito sem memória é um sujeito nãocognoscente, pois, para conhecer, toda vez faz-se ne-cessário a memória. O conhecimento fundamenta-do somente na razão, entendido como exercício ló-gico, e que a informática potencia, é um conheci-mento incompleto. O conhecimento precisa damemória e, nesse sentido, as novas tecnologias atu-alizam algumas de suas faculdades: nossas lembran-7 SPENCER, 1986.
Impulso_28.book Page 179 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

180 impulso nº 28
ças são aleatórias, da mesma forma que as tecnolo-gias. Em outras palavras, estaríamos presenciando onascimento de um novo tipo de conhecimento,para o qual as tecnologias da informação atualizame refletem as práticas da memória.
Apesar dessa possível vantagem, uma novacontradição aparece no campo cognitivo: se, porum lado, a memória eletrônica privilegia a razão, poroutro, ela a nega toda vez que a fragmentação ignoraa discursividade lógica formal do pensamento racio-nal. Por exemplo, categorias de pensamento comocrítica e interpretação são dois pressupostos queesse novo tipo de racionalidade desconhece. Outraquestão: a informática se adapta também a um ou-tro tipo de conhecimento que não o discursivo: oconhecimento sensorial, ou as formas de conheceratravés de nossos sentidos. Isto se estabelece com oaparecimento da multimídia, que possibilita a inte-ratividade do sujeito com o texto, seja escrito ou emimagens e sons. Aqui, o meio é fundamental desdeo ponto de vista da manipulação, se tivermos emconta que antigos canais, como o livro ou o quadro,impossibilitavam qualquer alteração posterior.
Embora os chamados meios de comunicaçãotenham se difundido anteriormente às novas tecno-logias, com a multimídia e o uso do computador pe-los veículos de comunicação de massa, a separaçãoepistemológica entre eles e as novas tecnologias ine-xiste.8
Mas o que interessa resgatar para nossa dis-cussão é o fato de que esses novos canais privilegiamum conhecimento sensorial, mais do que o racional.O apelo constante às imagens, ao som, em últimainstância, à mixagem desses dois elementos, possi-bilita uma maior integração dos nossos sentidos.Além do mais, esses meios possibilitam maior inte-gração e envolvimento, seja pela manipulação, sejapela interação com as mensagens que difundem.
Além de mudanças na recepção e na criaçãopor meio da interatividade, as novas tecnologiastambém mudam um outro aspecto da criação,como o fenômeno recente da criação de imagens esons digitais. Isso nos remete ao fato de considerarque tanto a imagem quanto o som eletrônicos dei-
xam de ser representativos. Eles não representammais um objeto ou um sentimento previamenteexistente. Os programas ou modelos matemáticosse antepõem aos objetos. Nesse sentido, a imageme o som digitais simulam a realidade, mesmo porquea precedem.9
Falar acerca das novas tecnologias e das mu-danças que elas acarretam torna-se tarefa difícil de-vido às rápidas mudanças que elas provocam aomeio social e no interior delas mesmas. Nos últimosquinze anos, temos assistido, quase sem perceber,rápidas variações nas novas tecnologias, tanto noque se refere à sua potencialidade, quanto no quediz respeito às relações homem-máquina (suas in-terfaces). Alguns anos atrás teria sido inimaginável apopularização do uso desses meios. Da mesma for-ma, hoje é praticamente impossível prever o queacontecerá.
HISTÓRIA E NOVAS TECNOLOGIASPerante o anteriormente exposto – as formas
como as novas tecnologias criam e difundem conhe-cimento, e o caráter pedagógico do que fazer histó-rico –, caberia perguntar de que forma a história estáconseguindo lidar com esta contemporaneidade.
A informática coloca questões no âmbito doofício do historiador, como esse referente à memória:
Sistemas memoriais de acesso direto e deacesso seqüencial repetem substancialmentea proposta dos labirintos: também nessescasos trata-se de deslocarmo-nos (física oumetaforicamente) dentro de estreitos corre-dores. (...) No caso do sistema de acesso di-reto, podemos falar de labirinto unicursal: oobjetivo é atingível desde o início e os errosnão são possíveis (salvo o possível enganona auto posição do próprio objetivo); vice-versa, no caso do sistema ramificado, esta-mos diante de um Irrweg, conjunto dotadode cruzamentos múltiplos, de um só cami-nho aberto e de muitos caminhos fechados.Curiosamente, a única forma que não sepropõe, pelo menos do ponto de vista doacesso, é o rizoma (ou a rede) dentro doqual os ramos possíveis são infinitos.10
8 NEGROPONTE, 1995.
9 COUCHOT, 1993.10 COLOMBO, 1991, p. 40.
Impulso_28.book Page 180 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 181
Entendemos que a memória dos grupos sociais,por definição, é labiríntica. Essa memória se consti-tui pelo acúmulo de fatos, pessoas, sonhos, mas arecuperação de qualquer um deles precisa de umaordem para ser comunicada e acessada. Por exem-plo, o percurso que fazemos para nos lembrarmosdas capitanias hereditárias na colonização brasileiraexigiria um caminho: saber em que momento (cro-nologia) aconteceu, lugar, contexto, enfim, mínimasreferências que permitam nos aproximarmos delas.
Dentro do labiríntico caminho da memória, ahistória se coloca como ordenadora das lembrançasa partir de registros e vestígios do passado, sendoque esses documentos exigem uma organização,possibilitada pelos arquivos. Estes devem ser vistoscomo sistematização dos documentos, seja qual foro seu suporte. Em suma, a história trabalha com aidéia de um ordenamento possível de suas fontes –linear, lógico, formal, seqüencial – como forma detornar legível a memória.
Ao se tornar legível, a memória faz-se histó-ria. É desta perspectiva que se deve compreender aidéia da discursividade da história. A memória, ma-terial com o qual o historiador lida, só é legível pelasua “tradução” em palavras, mais uma vez enquantodiscurso. Discurso maleável, manipulável, normali-zado, porém disposto a ser arranjado de forma di-ferente por cada uma das pessoas (estilo) num su-porte físico (documento).
Segundo Colombo, com a informática, esta-ríamos assistindo a um novo tipo de acesso à me-mória, que não é a linearidade no caos do labirinto,mas a memória entendida como rede. Nesse senti-do, não se tem a idéia de entrada nem impedimen-tos no labirinto. Com a idéia de rede, todos os da-dos estão conectados: a partir de um é possível en-trar em todos, e nenhum deles impede de se entrarnos outros. A memória-rede não precisa de uma or-dem prévia, é o próprio movimento desnorteado,no sentido de fragmentado.
Num arquivo informatizado, o que existe sãoregras possíveis de combinação de dados. O docu-mento da informática são os próprios dados. Oconceito de dado remete-nos a peças de um conhe-cimento não mais orgânico, mas atomizado. Essaspeças são passíveis de serem combinadas da forma
que o usuário bem entender. O acesso pode ser fei-to de forma simultânea, enquanto que, feito ao mes-mo tempo, elimina-se uma ordem de entrada.
Quando McLuhan11 afirmou que o meio eraa própria mensagem, estava querendo destacar a in-dissociabilidade entre o discurso e o canal por meiodo qual esse significado se manifesta. A história éconstruída a partir da linguagem, como qualqueroutro tipo de saber. Sendo a escrita a materialização,o registro, a eternidade da linguagem, é fácil enten-der a história e sua relação com o documento escri-to. A discursividade da história é constituída pelalinguagem; ela tem um percurso temporal, linear,determinado pelo processo da leitura/escrita.
O meio informático determina um outro tipode conhecimento, não mais uma construção cogni-tiva na qual as partes são indissociáveis. Aparece o“conhecimento dado”, aquele que é pontual, inde-pendente, que se basta, embora escrito, visto, ouvi-do ou tocado. Estaríamos perante um novo fenô-meno sobre o qual os historiadores ainda não refle-tiram, uma história textual, apesar de não mais de-terminada pelo suporte?. As mudanças ocorreramtão rapidamente que nos pegaram despreparados.Despreparo talvez explicado pelo preconceito, oucalcado numa idéia ideologizada da informática porparte daqueles que a viam como mais uma estratégiado capitalismo selvagem, perdendo a dimensão dofenômeno histórico em que elas se inseriam, ou seja,o desenvolvimento tecnológico que já se anunciavano século XIX. No cerne do desenvolvimento do ca-pitalismo tecnológico-industrial do século XIX já seanunciava a fantástica capacidade de adaptação dessafase de capitalismo às contradições da história e seudeslocamento dela.
As novas tecnologias e o tipo de sociedade aque estão dando lugar, através de mudanças cogni-tivas e perceptivas, fazem com que desapareça a bar-reira que delimitava passado e presente. E acrescen-tam o futuro dentro de um “eterno presente”. En-tendemos que a separação de presente e passado es-teve sempre atuante na nossa percepção do tempo,e determinava o objeto de estudos de muitas áreasde conhecimento. Por exemplo, a história ou a his-
11 McLUHAN, 1964.
Impulso_28.book Page 181 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

182 impulso nº 28
tória da arte lidando com o passado, ou a sociologiae a crítica de arte lidando com o presente. A infor-mática, os meios de comunicação e as tecnologiasópticas (microscópios e telescópios atômicos) defato alteraram a nossa percepção da realidade, acres-centando um novo elemento, a velocidade.12
Com o aparecimento da teleconferência, dosradares, dos satélites que possibilitam a presençainstantânea de pessoas, lugares e acontecimentos,elimina-se a noção de espaço. O espaço, como lugarde separação entre culturas, é transposto por elas.Um exemplo gritante foi a Guerra do Golfo, assis-tida momento a momento em todos os cantos domundo.
As novas tecnologias geram uma cultura queelimina também a noção de tempo. Isto se expressa,num primeiro nível, numa cultura narcisista, quenão quer visualizar estragos do passado nem na fi-sionomia (spas, cirurgias plásticas) nem na paisagemurbana (prédios ultramodernos). O passado enver-gonha, depreciado por sua associação ao velho, aoatrasado, ao vetusto. E, num segundo nível, porqueo conhecimento narrativo pressupunha a noção depresente, de passado e de futuro, devido a ele mes-mo transcorrer no tempo e, portanto, precisar desseengajamento cronológico; enquanto que o “conhe-cimento dado”, pelo fato de bastar a si mesmo, nãonecessita dessa divisão temporal e torna-se eterna-mente presente.
E, num terceiro nível, porque, eliminando-sea noção de espaço, necessariamente elimina-se a no-ção de tempo, uma vez que estas duas categorias sãoindissociáveis toda vez que elas definem qualquertipo de existência.
A simultaneidade acaba com o passado. Istosignifica que, presentificando o passado na tela, atra-vés de imagens, elas se tornam presentes. E esta si-multaneidade acaba com a idéia de futuro, na medi-da em que tais tecnologias criam o sentimento detudo ser possível. O futuro entendido como possi-bilidade como meta a ser alcançada, como fim a serconseguido, não tem mais validade, pois elas nosdão a sensação de que é possível tudo: é a cultura daonipotência.
Se, antes, algo era verdadeiro na história, issoocorria pelo fato de ser explicado num tempo, numlugar determinado, devidamente documentado. Ocritério de verdade tinha de ser demonstrado. Hoje,as novas tecnologias constituem-se no aval suficien-te para depositarmos nossa confiança nas mensa-gens por elas geradas e transmitidas. O rigor cientí-fico é trocado pela eficácia tecnológica.
No caso específico do computador, ele ofere-ce possibilidades infinitas de armazenamento de in-formações. Ao contrário do que ocorria antigamen-te, quando precisávamos de enormes áreas físicaspara guardar documentos, nos dias atuais é possívelfazê-lo em poucos milímetros quadrados. Porém,muita informação cai no pouco conhecimento. Oconhecimento histórico-narrativo, repetimos, éfundamentalmente humano: sintético, analítico,abstrato, seletivo, relacional etc. Já a memória muitopróxima do “conhecimento dado”, enquanto ato delembrança, pode delegar a função de armazenamen-to de dados, experiências, acontecimentos etc. à me-mória do computador.
CONSIDERAÇÕES FINAISPerante as inquietações apresentadas, encon-
tramo-nos com uma prática historiográfica que en-fatiza o conhecimento narrativo, esquecendo o pro-blema das novas tecnologias ou limitando-se, emmuitos casos, a reproduzir a ideologia vazia e oca dainformática como sinônimo de modernidade. Achegada do computador significa, antes de mais na-da, saber lidar com um novo tipo de conhecimento,que, de certa forma, a televisão já anunciava, no sen-tido de imediatez e simultaneidade.
A historiografia tem sérios problemas a pen-sar, e não somente pelo fato de estar lidando comnovos tipos de práticas cognitivas e memorísticas, oque significaria a mudança de uma narrativa tempo-ral por uma narrativa espacial: construída a partir depontos nodais. Isso representa, também, a possibi-lidade de estar lidando com novos paradigmas, nãomais seqüenciais, mas velozes e simultâneos. Esse éum problema delicado, uma vez que não dá para es-quecer a tradição no objeto e no ofício do historia-dor construída e sustentada ao longo de mais dedois mil anos: a historicidade da historiografia.12 VIRGILIO, 1993.
Impulso_28.book Page 182 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 183
Acreditar na historicidade da historiografia significaaceitar as possíveis mudanças de suas práticas e su-portes.
Acreditamos que respostas a essas perguntassó poderão ser tentadas e discutidas à luz de um
princípio, este sim imutável: a historicidade da his-tória como disciplina. Cabe reconhecer esses acon-tecimentos como fatos inegáveis, com os quais ahistória terá que lidar desde já – o que significa queestará lidando com fenômenos históricos.
Referências BibliograficasBURKE, P. A Revolução Francesa da Historiografia: a Escola dos Annales (1929-1989). São Paulo: Edunesp, 1991.
COLOMBO, F. Os Arquivos Imperfeitos: memória social e cultura eletrônica. São Paulo: Perspectiva, 1991.
COUCHOT, E. Da representação à simulação. In: PARENTE, A. (org.) Imagem-Máquina. A era das tecnologias do virtual. Riode Janeiro: Ed. 34, 1993.
FUSTEL DE COULANGES, N.D. A Cidade Antiga. Estudos sobre o culto, o direito, as instituições da Grécia e Roma. São Paulo:Hemus, 1975.
GAY, P. O Estilo na História: Gibbon, Ranke, Macaulay, Burckardt. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
LÉVY, P. As Tecnologias da Inteligência. O futuro do pensamento na era da informática. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993.
McLUHAN, M. Understanding Media. New York: McGraw-Hill, 1964
NEGROPONTE, N. A Vida Digital. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
PIGNATARI, D. Informação, Linguagem e Comunicação. São Paulo: Cultrix, 1991.
SPENCER, J. O Palácio da Memória de Matteo Ricci. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.
TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. Brasília: Ed. UnB, 1987.
VIRGILIO, P. O Espaço Crítico e as Perspectivas do Tempo Real. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993.
Impulso_28.book Page 183 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

184 impulso nº 28
Impulso_28.book Page 184 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 185
Resenhas
Impulso_28.book Page 185 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

186 impulso nº 28
Impulso_28.book Page 186 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 187
Dançando com o Estrangeiro: a valsa das relações internacionais do BrasilO Estudo das Relações Internacionais do Brasil
PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
São Paulo: Unimarco Editora, 1999, 304p., R$ 25,00, ISBN 85-86022-23-3
xperiência e experto são palavras inter-relacionadas, ambasderivadas do verbo latino que significa “submeter a teste”.O conhecimento se desenvolve ao longo do tempo pormeio da experiência. Quando se diz que uma pessoa é ex-periente, supõe-se que ela tenha um profundo conheci-mento de um dado assunto, por ter sido testada e provadapela experiência.No campo das relações internacionais, pode-se qualificar
Paulo Roberto de Almeida como experto. Editor adjunto da Revista Brasi-leira de Política Internacional, diplomata de carreira e autor de diversos livrosna área, ele revela larga desenvoltura ao se propor a apresentar o tema de for-ma didática e, de certo modo, enciclopédica.
O livro aborda aspectos econômicos, referenciadores, em vários mo-mentos, das motivações e aspirações de ampliação da inserção do Brasil nocenário internacional. Faz ciência política, ao analisar as transposições e reba-timentos dos diversos momentos da política brasileira na forma de interaçãodo país com o contexto externo. Abrange, ainda, questões vinculadas aocampo do direito econômico internacional e à sociologia do desenvolvimen-to, buscando interpretar de forma holística a inserção internacional do Brasilem seu período de existência como nação independente.
No início, o autor apresenta, em breve narrativa, a evolução econômicada nação, utilizando-se de elementos comparativos com outros países, cen-trando a análise no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e do PIB percapita. Esta matéria é trabalhada de forma superficial e rápida, ressaltando-se,contudo, que este tratamento é aplicado de forma anunciada e deliberada.
Segue-se uma proposta de periodização das relações exteriores do Bra-sil, na qual o autor é bastante feliz ao tecer uma matriz que combina elemen-tos sociológicos, econômicos e diplomáticos para corretamente definir e de-linear os períodos, que se constituem, em si mesmos, categorias de análise.
ANDRÉ SATHLER GUIMARÃES
Economista, mestre emSistema de Informações
Gerenciais pela PUC-Campinas.Chefe de gabinete da
reitoria da UNIMEP
EEEE
Impulso_28.book Page 187 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

188 impulso nº 28
Esta parte é completada por quadros bastante eluci-dativos e didáticos, que se inserem na proposta ori-ginal da obra.
Ele caminha, então, para um estudo das im-plicações da macroestrutura legal do país sobre suasrelações exteriores, fundamentado em pesquisa ex-ploratória das versões da Constituição Federal eseus desdobramentos em termos de relacionamen-to externo. O autor vale-se de uma combinação devisão panorâmica com pontos de aprofundamento,como quando discute as restrições e potencialidadespara as relações internacionais advindas da escolhada manutenção do presidencialismo como sistemade Governo no Brasil.
O autor entra, aí, no que pode ser considera-do, em conjunto com a vastidão de citações biblio-gráficas, a melhor contribuição da obra, ao fazeruma espécie de epistemologia do estudo das rela-ções internacionais do Brasil, apontando a evoluçãodesse tema como campo do saber e merecedor deenfoques e pesquisas específicos. São apontadas asgrandes contribuições acadêmicas feitas ao tema,bem como os pontos que requerem maior cobertu-ra de pesquisa e produção intelectual. Este pontoconstitui-se em rica base de sugestões para outrostrabalhos e abordagens sobre o assunto.
Concluindo a obra, apresenta uma cronolo-gia, sem novidades factuais, até mesmo pela opçãodo autor por uma visão histórica não revisionista.Ao final, agrega várias páginas de bibliografia, quesão uma contribuição valiosa para estudiosos e inte-ressados na área.
Ao término da leitura, pode-se visualizar otema de forma abrangente e fica-se, ainda, com umconjunto de pistas para verticalização do estudo. Olivro será, sem dúvida, de grande utilidade para dis-ciplinas que se propõem a fazer uma introdução ex-ploratória ao tema e subsidiar o início de pesquisasfuturas.
Ressalta-se, ao longo de todo o trabalho, oque pode ser qualificado como um “viés” otimista,característico de quem deseja enxergar o Brasil uti-lizando óculos de esperança, que revelam um paísque se insere de forma dialógica e independente nocenário internacional.
Por fim, destaca-se que o livro não se encerraem si mesmo, sendo complementado por um site,mantido por Almeida, com outros materiais sobre otema e com a possibilidade de contato direto com oautor, o que reflete uma concepção moderna e in-terativa da obra.
Impulso_28.book Page 188 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 189
A Quem Servem as Psicologias?Guardiães da Ordem: uma viagem pelaspráticas psi no Brasil do “milagre”
CECÍLIA M. B. COIMBRA
Rio de Janeiro: Editora Oficina do Autor, 1995, 387p., R$ 35,00
autora, graduada em História e Psicologia, é professora-adjunta de psicologia na UFF e presidente do Grupo Tor-tura Nunca Mais-RJ. Era estudante na década de 70, perío-do mais duro do regime militar, quando foi presa peloDOI-CODI/RJ. Sua experiência pessoal de militância e re-sistência política está presente em cada página do livro.O trabalho “pretende ser um levantamento do que foramalgumas práticas ‘psi’ na década de 70 no Brasil e um re-
pensar sobre elas: a que demandas atenderam e ao mesmo tempo produzi-ram e quais foram algumas de suas gêneses históricas” (p. V), realizando umaanálise institucional das instituições psicanálise, psicodrama e terapias corpo-rais, além de outras ligadas ao Movimento do Potencial Humano, “apontan-do o que elas têm instrumentalizado e que outras instituições, dispositivos,modelos e subjetividades têm sido por elas fortalecidos e produzidos” (p. IX).
Como “matéria-prima” para essa tarefa complexa e grandiosa, utilizou-se de encontros (173 entrevistas) com profissionais ‘psi’ – alguns dos quaisex-presos políticos – do eixo Rio-São Paulo e de consultas a materiais diver-sos: jornais e revistas da época – da grande imprensa e especializados –, regi-mentos e estatutos de estabelecimentos extintos e “oficiais” (nos psicanalíti-cos, não sem obstáculos), artigos e teses sobre os movimentos psicanalítico,psicodramático e do Potencial Humano, bem como algumas obras de teóri-cos, para “compreender muitos dos conceitos citados nas entrevistas” (p. IX).
Entretanto, não pense o leitor que terá acesso a um acervo de fofocas,pois nada além do já publicado é revelado sobre suas “fontes” (a lista dos en-trevistados encontra-se em Anexo, pp. 370-371). O texto flui carregado deuma presença intensa, porque não busca uma reconstituição histórica objetivae neutra, totalizadora e, portanto, amarelada pelo tempo, mas aquela que re-vela o passado como uma série de potencialidades ativadas pelo “momentoem que se está”: “o lugar de onde se olha” é produto que remete a outra “redede acontecimentos”, nova história.
Sua análise toma de empréstimo categorias do marxismo, relativas à for-mação social capitalística e a de A. Gorz, no que tange ao estudo da divisão
EDSON OLIVARI DE CASTRO
Psicanalista, professor daFaculdade de Psicologia da
UNIMEP, doutorando emPsicologia Clínica pela PUC-SP.
Sócio-fundador da AssociaçãoLivre – Instituto de Cultura ePsicanálise – Piracicaba-SP
e-mail:[email protected]
AAAA
Impulso_28.book Page 189 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

190 impulso nº 28
social do trabalho e à crítica aos especialismos – umdos fios condutores de seu trabalho. Também recorrea categorias pertinentes aos pensamentos de F.Guattari, referentes às produções de subjetividade eprocessos de singularização e de M. Foucault, con-cernentes à genealogia das práticas ‘psi’ e aos efeitosde sua difusão: que poderes, que saberes, que obje-tos, que sujeitos se produzem por tais práticas. Oreferencial Institucionalista francês fornece-lhe, ain-da, uma série de ferramentas que, no decorrer dotrabalho, a autora tem o cuidado de apresentar aoleitor pouco familiarizado: “analisador”, “implica-ção” etc. Eis, em suma, de onde ela retira a “chave deleitura” que lhe é útil em determinados momentos,aquela que lhe serve como instrumento de luta, quefunciona para a relativização do seu próprio olhar epara a “desnaturalização” de verdades históricas.
Inicialmente, Cecília Coimbra discute algunsprocessos de subjetivação nos anos 60, 70 e 80 noBrasil. Do começo do período abrangido, revisita,entre muitos outros, os CPCs da UNE, o “fantasmado comunismo que rondava as famílias brasileiras” –que culminou nas famosas Marchas das Famíliascom Deus e pela Propriedade – e o golpe militar em64; a Jovem Guarda, trazendo o “protesto consen-tido”; a contracultura do Cinema Novo e do Tropi-calismo e ainda a emergência de movimentos estu-dantis de esquerda – a guerrilha clandestina, como aALN e o VPR – e o AI 5 em 68; os acontecimentos noinício dos anos 70, como, fora do Brasil, o movi-mento hippie e a guerra do Vietnã e, aqui, a criaçãode aparelhos repressivos como os Esquadrões daMorte, a cultura ufanista do “ame-o ou deixe-o”, do“país que vai pra frente” etc.
Sabemos que não há cultura sem um certomodo de subjetivação que funcione segundo seuperfil, assim como, reciprocamente, não há subjeti-vidade sem uma “cartografia” cultural que lhe sirvade guia. É com base nesse pressuposto que a autoranos apresenta, por exemplo, “duas categorias” – ouperfis subjetivos – que foram produzidas e dissemi-nadas naquele período: “a do ‘subversivo’ e a do‘drogado’, ligadas à juventude da época” (p. 29).
A primeira caracteriza-se por ser perigosa eviolenta – vindo acompanhada de adjetivos comfortes implicações morais, como criminoso, traidor,
ateu etc. – e é concebida como uma ameaça políticaà ordem vigente. A segunda – associada a um planointernacional para minar a juventude, presa fácil deideologias “exóticas”– é concebida como doença,apresenta problemas psicológicos graves e sérios: porsuas atitudes em relação ao trabalho (foge às suasresponsabilidades) e à família (questiona seus proje-tos de ascensão social), tem hábitos e costumes des-viantes, moralmente nocivos.
Acompanha esse discurso um outro – tam-bém “comprado” pela subjetividade hegemônica –,no qual a família passa a ser culpabilizada por seus fi-lhos desviantes (subversivos ou drogados). Cadamembro passa a ser responsabilizado individual-mente, enfatizando-se, desse modo, a dimensão daprivacidade e o intimismo, esvaziando a atenção e aatuação na esfera da vida pública – naquele momen-to, em pleno estado de terror.
Para tal crise – das famílias –, há que se pro-curar ajuda de “especialistas competentes”: investe-se, assim, no psicologismo, que fornece uma legiti-mação “científica” à tecnologia do ajustamento.Data dessa época o florescimento assustador doscursos de psicologia, principalmente os da rede pri-vada de ensino, marcados pelo discurso da “neutra-lidade”, seja ela a da psicologia experimental (comseu tecnicismo), a da psicanálise (com seu “setting”asséptico) ou a da psicologia social, com suas técni-cas de dinâmica de grupo de inspiração norte-ame-ricana. Mera coincidência?!
Esse, porém, é só o começo do trabalho. Noscapítulos seguintes, Coimbra adentra em território‘psi’: percorre as histórias instituídas e instituintes,do eixo Rio-São Paulo, de Sociedades, Institutos,Associações etc. de psicanálise (cap. II), psicodrama(cap. III) e daquelas ligadas ao Movimento de Po-tencial Humano – “aconselhamento rogeriano”,gestalt-terapia e “neo-reichianas” (cap. IV) – até achegada da análise institucional no Brasil, nos anos80 (cap. V).
Pinçando no final de cada capítulo, como si-tuações “analisadoras”, algumas de suas persona-gens, de seus “cismas”, modismos, alianças, algumasde suas “alternativas”, figuras e paisagens alçadas aideais etc., nos faz ver quais “subjetividades” natu-ralizam, que “normalidade” reproduzem, quais prá-
Impulso_28.book Page 190 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 191
ticas sacralizam, que preconceitos veiculam, que “re-lações de poder” ocultam, as singularidades que ex-cluem, os sonhos que desqualificam, as formas deluta que capturam.
É um livro admirável: sem propósitos dogmá-ticos nem relativismos céticos, não compõe com orefrão do “não tem jeito”. A autora também percor-re a história dos movimentos que se propunham“instituintes”, questionadores, críticos, de resistên-cia e luta contra os interesses dos poderosos. Con-tudo, não se cansa de advertir para o perigo da trans-formação desses movimentos em automatismosque se conjugam à ordem vigente, que se esterili-zam.
Como diz Maria Helena Souza Patto naApresentação do livro, “é sempre animador encon-trar psicólogos atentos à ciência que praticam” (p.I). Trabalhos como este não nos deixam “esquecer”nossa condição humana: somos situados e datados –
e isto se imprime, indelével como tatuagem, emnossas obras.
É um texto muito bem-vindo, num momen-to de assunção do paradigma ético com o qual sepretende enfrentar o “cinismo consensual”, a natu-ralização da violência e da corrupção, numa culturaem que prevalece o narcisismo das pequenas diferen-ças. É especialmente recomendado a todos nós, en-volvidos com a formação profissional do psicólogo,empenhados na construção de um projeto pedagó-gico mais comprometido com a realidade social dosnossos concidadadãos.
De suas lições com Deleuze e Guattari, porfim, indica a autora que se o leia como quem “nãoirá procurar nada a compreender num livro, masperguntar com o quê ele funciona, em conexão como quê ele faz ou não passar intensidades, dentro dequais multiplicidades ele se introduz e metamorfo-seia as suas” (p. 351).
Impulso_28.book Page 191 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

192 impulso nº 28
Impulso_28.book Page 192 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 193
Compromisso com a atitude freudianaPOR QUE A PSICANÁLISE?
ELISABETH ROUDINESCO
Jorge Zahar Editor: Rio de Janeiro, 2000. Trad. Vera Ribeiro, 163p., R$ 23,00, ISBN 85-7110-540-5Título original: Pourquoi la Psychanalyse? (Libraire Arthème Fayard, Paris, 1999)
or meio desta obra, que figurou em diversas listas de best-sellers na França e representa uma defesa apaixonada dapsicanálise, a autora, historiadora e psicanalista, procuraresponder a três questões que considera básicas na atua-lidade: 1. por que consagrar tanto tempo ao tratamentoda fala, se remédios apresentam efeitos mais imediatos?;2. as construções freudianas não estariam reduzidas a cin-zas pelos teóricos do cérebro-máquina?; e 3. nessas con-dições, a psicanálise teria futuro?
Autora de diversos livros e professora da Universidade Paris VII, Rou-dinesco apresenta este trabalho como fruto de uma pergunta dirigida a simesma: por que, após cem anos de existência e de resultados clínicos incon-testáveis, a psicanálise é tão violentamente atacada por aqueles que pretendemsubstituí-la por tratamentos químicos, tidos como mais eficazes?
Na primeira parte, aponta para a depressão como epidemia psíquicaque domina a subjetividade contemporânea como uma forma atenuada daantiga melancolia e critica as práticas paralelas, que têm como denominadorcomum o oferecimento de uma crença – e portanto, de uma ilusão – de cura,receitando ao paciente a mesma gama de medicamentos, seja qual for o seusintoma. Assim, a sociedade moderna buscaria banir a realidade do infortú-nio, da morte e da violência, procurando integrar num único sistema as di-ferenças e as resistências. Mas a infelicidade tem retornado, fulminante, aocampo das relações afetivas e sociais.
Para Roudinesco, “a concepção freudiana de um sujeito do inconsci-ente, consciente de sua liberdade mas atormentado pelo sexo, pela morte epela proibição, foi substituída pela concepção mais psicológica de um indiví-duo depressivo, que foge de seu inconsciente e está preocupado em retirar desi a essência de todo o conflito”, concluindo que “o deprimido deste fim deséculo é herdeiro de uma dependência viciada do mundo, (...) busca na drogaou na religiosidade, no higienismo ou no culto do corpo perfeito, o ideal deuma felicidade impossível” (p. 19).
PAULO SÉRGIO EMERIQUE
Professor assistenteda Unesp-Rio Claro.
Doutor em Psicologia pela USP
PPPP
Impulso_28.book Page 193 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

194 impulso nº 28
Desse modo, a psicofarmacologia encerrou osujeito numa nova alienação ao pretender curá-lo desua própria essência humana. Questiona-se, então:que medicamentos será necessário inventar, no fu-turo, para tratar dos que se houverem “curado”,substituindo um abuso por outro?
Historiadora de inegável competência, a auto-ra lembra que a histeria representava uma contesta-ção da ordem burguesa, uma revolta que, mesmo im-potente, foi significativa por seus conteúdos sexuais(tanto que Freud lhe atribuiu um valor emancipató-rio, do qual todas as mulheres se beneficiariam). Noentanto, cem anos depois, assiste-se a uma regressão,daí o paradigma da depressão, que parece atingirtambém a psicanálise, contestada por uma socieda-de que parece preferir a psicologia clínica e a farma-cologia, a exigir que os sintomas psíquicos tenhamuma causalidade orgânica. Assim, os clínicos pare-cem não ter outra alternativa senão atender a essademanda maciça de psicotrópicos.
Nessa situação, a psicanálise é permanente-mente violentada por um discurso tecnicista quenão pára de criticar sua pretensa “ineficácia experi-mental” e seu reconhecimento da singularidade deuma experiência subjetiva que coloca o inconscien-te, a morte e a sexualidade no cerne da alma huma-na. Ao invés disso, o remédio orienta o pacientepara uma posição “remediada”, cada vez menosconflituosa e, portanto, cada vez mais depressiva,atendendo, seja qual for a duração da receita, a umasituação de crise, a um estado sintomático.
A meu ver, Roudinesco sintetiza sua consta-tação de forma contundente: “Em lugar das paixões,a calmaria, em lugar do desejo, a ausência do desejo,em lugar do sujeito, o nada, e em lugar da história,o fim da história. O modelo profissional de saúde –psicólogo, psiquiatra, enfermeiro ou médico – jánão tem tempo para se ocupar da longa duração dopsiquismo porque, na sociedade liberal depressiva,seu tempo é contado” (p. 41).
Falando do psiquismo, afirma que sintomasnão remetem a uma única doença, e esta é, mais exa-tamente, um estado. Então, a cura não seria outracoisa senão uma transformação existencial do sujei-to. No entanto, a autora lembra que mesmo Freud,nos últimos anos de sua vida, considerava que, um
dia, os avanços da farmacologia poderiam impor li-mites à técnica do tratamento pela fala.
Na segunda parte do livro, Elisabeth Roudi-nesco aborda o que denomina “a grande querela doinconsciente” e revê o desenvolvimento da psicaná-lise na França e na América, onde se crê que “Freudestá morto”. Nesses capítulos, critica o cientificis-mo como uma ilusão da ciência (no sentido comque Freud define a religião como ilusão), ao preten-der preencher as incertezas indispensáveis ao desdo-bramento de uma investigação científica com delíriosde conhecimento e onipotência. Nesse ponto, insereo pensamento de G. Edelman (Prêmio Nobel deMedicina), para quem a hostilidade para com o mo-delo freudiano decorre menos da discussão científicado que da resistência dos cientistas a seus própriosinconscientes.
Portanto, o que os adeptos do cientificismo eda redução do psíquico ao neurológico têm em co-mum seria um ateísmo que consiste numa espéciede religião da ciência, negando tudo que possa de-correr do espiritual, do imaginário e da fantasia, deonde advém a cegueira para os desvios irracionais dodiscurso científico.
Constatando a tragédia de uma visão que ja-mais percebe a diferença entre as ciências da nature-za e as ciências do homem, e a força de uma opera-ção que buscou limpar da clínica e da reflexão uni-versitária e médica o conjunto das teorias da subje-tividade, a autora desejaria que a psicanálise pudesse“ser capaz de dar uma resposta humanista à selvage-ria surda e mortífera de uma sociedade depressivaque tende a reduzir o homem a uma máquina des-provida de pensamento e de afeto” (p. 70).
Na última parte do livro, Roudinesco discuteo futuro da psicanálise, lembrando que Freud nãocessou de reformular seus próprios conceitos. Essefuturo dependeria (como o de qualquer outra teoria)de sua aptidão para inventar novos modelos explica-tivos e de sua permanente capacidade de reinterpre-tar os modelos antigos em função da experiência ad-quirida.
Mesmo evoluindo em função da sociedadeem que se manifestam, os modelos elaborados pelapsicanálise podem se mostrar defasados em relaçãoa ela, que, desde a origem, pretendeu tornar-se um
Impulso_28.book Page 194 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 195
grande movimento de libertação. A autora aponta,então, para novos clínicos que, não mais acreditan-do na estrutura e no valor das escolas psicanalíticas(que, a despeito de sua utilidade, ainda padecem deum grande descrédito em razão de sua propensãoao dogmatismo), buscaram conceber novas formasde presença e de atuação, mais adaptadas ao mundomoderno, numa vanguarda de renascimento dofreudismo.
Desta maneira, rastreando a história da psica-nálise e falando de suas principais figuras depois deFreud, chega a Lacan – considerando-o, sem som-bra de dúvida, o maior teórico do freudismo da se-gunda metade do século XX, por ter efetivado umato de subversão com o qual o próprio Freud nãoteria sonhado, saindo do modelo biológico para odiscurso filosófico, e apoiando-se numa visão quenão se contenta com a repetição dos postulados dofundador da psicanálise, mas deles propõe uma re-leitura crítica. Comenta, a seguir, a relação conflitu-osa com as sociedades freudianas, decorrente daobra lacaniana e de seus seguidores, mais acessíveisa transformações do tratamento padrão, em especialas divergências quanto à formação do analista, que,segundo Lacan, “só se autoriza por si mesmo”.
Por fim, caracteriza os pacientes da atualidadecomo conformes à imagem da sociedade depressiva
em que vivem, resistindo a tratamentos mais longose tendendo a utilizar a psicanálise como outro me-dicamento e o analista, como receptáculo de seussofrimentos.
Assim como os pacientes, os psicanalistas dasnovas gerações também se diferenciam dos mais an-tigos, apesar de todas as dificuldades com que se con-frontam, aspirando a uma renovação do freudismo,mostrando-se mais próximos da miséria social, maishumanistas, mais sensíveis a todas as formas de ex-clusão e mais exigentes quanto às escolhas éticas.Abertos a outras formas de terapia, mesmo tendo apsicanálise como modelo de referência, correm o ris-co, segundo a autora, de um ecletismo que pode levara uma “pasteurização do rigor teórico – e, mais ainda,a um esquecimento do universalismo freudiano”.
Conclui que a fragmentação do campo psica-nalítico pode desembocar numa recomposição posi-tiva da clínica e da teoria e numa consideração das di-ferenças que caracterizam a subjetividade moderna.
Por seu questionamento constante, propostodesde o título, vejo neste livro um posicionamentocompromissado com a atitude freudiana, funda-mentalmente indagadora e autocrítica, constituin-do-se em leitura indispensável para aqueles que con-sideram que tudo o que é humano lhes fala e lhesapela, de perto e de dentro.
Impulso_28.book Page 195 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

196 impulso nº 28
Impulso_28.book Page 196 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 197
REVISTA IMPULSO
Normas para Publicação
PRINCÍPIOS GERAIS1 A Revista IMPULSO publica artigos de pesquisa e reflexão acadêmicas, estudos analíticos e resenhas
nas áreas de ciências sociais e humanas, e cultura em geral, dedicando parte central do espaço de cadaedição a um tema principal.
2 Os temas podem ser desenvolvidos através dos seguintes tipos de artigo:• ENSAIO (12 a 30 laudas) – reflexão a partir de pesquisa bibliográfica ou de campo sobre determi-
nado tema;• COMUNICAÇÃO (10 a 18) – relato de pesquisa de campo, concluída ou em andamento;• REVISÃO DE LITERATURA (8 a 12 laudas) – levantamento crítico de um tema, a partir da bibliografia
disponível;• COMENTÁRIO (4 a 6 laudas) – nota sobre determinado tópico;• RESENHA (2 a 4 laudas) – comentário crítico de livros e/ou teses.
3 Os artigos devem ser inéditos, vedado o seu encaminhamento simultâneo a outras revistas.4 Na análise para a aceitação de um artigo serão observados os seguintes critérios, sendo o autor in-
formado do andamento do processo de seleção: • adequação ao escopo da revista;• qualidade científica, atestada pela Comissão Editorial e por processo anônimo de avaliação por pa-
res (peer review), com consultores não remunerados, especialmente convidados, cujos nomes sãodivulgados anualmente, como forma de reconhecimento;
• cumprimento das presentes Normas para Publicação.5 Uma vez aprovado e aceito o artigo, cabe à revista a exclusividade em sua publicação.6 Os artigos podem sofrer alterações editoriais não substanciais (reparagrafações, correções gramati-
cais, adequações estilísticas e editoriais).7 Não há remuneração pelos trabalhos. O autor de cada artigo recebe gratuitamente 3 (três) exem-
plares da revista; no caso de artigo assinado por mais de um autor, são entregues 5 (cinco) exemplares.O(s) autor(es) pode(m) ainda comprar outros exemplares com desconto de 30% sobre o preço decapa. Para a publicação de separatas, o autor deve procurar diretamente a Editora UNIMEP.
8 Os artigos devem ser encaminhados ao editor da IMPULSO, acompanhados de ofício, do qual constem:• cessão dos direitos autorais para publicação na revista;• concordância com as presentes normatizações;• informações sobre o autor: titulação acadêmica, unidade e instituição em que atua, endereço para
correspondência, telefone e e-mail.
ESTRUTURA9 Cada artigo deve conter os seguintes elementos, em folhas separadas:
a)IDENTIFICAÇÃO
• TÍTULO (e subtítulo, se for o caso), em português e inglês: conciso e indicando claramente o con-teúdo do texto;
Impulso_28.book Page 197 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

198 impulso nº 28
• nome do AUTOR, titulação, área acadêmica em que atua e e-mail;
• SUBVENÇÃO: menção de apoio e financiamento recebidos;
• AGRADECIMENTO, se absolutamente indispensável.
b)RESUMO E PALAVRAS-CHAVE
• Resumo indicativo e informativo, em português (intitulado RESUMO) e inglês (denominado
ABSTRACT), com cerca de 150 palavras cada um;
• para fins de indexação, o autor deve indicar os termos-chave (mínimo de três e máximo de seis)
do artigo, em português (palavras-chave) e inglês (keywords).
c)TEXTO
• texto deve ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Cabe ao autor criar os en-
tretítulos para o seu trabalho. Esses entretítulos, em letras maiúsculas, não são numerados;
• no caso de resenhas, o texto deve conter todas as informações para a identificação do livro comen-
tado (autor; título; tradutor, se houver; edição, se não for a primeira; local, editora; ano; total de pá-
ginas; título original, se houver). No caso de teses, segue-se o mesmo princípio, no que for aplicável,
acrescido de informações sobre a instituição na qual foi produzida.
d)ANEXOS
• Ilustrações (tabelas, gráficos, desenhos, mapas e fotografias).e)DOCUMENTAÇÃO
NOTAS EXPLICATIVAS:1 serão dispostas no rodapé, remetidas por números sobrescritos no corpo dotexto.
CITAÇÃO com até três linhas: deve vir no bojo do parágrafo, destacada por aspas (e não em itálico),
após as quais um número sobrescrito remeterá à nota de rodapé com as indicações do SOBRENOME do
autor, ano da publicação e página em que se encontra a citação.2
CITAÇÃO igual ou maior a quatro linhas: destacada em parágrafo próprio com recuo de quatro cen-
tímetros da margem esquerda do texto (sem aspas) e separado dos parágrafos anterior e posterior por uma
linha a mais. Ao fim da citação, um número sobrescrito remeterá à nota de rodapé, indicando o SOBRE-
NOME do autor, ano da publicação e a página em que se encontra esta citação.3
Os demais complementos (nome completo do autor, nome da obra, cidade, editora, ano de publica-
ção etc.) constarão das Referências Bibliográficas, ao fim de cada artigo, seguindo o padrão abaixo.
A lista de fontes (livros, artigos etc.) que compõe as Referências Bibliográficas deve aparecer no fim
do artigo, em ordem alfabética pelo sobrenome do autor e sem numeração, aplicando-se o seguinte padrão:
LIVROS
SOBRENOME, N.A. (nomes do autor abreviados, sem espaçamento entre eles; nomes de até dois autores, separar por“&”; quando mais de dois, registrar o primeiro deles seguido da expressão “et al.”). Título: subtítulo. Cidade: Edi-tora, ano completo, volume (ex.: v. 2). [Não deve constar o número total de páginas]. Ex.:
FARACO, C.E. & MOURA, F.M. Língua Portuguesa e Literatura. São Paulo: Ática, 1997, v. 3.
FARIA, J. A Tragédia da Consciência: ética, psicologia, identidade humana. Piracicaba: Editora Unimep, 1996.
GARCIA, E.E.C. et al. Embalagens Plásticas: propriedades de barreira. Campinas: cetes/ital, 1984.
GIL, A.C. Técnicas de Pesquisa em Economia. São Paulo: Atlas, 1991.
1 Essa numeração será disposta após a pontuação, quando esta ocorrer, sem que se deixe espaço entre ela e o número sobrescrito da nota. Como oempregado nas Referências Bibliográficas, nas notas de rodapé o SOBRENOME dos autores, caso necessário, deve ser grafado em maiúscula, seguidodo ano da publicação da obra correspondente a esta citação. Ex.: CASTRO, 1989.2 FARACO & GIL, 1997, pp. 74-75.3 FARIA, 1996, p. 102.
Impulso_28.book Page 198 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM

impulso nº 28 199
• Mais de uma citação de um mesmo autor: após a primeira citação completa, introduzir a nova obrada seguinte forma:
• _________. Empregabilidade e Educação. São Paulo: Educ, 1997.
• OBRAS SEM AUTOR DEFINIDO:
• Manual Geral de Redação. Folha de S. Paulo, 2ª. ed., São Paulo, 1987.
PERIÓDICOS
NOME DO PERIÓDICO. Cidade. Órgão publicador. Entidade de apoio (se houver). Data. Ex.:
REFLEXÃO. Campinas. Instituto de Filosofia e Teologia. PUC, 1975.
• ARTIGOS DE REVISTA:
SOBRENOME, N.A. Título do artigo. Título da revista, Cidade, volume (número/fascículo): páginas incursivas, ano.Ex.:
FERRAZ, T.S. Curva de demanda, tautologia e lógica da ciência. Ciências Econômicas e Sociais, Osasco, 6 (1): 97-105,1971.
• ARTIGOS DE JORNAL:
SOBRENOME, N.A. Título do artigo, Título do jornal, Cidade, data, seção, páginas, coluna. Ex.:
PINTO, J.N. Programa explora tema raro na TV, O Estado de S.Paulo, 8/fev./1975, p. 7, c. 2.
10 Os artigos devem ser escritos em português, podendo, contudo, a critério da Comissão Editorial, se-
rem aceitos trabalhos escritos em outros idiomas.
11 Os artigos devem ser digitados no EDITOR DE TEXTO WORD, em espaço dois, em papel branco, não
transparente e de um lado só da folha, com 30 linhas de 70 toques cada lauda (2.100 toques).
12 As ILUSTRAÇÕES (tabelas, gráficos, desenhos, mapas e fotografias) necessárias à compreensão do
texto devem ser numeradas seqüencialmente com algarismos arábicos e apresentadas de modo a ga-
rantir uma boa qualidade de impressão. Precisam ter título conciso, grafados em letras minúsculas.
As tabelas devem ser editadas na versão Word, com formatação necessariamente de acordo com as
dimensões da revista. Devem vir inseridas nos pontos exatos de suas apresentações ao longo do tex-
to. As tabelas não devem ser muito grandes e nem ter fios verticais para separar colunas. As fo-
tografias devem ser em preto e branco, sobre papel brilhante, oferecendo bom contraste e foco
bem nítido. gráficos e desenhos devem ser incluídos nos locais exatos do texto. No caso de apro-
vação para publicação, eles precisarão ser enviados em disquete, e necessariamente em seus ar-
quivos originais (p. ex., em Excel, CorelDraw, PhotoShop, PaintBrush etc.) em separado. As fi-
guras, gráficos e mapas, caso sejam enviados para digitalização, devem ser preparados em tinta nan-
quim preta. As convenções precisam aparecer em sua área interna.
13 ETAPAS de encaminhamento dos artigos: ETAPA 1. Apresentação de três cópias impressas para
submissão à Comissão Editorial da Revista e aos consultores. Os pareceres, sigilosos, são encami-
nhados aos autores para as eventuais mudanças; ETAPA 2. Se aprovado para publicação, o artigo
deve ser reapresentado à Editora, já com as devidas alterações eventualmente sugeridas pela Co-
missão Editorial, em uma via em papel e outra em disquete, com arquivo gravado no formato Word.
Devem acompanhar eventuais gráficos e desenhos suas respectivas cópias eletrônicas em lingua-
gem original. Após a editoração final, o autor recebe uma prova para análise e autorização de im-
pressão.
Impulso_28.book Page 199 Wednesday, October 1, 2003 8:35 AM