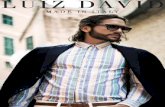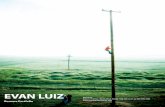ALEX SANDER LUIZ CAMPOS - SciELO · 150 ALEX SANDER LUIZ CAMPOS
maio 2010 - Archives of Endocrinology and Metabolism Archives … · Luiz Gregório Cynthia...
Transcript of maio 2010 - Archives of Endocrinology and Metabolism Archives … · Luiz Gregório Cynthia...
54
ma
io 2
010
issn 0004-2730
9º Congresso Paulista de diabetes e MetabolisMo13 a 15 de maio de 2010Grande Hotel São PedroÁGuaS de São Pedro, SP
SuPlemento 2
Indexada por Biological Abstracts, Index Medicus, Latindex, Lilacs, MedLine, SciELO, Scopus, ISI-Web of Science
Assistente editorial e financeira: Roselaine Monteiro
Rua Botucatu, 572 – conjunto 83 – 04023-062 – São Paulo, SP Tel/fax: (11) 5575-0311 / [email protected]
Submissão on-line / Divulgação eletrônicawww.sbem.org. br • www.scielo.br/abem
ARQUIVOS BRASILEIROS DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA.
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. – São Paulo, SP: Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, v. 5, 1955-
Nove edições/ano
Continuação de: Arquivos Brasileiros de Endocrinologia (v. 1-4), 1951-1955
Título em inglês: Brazilian Archives of Endocrinology and Metabolism
ISSN 0004-2730 (versões impressas)
ISSN 1677-9487 (versões on-line)
1. Endocrinologia – Periódicos 2. Metabolismo-Periódicos I. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia II. Associação Médica Brasileira.
CDU 612.43 Endocrinologia
CDU 612.015.3 Metabolismo
Tiragem desta edição: 4.000 exemplares Preço da Assinatura: R$ 450,00/ano – Fascículo Avulso: R$ 55,00
Rua Alvorada, 631 – Vila Olímpia – 04550-003 – São Paulo – SPTel.: (11) 3849-0099/3044-1339 [email protected] • growup-eventos.com.br
Assessoria Comercial: Reginaldo Ramos
Rua Anseriz, 27, Campo Belo 04618-050 – São Paulo, SP. Fone: 11 3093-3300www.segmentofarma.com.br • [email protected]
Diretor-geral: Idelcio D. Patricio Diretor executivo: Jorge Rangel Diretor médico: Marcello Pedreira CRM 65377 Gerente financeira: Andrea Rangel Gerente comercial: Rodrigo Mourão Diretor de criação: Eduardo Magno Assistente comercial: Andrea Figueiro Coordenadora editorial: Sandra Regina Santana Diretora de arte: Renata Variso Revisoras: Glair Picolo Coimbra e Sandra Gasques Diagramação: Flávio Santana Produtor gráfico: Fabio Rangel Cód. da publicação: 10379.5.10
Apoio:
EDITORa-CHEFEEdna T. Kimura (SP)
COEDITORES
Alexander A. L. Jorge (SP)
Evandro S. Portes (SP)
Magnus R. Dias da Silva (SP)
Renan M. Montenegro Jr. (CE)
EDITOR aSSOCIaDO InTERnaCIOnalAntonio C. Bianco (EUA)
EDITORES aSSOCIaDOS
PRESiDEnTES DoS DEPARTAMEnToS DA SBEM
ADREnAL E HiPERTEnSão Milena F. Caldato (PA)
DiABETES MELiTo Saulo Cavalcanti da Silva (MG)
DiSLiPiDEMiA E ATERoSCLERoSE Maria Teresa Zanella (SP)
EnDoCRinoLoGiA BáSiCA Vânia M. Corrêa da Costa (RJ)
EnDoCRinoLoGiA FEMininA E
AnDRoLoGiA Poli Mara Spritzer (RS)
EnDoCRinoLoGiA PEDiáTRiCA Ângela M. Spinola de Castro (SP)
METABoLiSMo ÓSSEo E MinERALVictória Z. Cochenski Borba (PR)
nEURoEnDoCRinoLoGiA Mônica Roberto Gadelha (RJ)
oBESiDADE Marcio C. Mancini (SP)
TiREoiDE Edna T. Kimura (SP)
REPRESEnTAnTES DAS SoCiEDADES CoLABoRADoRAS
SBD Marilia de Brito Gomes (RJ)
ABESo João Eduardo nunes Salles (SP)
SoBEMoM Francisco Bandeira (PE)
Órgão oficial de divulgação científica da SBEM – Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (Departamento da Associação Médica Brasileira), SBD – Sociedade Brasileira de Diabetes, aBESO – Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica e SOBEMOM – Sociedade Brasileira de Estudos do Metabolismo Ósseo e Mineral
Comissão Editorial nacional
Adriana Costa e Forti (CE)
Amélio F. Godoy Matos (RJ)
Ana Claudia Latronico (SP)
Ana Luiza Silva Maia (RS)
André Fernandes Reis (SP)
Antonio Carlos Lerario (SP)
Antônio Roberto Chacra (SP)
Ayrton Custódio Moreira (SP)
Berenice B. Mendonça (SP)
Bruno Geloneze neto (SP)
Carlos Alberto Longui (SP)
Carmen C. Pazos de Moura (RJ)
Célia Regina nogueira (SP)
César L. Boguszewski (PR)
Claudio E. Kater (SP)
Denise Pires de Carvalho (RJ)
Eder Carlos R. Quintão (SP)
Fábio Fernando Lima Silva (RJ)
Francisco de Assis Rocha neves (DF)
Geraldo Medeiros neto (SP)
Gil Guerra Jr. (SP)
Gisah M. do Amaral (PR)
Hans Graf (PR)
Helena Schimid (RS)
Henrique de Lacerda Suplicy (PR)
ieda T. n. Verreschi (SP)
Jorge Luiz Gross (RS)
José Gilberto Henriques Vieira (SP)
Júlio Abucham (SP)
Laércio Joel Franco (SP)
Laura S. Ward (SP)
Lucio Vilar (PE)
Luís Eduardo P. Calliari (SP)
Luiz Armando de Marco (MG)
Luiz Augusto Casulari R. da Motta (DF)
Luiz Henrique Canani (RS)
Marcello Delano Bronstein (SP)
FUnDaDORWaldemar Berardinelli (RJ)
EDITORES E CHEFES DE REDaÇÃO*1951-1955 Waldemar Berardinelli (RJ)Thales Martins (RJ)
1957-1972 Clementino Fraga Filho (RJ)
1964-1966* Luiz Carlos Lobo (RJ)
1966-1968* Pedro Collett-Solberg (RJ)
1969-1972* João Gabriel H. Cordeiro (RJ)
1978-1982 Armando de Aguiar Pupo (SP)
1983-1990 Antônio Roberto Chacra (SP)
1991-1994 Rui M. de Barros Maciel (SP)
1995-2006 Claudio Elias Kater (SP)
2009-2010
Márcia nery (SP)
Márcio Faleiros Vendramini (SP)
Margaret Boguszewski (PR)
Margaret de Castro (SP)
Maria Honorina Cordeiro Lopes (MA)
Maria Marta Sarquis Soares (MG)
Mário José A. Saad (SP)
Mário Vaisman (RJ)
Marise Lazaretti Castro (SP)
Mauro A. Czepielewski (RS)
Mônica Gabbay (SP)
osmar Monte (SP)
Pedro Weslley S. do Rosário (MG)
Regina Célia S. Moisés (SP)
Ricardo M. R. Meirelles (RJ)
Rui M. de Barros Maciel (SP)
Ruth Clapauch (RJ)
Sandra R. G. Ferreira (SP)
Sandra Mara Ferreira Villares (SP)
Sérgio Atala Dib (SP)
Sonir Roberto R. Antonini (SP)
Tânia A. S. Bachega (SP)
Thaís Della Manna (SP)
Ubiratan Fabres Machado (SP)
Comissão Editorial internacionalCarol Fuzeti Elias (EUA)
Charis Eng (EUA)
Décio Eizirik (Bélgica)
Efisio Puxeddu (itália)
Fernando Cassorla (Chile)
Franco Mantero (itália)
Fredric E. Wondisford (EUA)
Gilberto Jorge da Paz Filho (Austrália)
Gilberto Velho (França)
James A. Fagin (EUA)
John P. Bilezikian (EUA)
norisato Mitsutake (Japão)
Patrice Rodien (França)
Peter Kopp (EUA)
SBEM – Sociedade Brasileira de Endocrinologia e MetabologiaDiretoria NacioNal Da SBeM 2009-2011Presidente: Ricardo M. R. MeirellesVice-Presidente: Airton Golbertsecretário executiVo: Josivan Gomes de Limasecretário Adjunto: Eduardo Pimentel Diastesoureiro GerAl: Ronaldo Rocha Sidney nevestesoureirA Adjunto: Adriana Costa e Forti
Rua Humaitá, 85, cj. 50122261-000 – Rio de Janeiro, RJFone/Fax: (21) 2579-0312/2266-0170www.sbem.org.brsecretáriA executiVA: Julia Maria C. L. Gonç[email protected]
aDreNal e HiperteNSãoPresidente Milena Caldato
Vice-Presidente Sonir R. Antonini
diretores Ana Claudia Latronico
Claudio Kater
Lucila L. K. Elias
Margaret de Castro
Rua dos Tamoios, 1.474, ap. 101, Batista Campos66025-125 – Belém, PAFone: (91) 3223-5359/Fax: (91) [email protected]
DiSlipiDeMia e ateroScleroSe
Presidente Maria Teresa Zanella
Vice-Presidente Bruno Geloneze neto
secretário Fernando Flexa Ribeiro Filho
tesoureirA Sandra Roberta Gouvea Ferreira
diretores Fernando Giufrida
Helena Schimidt
Luciana Bahia
Marcelo Costa Batista
Gláucia Carneiro
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) Rua Leandro Dupret, 365, Vila Clementino04025-011 – São Paulo, SPFone: (11) 5904-0400/Fax: (11) [email protected]
DiaBeteS MellituS
Presidente Saulo Cavalcanti da Silva
Vice-Presidente Luiz Alberto Andreotti Turatti
secretário Antônio Carlos Pires
tesoureiro ivan Ferraz
diretores Adriana Costa e Forti
Rodrigo Lamounier
Balduino Tschiedel
suPlentes Sérgio Alala
Hermelinda Pedrosa
Rua Tomé de Souza, 830, 10o andar, cj. 1005, Savassi 30140-131 – Belo Horizonte, MG Fone: (31) 3261-2927www.diabetes.org.br
eNDocriNologia BáSica
Presidente Vânia Maria Corrêa da Costa
Vice-Presidente Magnus R. Dias da Silva
secretário Celso Rodrigues Franci
diretores Maria Tereza nunes
Doris Rosenthal
Catarina Segreti Porto
suPlentes Ubiratan Fabres Machado
Tânia Maria ortiga Carvalho
instituto de Biofísica Carlos Chagas FilhoUniversidade Federal do Rio de JaneiroRua Carlos Chagas Filho, 373, Cidade Universitária, ilha do Fundão, CCS, Bloco G, sala G106021941-902 – Rio de Janeiro, RJFone: (21) 2562-6552 / Fax: (21) 2280-8193 [email protected]
Departamentos Científicos - 2009/2011Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
Departamentos Científicos - 2009/2011
eNDocriNologia peDiátrica
Presidente Ângela Maria Spinola e Castro
Vice-Presidente Paulo César Alves da Silva
diretores Aline Mota da Rocha
Carlos Alberto Longui
Julienne Ângela Ramires de Carvalho
Maria Alice neves Bordallo
Marília Martins Guimarães
suPlentes Claudia Braga Abadesso Cardoso
Maria Tereza Matias Baptista
Rua Pedro de Toledo, 980, cj. 52, Vila Clementino04039-002 – São Paulo, SPFone: (11) 5579-9409/[email protected]/[email protected]
DepartaMeNto De NeuroeNDocriNologia
Presidente Mônica Roberto Gadelha
Vice-Presidente Manuel Faria
diretores Antônio Ribeiro
César L. Boguszewski
Luciana naves
Luiz Antônio de Araújo
Marcello Bronstein
suPlentes Leonardo Vieira neto
Raquel Jallad
Rua Visconde de Pirajá, 351, sala 1113, ipanema22410-003 – Rio de Janeiro, RJFone/Fax: (21) [email protected]
tireoiDe
Presidente Edna T. Kimura
Vice-Presidente Laura S. Ward
secretáriA Carmen Cabanelas Pazos de Moura
diretores Ana Luiza Silva Maia
Célia Regina nogueira
Gisah Amaral de Carvalho
Mário Vaisman
suPlentes Pedro Weslley S. do Rosário
Rosa Paula Melo Biscolla
Rua Botucatu, 572, cj. 81, Vila Clementino04023-061 – São Paulo, SPFone/Fax: (11) [email protected]
MetaBoliSMo ÓSSeo e MiNeral
Presidente Victória Zeghbi Cochenski Borba
Vice-Presidente Marise Lazaretti Castro
diretores João Lindolfo C. Borges
Luiz Gregório
Cynthia Brandão
Luis Russo, Luiz Griz
Rua Cândido Xavier, 575, água Verde80240-280 – Curitiba, PR Fone: (41) 3024-1415 ramal 217/Fax: (41) [email protected]
oBeSiDaDe
Presidente Marcio C. Mancini
Vice-Presidente Bruno Geloneze neto
Primeiro secretário João Eduardo nunes Salles
seGundo secretário Josivan Gomes de Lima
tesoureiro Mario Kehdi Carra
rePresentAntes dA sBem Alfredo Halpern
Henrique de Lacerda Suplicy
Associação Brasileira para o Estudo da obesidade Rua Mato Grosso, 306, cj. 1711 01239-040 – São Paulo, SPFone: (11) 3079-2298/Fax: (11) 3079-1732www.abeso.org.br
eNDocriNologia FeMiNiNa e aNDrologia
Presidente Poli Mara Spritzer
Vice-Presidente Ruth Clapauch
diretores Alexandre Hohl
Amanda Valéria Luna de Athayde
Carmen Regina Leal de Assumpção
Dolores Perovano Pardini
Serviço de Endocrinologia, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, UFRGS, Rua Ramiro Barcelos, 2350, 4o andar90035-003 – Porto Alegre, RSFone: (51) 2101-8127/Fax: (51) 2101-8777www.feminina.org.br • [email protected]
coMuNicação SocialPresidente Ruy Lyra [email protected] ABem Edna T. KimuramemBros Ricardo M. R. Meirelles, Marisa Helena Cesar Coral, Balduino Tschiedel, Severino Farias
Ética e DeFeSa proFiSSioNalcorreGedor Teiichi oikawa [email protected] ney Cavalcanti1º VoGAl Amaro Gusmão2º VoGAl Victor Gervásio e Silva3º VoGAl ivana Maria netto Victória4º VoGAl itairan de Silva Terres5º VoGAl Maite ChimenoSuPlentes Diana Viegas, Joaquim José de Melo, Auxiliadora Brito de Lima, Josivan Gomes da Silva, Paulo Roberto Prata Mendonça
HiStÓria Da eNDocriNologiaPresidente Luiz César Povoa [email protected] Rui M. de Barros Maciel, Thomaz Cruz
coMitê De caMpaNHaS eM eNDocriNologiaPresidente Helena Schimid [email protected] Luiz Antônio Araújo, Vívian Ellinger
título De eSpecialiSta eM eNDocriNologia e MetaBologiaPresidente: Francisco BandeiraVice-Presidente: osmar MontememBros: Adelaide Rodrigues, Carlos Alberto Longui, César Boguszewski, Lucio Vilar, Marisa Helena César Coral
coMitê iNterNacioNalPresidente Amélio F. Godoy Matos [email protected] César Boguszewski, Cláudio Kater, Thomaz Cruz, Valéria GuimarãessuPlentes João Lindolfo Borges, Marcelo Bronstein
eleitoralPresidente Pedro Weslley S. do Rosário [email protected] Mauro Czepielewski, Victor Gervásio e Silva, Milena F. Caldato
paritária – caaepmemBros Ângela Maria Spínola de Castro [email protected] Paulo César Alves da Silva, Maria Alice neves Bordallo, Rômulo Sandrini, Luiz Eduardo Calliare, Marilza Leal nascimento
acoMpaNHaMeNto Do plaNejaMeNto eStratÉgicoPresidente Ricardo M. R. Meirelles [email protected] Ruy Lyra, Valéria Guimarães, Marisa Helena Cesar Coral, Amélio F. Godoy Matos
projeto DiretrizeScoordenAdor Claudio Kater [email protected] e HiPertensão Milena CaldatodisliPidemiA e Aterosclerose Maria Teresa ZanelladiABetes mellitus Saulo Cavalcanti da SilvaendocrinoloGiA BásicA Vânia Maria Corrêa da CostaendocrinoloGiA FemininA e AndroloGiA Poli Mara SpritzerendocrinoloGiA PediátricA Ângela Maria Spinola e CastrometABolismo Ósseo e minerAl Victória Zeghbi Cochenski BorbaneuroendocrinoloGiA Mônica Roberto GadelhaoBesidAde Márcio C. Mancinitireoide Edna T. Kimura
cieNtíFica Presidente Airton Golbert [email protected] Presidentes Regionais, Presidentes dos Departamentos CientíficosindicAdos PelAs diretoriAs Francisco Bandeira, Adriana Costa e Forti, Laura S. Ward, Luiz Griz, Ana Claudia Latronico
Valorização De NoVaS liDeraNçaS Presidente Rodrigo o. Moreira [email protected] Mônica oliveirarePresentAntes dos dePArtAmentos Alexandre Hohl Ana Rosa Quidute André G. Daher Vianna Andréa Glezer Carolina G. S. Leões Daniel Lins Érico H. Carvalho Érika Paniago Fabíola Y. Miasaki Luciana Bahia Vânia M. C. Costa
eDucação MÉDica coNtiNuaDaPresidente Laura S. Ward [email protected] Luiz Susin, Ruth Clapauch, João Modesto, Dalisbor Marcelo Weber Silva
eStatutoS, regiMeNtoS e NorMaSPresidente Marisa Helena Cesar Coral
memBros Luiz Carlos Espíndola, osmar Monte, Luiz Cesar Povoa, João Modesto
rePresentAnte dA diretoriA nAcionAl Ricardo M. R. Meirelles
Comissões Permanentes - 2009/2011Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
SBD – SocieDaDe BraSileira De DiaBeteSDIRETORIa naCIOnal Da SBD (2010/2011)
Presidente Saulo Cavalcanti da SilvaVice-Presidentes Balduino Tschiedel ivan dos Santos Ferraz nelson Rassi Ruy Lyra da Silva Filho Walter José Minicuccisecretário GerAl Domingos Augusto Malerbi2a secretáriA Reine Marie Chaves Fonseca1o tesoureiro Antonio Carlos Lerario 2o tesoureiro João Modesto FilhoconselHo FiscAl Leão Zagury Maria Regina Calsolari Silmara A. oliveira LeitesuPlente Perseu Seixas de Carvalho
Rua Afonso Brás, 579, cj. 72/7404511-011– São Paulo, SPFone/Fax: (11) [email protected]áriA executiVA: Kariane Krinas DavisonGerente AdministrAtiVA: Anna Maria Ferreira
aBeSo – aSSociação BraSileira para o eStuDo Da oBeSiDaDe e SíNDroMe MetaBÓlicaDIRETORIa naCIOnal Da aBESO (2010-2011)
Presidente Rosana Radominski Vice-Presidente Leila Araujo 1o secretário GerAl Alexandre Koglin Benchimol2a secretáriA GerAl Mônica Beyruti tesoureirA Cláudia Cozer
Rua Mato Grosso, 306, cj. 1711 01239-040 – São Paulo, SPFone: (11) 3079-2298/Fax: (11) 3079-1732Secretária: Luciana [email protected] www.abeso.org.br
SoBeMoM – SocieDaDe BraSileira De eStuDoS Do MetaBoliSMo ÓSSeo e MiNeralDIRETORIa naCIOnal Da SOBEMOM (2009-2011)
Presidente Victória Zeghbi Cochenski BorbaVice-Presidente Dalisbor Marcelo Weber SilvasecretáriA executiVA Carolina Aguiar Moreira Kulaksecretário executiVo Adjunto Jaime Kulak Junior2o secretário executiVo Adjunto Sérgio Setsuo Maedatesoureiro GerAl Gleyne Biagginitesoureiro GerAl Adjunto Roberto Antonio Carneirodiretor cientíFico Almir Urbanetz
Rua Cândido Xavier, 575, água Verde80240-280 – Curitiba, PR Fone: (41) 3024-1415 ramal 217/Fax: (41) [email protected]áriA oPerAcionAl: Dione Pires da Silva
Sociedades e Associações Brasileirasna Área de Endocrinologia e Metabologia
Palavras do Presidente
Sejam todos bem-vindos ao IX Congresso Paulista de Diabetes e Metabo-lismo. Estamos muito felizes de recebê-los em Águas de São Pedro.
Ao longo de um ano, as Comissões Executiva e Científica, juntamente com a empresa Eventus, Planejamento e Organização, trabalharam com muito carinho na organização desse tradicional evento tão importante para todos os profissionais envolvidos com diabetes mellitus.
Obedecendo à tradicional grade desse encontro, foram programados seis painéis de pesquisa, oito simpósios, 159 pôsteres e o curso pré-congresso com nova formatação, proporcionando discussões de tópicos atuais no tra-tamento de diabetes.
Como convidado internacional, temos o grande prazer de contar com a presença do Dr. Alessandro Doria, da Harvard Medical School e da Joslin Diabetes Center, que dispensam maiores comentários entre nós.
Com todos juntos, palestrantes, congressistas, organizadores e patrocina-dores, temos a absoluta certeza de que esse será um profícuo encontro cien-tífico em torno dessa importante entidade denominada diabetes mellitus.
Mais uma vez, desejamos a todos um excelente congresso.
Antonio Carlos PiresPresidente
Comissão Organizadora
Promoção
apoioSociedade Brasileira de Diabetes (SBD)
Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO)
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM)
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp)
secretaria executiva
Comissão executivaAntonio Carlos Pires − Presidente
João Eduardo Nunes Salles
Carla Roberta de Oliveira Carvalho
Comissão CientíficaRegina S. Moisés − Presidente
Antonio Carlos PiresCarla Roberta de Oliveira Carvalho
Everardo Magalhães CarneiroJoão Eduardo Nunes SallesJosé Barreto C. Carvalheira
Milton C. FossMaria Lúcia C. Giannella
Silvana A. Bordin Sergio A. Dib
Walquyria Pimenta
Abbott
Aché
Bristol
Delta
Eli Lilly
Ger-Ar
Medtronic
MSD
Novartis
Novo Nordisk
Sanofi-Aventis
Servier
Torrent
TV Med
agradecimentos
Programação CientífiCa
13 de maio de 2010 − Quinta-feira
08:30-12:00 Curso Pré-congresso: atualização em Diabetes Mellitus “tópicos atuais no tratamento do dm”
Coordenador: Antonio Carlos Pires − Famerp
08:30-09:00 Individualização dos alvos terapêuticos Patricia Moreira Gomes − FMRP-USP09:00-09:30 Contagem de carboidratos no DM1 e DM2: Prós e contras Marcia Queiroz − USP09:30-10:00 Relação custo-benefício dos antigos e novos anti-hiperglicemiantes orais João Eduardo Salles − Santa Casa10:30-11:00 Papel dos análogos de insulina no tratamento do DM1 Luis Eduardo Calliari − Santa Casa11:00-11:30 Critérios para indicação de bomba de insulina Monica A. L. Gabbay − Unifesp11:30-12:00 Abordagem dos fatores de risco não glicêmicos no DM Marcio Faleiros Vendramini – Unifesp/Hospital do Servidor Público Estadual
de São Paulo
12:00-13:45 almoço
13:45-14:00 abertura do 9º Congresso Paulista de diabetes e metabolismo
14:00-15:15 Painel de Pesquisa iCoordenadora: Maria Elizabeth Rossi da Silva – HCFMUSP
14:00-14:15 I.1. INHIBITION OF THE ENDOPLASMIC RETICULUM STRESS IN MACROPHAGES PREVENTS THE REDUCTION OF ABCA-1 INDUCED BY GLYCATED ALBUMIN Castilho G1, Sartori CH1, Machado-Lima A1, Nakandakare ER1, Santos CX2, Laurindo FRM2, Passarelli M1
1 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Laboratório de Lípides (LIM 10). 2 Instituto do Coração da FMUSP, Laboratório de Biologia Vascular, SP, Brasil
14:15-14:30 I.2. O EFEITO DA ATIVIDADE CONTRÁTIL SOBRE A EXPRESSÃO DE MITOFUSINA 2 – PARTICIPAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE CÁLCIO E AMPK Lima GA1, Zorzano A2, Machado UF1
1 Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo (ICB/USP), Fisiologia e Biofísica, SP, Brasil2 Instituto de Pesquisa em Biomedicina – Biologia Molecular, Barcelona, Espanha
14:30-14:45 I.3. EXPRESSÃO GÊNICA DIFERENCIAL EM POPULAÇÕES LINFOCITÁRIAS DE PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 1A Rassi DM1
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Clínica Médica, SP, Brasil 14:45-15:00 I.4. RESISTÊNCIA À INSULINA E ESTEATOEPATITE NÃO ALCOÓLICA (NASH)
Carvalho BM1, Guadagnini D1, Cintra DE1, Tskumo DML1, Ueno M1, Saad MJA1
1 Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas (FCM/Unicamp), Clínica Médica, SP, Brasil
15:00-15:15 I.5. AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO DE CÉLULA BETA, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE INSULÍNICA DOS PACIENTES PORTADORES DE HEMOCROMATOSE SECUNDÁRIA NORMOGLICÊMICOS Petry TBZ1, Ferraz CS1, Calmon AC2, Ochiai CM1, Santos MC3, Melo MR4, Scalissi N3, Cançado R3, Salles JEN5
1 Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (ISCMSP), Endocrinologia e Metabologia. 2 ISCMSP, Clínica Médica. 3 ISCMSP, Endocrinologia. 4 ISCMSP, Endocrinologia Pediátrica. 5 Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP), Medicina Endocrinologia, SP, Brasil
15:15-15:30 Coffee Break
15:30-17:10 Simpósio I Coordenador: Francisco de Assis Pereira, FMRP-USP
15:30-15:50 Regulação da resposta insulínica ao exercício em diferentes tecidos Rosa Ferreira dos Santos − USP15:50-16:10 Exercício físico e hipotálamo: o outro lado da balança Eduardo R. Ropelle – Unicamp16:10-16:30 Trofismo muscular no diabetes mellitus: novas vias de sinalizações Luiz Carlos C. Navegantes – FMRP-USP16:30-16:50 Características da doença osseometabólica no diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2 Francisco de Assis Pereira – FMRP-USP16:50-17:10 Discussão
17:10-18:25 Painel de Pesquisa II Coordenadores: João Roberto de Sá − UNIFESP/EPM Fabio Bessa Lima – USP
17:10-17:25 II.1. DUAL EFFECT OF ADVANCED GLYCATION END PRODUCTS (AGES) IN PANCREATIC ISLET APOPTOSIS AND THE PROTECTIVE ROLE OF BENFOTIAMINE AND MITOQ Costal FSL1, Oliveira ER1, Raposo ASA1, Machado-Lima A2, Passarelli M2, Giannella-Neto D1, Correa-Giannella MLC1
1 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Laboratório de Endocrinologia Celular e Molecular (LIM 25). 2 FMUSP, Laboratório de Lípides (LIM 10), SP, Brasil
17:25-17:40 II.2. RESISTÊNCIA À INSULINA MUSCULAR INDUZIDA POR ÁCIDOS GRAXOS: PAPEL DA MITOCÔNDRIA E DA CONTRAÇÃO MUSCULARHirabara SM1, Nachbar RT2, Camargo LFT1, Fiamoncini J2, Koshiyama LT2, Fujiwara H2, Martins AR3, Lambertucci RH2, Gorjao R1, Silveira LR4, Pithon-Curi TC5, Leandro CG6, Curi R2
1 Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL), Programa de Pós-graduação em Ciências do Movimento Humano − ICAFE. 2 Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo (ICB/USP), Fisiologia e Biofísica.3 Universidade Federal do Ceará (UFC), Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas.4 Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP), USP. 5 UNICSUL, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. 6 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Nutrição, PE, Brasil
17:40-17:55 II.3. AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA, DENSIDADE MINERAL ÓSSEA E COMPOSIÇÃO CORPORAL DE PACIENTES PORTADORES DE LIPODISTROFIA PARCIAL FAMILIAR Monteiro LZ1, Pereira FA1, Foss-Freitas MC1, Montenegro Jr RM2, Foss MC1
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Clínica Médica, SP. 2 Hospital Universitário, Universidade Federal do Ceará (HU-UFC), Endocrinologia e Metabologia, CE, Brasil
17:55-18:10 II.4. RESPOSTA INFLAMATÓRIA INDUZIDA POR OBESIDADE ACELERA O CRESCIMENTO DE ENXERTOS DE CÂNCER DE PRÓSTATARocha GZ1, Dias MM1, Ropelle ER1, Saad MJA1, Carvalheira JBC1
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Clínica Médica, SP, Brasil 18:10-18:25 II.5. HOMEOSTASE DO CÁLCIO EM ILHOTAS DE LANGERHANS EM MODELOS DE RESISTÊNCIA
À INSULINAOliveira CAM1
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Anatomia, Biologia Celular, Fisiologia e Biofísica, SP, Brasil
18:30-20:00 Simpósio Patrocinado Novartis “Disfunção pancreática: atuar na fisiopatologia para tratar melhor o paciente diabético.
Amplificando o efeito incretina com a vildagliptina” Luiz Alberto Turatti − FMUSP
Programação Científica – Quinta-feira, 13 de maio de 2010
14 de maio de 2010 − sexta-feira
08:00-09:40 simpósio ii Coordenador: Antonio Carlos Pires − Famerp
08:00-08:20 Produtos de glicação avançada e aterogênese no diabetes mellitus Marisa Passarelli − FMUSP08:20-08:40 Dieta e doença cardiovascular: proteção e progressão Sandra Roberta G. Ferreira − USP 08:40-09:00 Papel do controle glicêmico na prevenção da DCV nos pacientes com diabetes mellitus ou
intolerância à glicose Antônio Carlos Lerario − FMUSP09:00-09:20 Particularidades da doença cardiovascular no diabetes mellitus André Fernandes Reis − Unifesp/EPM09:20-09:40 Discussão
09:45-11:00 Painel de Pesquisa iiiCoordenadores: Everardo Magalhães Carrneiro – Unicamp José Barreto Campello Carvalheira – Unicamp
09:45–10:00 III.1. INFLUÊNCIA DA RESISTÊNCIA INSULÍNICA NA QUANTIDADE DE RNA MENSAGEIRO DO RECEPTOR GLICOCORTICOIDE (GRa) EM TECIDO ADIPOSO, MÚSCULO E LINFÓCITOSCastro RB1
1 Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (ISCMSP), Endocrinologia, SP, Brasil
10:00-10:15 III.2. DIABETES MELITOS DE DIAGNÓSTICO RECENTE NO ADULTO: DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS ENTRE O TIPO 2 CLÁSSICO, TIPO 1 TARDIO E LATENTE AUTOIMUNE DO ADULTO Lana JM1
1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), SP, Brasil
10:15-10:30 III.3 ADIPONECTINEMIA NO ADULTO JOVEM: ASSOCIAÇÃO COM O TAMANHO AO NASCIMENTO E POLIMORFISMOS NA REGIÃO PROMOTORA DO GENE ADIPOQ.9Bueno AC, Castro M, Santos JE, Foss MC, Bettiol H, Barbieri MA, Antonini SA
10:30-10:45 III.4. OBESIDADE E FUNÇÃO REPRODUTORA: RESISTÊNCIA À INSULINA NO OVÁRIOAkamine EH1, Marçal AC2, Camporez J2, Caperuto LC3, Carvalho CRO2
1 Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo (ICB/USP), Fisiologia e Biofísica, Farmacologia. 2 ICB/USP, Fisiologia e Biofísica. 3 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Campus Diadema, Ciências Biológicas, SP, Brasil
10:45-11:00 III.5. CHO SUPPLEMENTATION INCREASES THE CONTENT OF INTRAMYOCELLULAR TRIACYLGLYCEROL IN COMPETITIVE RUNNERS UNDERGOING OVERLOAD TRAININGSousa MV1, Silva MER1, Fukui RT1, Campi, C2
1 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Laboratório de Investigação Médica (LIM 18). 2 Instituto do Coração (InCor), FMUSP, Seção de Ressonância Magnética, SP, Brasil
11:00-11:15 Coffee Break
11:15-12:55 simpósio iiiCoordenador: Mario Jose Abdalla Saad − Unicamp
11:15-11:35 Formas monogênicas de diabetes e suas implicações terapêuticas Regina Célia Mello Santiago Moisés − UNIFESP/EPM11:35-11:55 Genética do DM1A no Brasil Maria Elizabeth Rossi da Silva − FMUSP11:55-12:15 Marcadores moleculares do desenvolvimento de complicações no DM Maria Lúcia Corrêa Giannella − FMUSP12:15-12:35 Pharmacogenetics of diabetes and its complications Alessandro Doria − Harvard Medical School, Joslin Diabetes Center, Boston, EUA12:35-12:55 Discussão
Programação Científica – Sexta-feira, 14 de maio de 2010
12:55-14:00 almoço
14:00-15:15 Painel de Pesquisa ivCoordenadores: José Barreto Campello Carvalheira − Unicamp Milton C. Foss − FMRP-USP
14:00-14:15 IV.1. HEALING IN DIABETES: INSULIN CREAM EFFECTS Lima MHM1
1 Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas (FCM/Unicamp), Enfermagem, SP, Brasil
14:15-14:30 IV.2. VARIANTE DO GENE FTO E PERFIL METABÓLICO NA POPULAÇÃO INDÍGENA XAVANTEKuhn Pc1, Crispim F2, Franco LF2, Vieira Filho JPB3, Franco LJ4, Moisés RS4
1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Endocrinologia. 2 Unifesp, Medicina. 3 Unifesp, Divisão de Endocrinologia. 4 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Medicina Social, SP, Brasil
14:30-14:45 IV.3. RELAÇÃO ENTRE OS FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR NOS PAIS E A PREVALÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA NOS FILHOS PORTADORES DE DIABETES MELITOS TIPO 1Stela Pinto C1, Camila S. Pinto1, João Roberto de Sá1, Sérgio A. Dib1
1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Endocrinologia e Metabologia, SP, Brasil
14:45-15:00 IV.4. ABSCISIC ACID, A PLANT HORMONE, INHIBITS NITRIC OXIDE PRODUCTION AND IMPROVES GLUCOSE UPTAKE IN MAMMALIAN CELLSLellis-Santos C1, Centeno-Baez C2, Pilon G2, Lavigne C2, Benson C3, Loewen M3, Desjardins Y4, Abrams S3, Bordin S1, Marette A5
1 Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo (ICB/USP). 2 Laval University, Canada, Institute of Nutraceuticals and Functional Foods and Quebec Heart and Lung Institute. 3 Saskatoon, Canada, NRC Plant Biotechnology Institute. 4 Institute of Nutraceuticals and Functional Foods and Laval University Horticultural Research Center, Canada. 5 University, Canada, Institute of Nutraceuticals and Functional Foods and Quebec Heart and Lung Institute
15:00-15:15 IV.5. ATIVAÇÃO DAS VIAS PROTEOLÍTICAS LISOSSOMAL E UBIQUITINA-PROTEASSOMA INDUZ ATROFIA EM CORAÇÃO DE RATOS DIABÉTICOSPaula-Gomes S1, Zanon NM2, Baviera AM3, Carvalho L1, Gonçalves DAP2, Lira EC2, Filippin EA1, Navegantes LCC2, Kettelhut IC1
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Bioquímica e Imunologia. 2 FMRP-USP, Fisiologia. 3 Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Bioquímica, MT, Brasil
15:15-16:55 simpósio ivCoordenador: Sérgio Atala Dib − Unifesp
15:15-15:35 Imunoterapia e célula-tronco no DM1 Milton C. Foss − FMRP-USP15:35-15:55 Desconstruindo o diabetes mellitus com a cirurgia metabólica Bruno Geloneze − Unicamp15:55-16:15 Transplante de pâncreas total e ilhotas: indicações e complicações João Roberto de Sá − Unifesp/EPM16:15-16:35 Recidiva dos fatores de risco cardiovascular após cirurgia bariátrica Maria Tereza Zanelli − Unifesp16:35-16:55 Discussão
16:55-17:10 Coffee Break
17:10-18:00 Conferência: genetic susceptibility to coronary artery disease in diabetesCoordenadora: Regina Célia Mello Santiago Moisés − Unifesp/EPMConferencistas: Alessandro Doria − Harvard Medical School Joslin Diabetes Center, Boston, EUA
18:00-20:00 sessão de Happy Poster (001 ao 159) – ver página s69
Programação Científica – Sexta-feira, 14 de maio de 2010
15 de maio de 2010 − sábado
08:30-10:10 simpósio vCoordenador: Lício A. Velloso − Unicamp
08:30-08:50 Resistência à insulina e leptina no SNC Mario José Abdalla Saad − Unicamp08:50-09:10 Síndrome metabólica e sensibilidade a glicocorticoide Margaret de Castro − FMRP-USP09:10-09:30 Papel do sistema nervoso simpático e da insulina nas vias de geração de glicerol-3 −
Fosfato no tecido adiposo Isis Carmo Kettelhut − FMRP-USP09:30-09:50 A melatonina como ferramenta terapêutica no controle glicêmico Fabio Bessa Lima − USP09:50-10:10 Discussão
10:10-10:25 Coffee Break
10:25-11:40 Painel de Pesquisa vCoordenadores: Sandra Roberta G. Ferreira − USP Bruno Geloneze − Unicamp
10:25-10:40 V.1. PREVALÊNCIA DE DOENÇAS AUTOIMUNES EM DIABÉTICOS TIPO 1Queiroz MS1
1 Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), Endocrinologia, SP, Brasil
10:40-10:55 V.2. ESTUDO MOLECULAR DO DIABETES DIAGNOSTICADO NO PRIMEIRO ANO DE VIDA Fogaca V1, Vendramini MF1, Crispim F1, Gurgel LC1, Dalbosco I1,Pires AC1, Vieira TC1, Medeiros CC1, Dib SA1, Gabbay M1, Moisés RS1
1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Endocrinologia, SP, Brasil
10:55-11:10 V.3. EFEITO DOS INIBIDORES DA FOSFODIESTERASE DO AMP CÍCLICO NA REDUÇÃO DO CATABOLISMO PROTEICO INDUZIDO PELA SEPSELira EC1, Navegantes LCC1
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Fisiologia, SP, Brasil
11:10-11:25 V.4. GLICOCORTICOIDE E SECREÇÃO DE INSULINARafacho A1
1 Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Faculdade de Ciências Integradas do Pontal (FACIP), MG, Brasil
11:25-11:40 V.5. QUERCETINA REDUZ A RESPOSTA INFLAMATÓRIA ESTIMULADA POR ÁCIDOS GRAXOS E TNF-ALFA NO TECIDO MUSCULAR: IMPLICAÇÕES PARA O AUMENTO DA SENSIBILIDADE À INSULINA EM MODELOS DE OBESIDADEAnhe GF1
1 Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas (FCM/Unicamp), Farmacologia, SP, Brasil
11:40-12:55 Painel de Pesquisa viCoordenador: André Fernandes Reis − Unifesp/EPM
11:40-11:55 VI.1. HDL DISFUNCIONAL − PAPEL DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE AS PROPRIEDADES ANTIATEROGÊNICAS DAS HDL NO DIABETES MELLITUSIsio Schulz1
1 Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), São Paulo, SP, Brasil
11:55-12:10 VI.2. EFFECT OF ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS ON TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND METABOLIC PROFILESMela Umeda L1
1 Hospital Brigadeiro, Endocrinologia, SP, Brasil
Programação Científica – Sábado, 15 de maio de 2010
12:10-12:25 VI.3. INFLAMAÇÃO HIPOTALÂMICA INDUZ RESISTÊNCIA PERIFÉRICA À INSULINA E REDUÇÃO DA TERMOGÊNESE Arruda AP1, Milanski M1, Coope A1, Velloso LA1
1 Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas (FCM/Unicamp), Laboratório de Sinalização Celular, SP, Brasil
12:25-12:40 VI.4. ANÁLISE DO PERFIL DE RISCO CARDIOMETABÓLICO DE AMOSTRA POPULACIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DIABETES MELITO TIPO 2Siqueira-Catania A1, Barros CR1, Cezaretto A1, Salvador EP1, Ferreira SRG2
1 Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo (FSP/USP), Nutrição. 2 USP, Medicina Preventiva, SP, Brasil
12:40-12:55 VI.5. WHAT IS DIABETOLOGY & METABOLIC SYNDROME JOURNAL?
Giannella-Neto D1
1 Universidade de São Paulo (USP), Gastroenterologia, Disciplina de Gastroenterologia Clínica, SP, Brasil
12:55-14:00 Almoço
14:00-15:40 Simpósio VICoordenador: Milton C. Foss − FMRP-USP
14:00-14:20 O fator pancreático na fisiopatologia do diabetes mellitus tipo 2 Everardo Magalhães Carneiro − Unicamp14:20-14:40 Estresse oxidativo na função da célula-beta. Resistência à insulina Eduardo Rebelato − USP14:40-15:00 Estratégias para proteção da célula-beta no DM Sérgio Atala Dib − Unifesp15:00-15:20 Glico e lipotoxicidade na falência secundária das células-beta Anna Karenina Azevedo Martins − EACH-USP15:20-15:40 Discussão
15:40-17:20 Simpósio VIICoordenador: Antônio Roberto Chacra − Unifesp/EPM
15:40-16:00 Análise crítica dos algoritmos de tratamento do diabetes mellitus Antônio Roberto Chacra − Unifesp/EPM16:00-16:20 Metformina, obesidade e reatividade vascular Nubia de Souza Lobato − USP16:20-16:40 Câncer e diabetes mellitus: fatores relacionados à doença ou ao tipo de tratamento José Barreto Campello Carvalheira − Unicamp16:40-17:00 O custo do diabetes mellitus no Brasil Laercio J. Franco − FMRP-USP17:00-17:20 Discussão
17:20-17:35 Coffee Break
17:35-19:15 Simpósio VIIICoordenador: João Eduardo Salles − Santa Casa de São Paulo
17:35-17:55 Importância das espécies reativas de oxigênio na fisiologia da secreção de insulina Angelo R. Carpinelli − USP17:55-18:15 Exercise induced signaling pathways in skeletal muscle Atul Deshmukh. Karolinska Institutet, Suécia18:15-18:35 Novas proteínas envolvidas na homeostase energética Patricia O. Prada − Unicamp18:35-18:55 Inflamação hipotalâmica e homeostase energética Lício A. Velloso – Unicamp 18:55-19:15 Discussão
19:15 Encerramento
Programação Científica – Sábado, 15 de maio de 2010
S68
Índice
RESUMOS DE PAINÉIS DE PESQUISA
i.1 inHiBiTiOn OF THe endOPLASMic ReTicULUM STReSS in MAcROPHAGeS PReVenTS THe RedUcTiOn OF ABcA-1 indUced BY GLYcATed ALBUMin ............................................................................................................................. S80Castilho G, Sartori CH, Machado-Lima A, Nakandakare ER, Santos CX, Laurindo FRM, Passarelli M
i.2 O eFeiTO dA ATiVidAde cOnTRÁTiL SOBRe A eXPReSSÃO de MiTOFUSinA 2 – PARTiciPAÇÃO dA SinALiZAÇÃO de cÁLciO e AMPK ................................................................................................................................................................ S80Lima GA, Zorzano A, Machado UF
i.3 eXPReSSÃO GÊnicA diFeRenciAL eM POPULAÇÕeS LinFOciTÁRiAS de PAcienTeS diABÉTicOS TiPO 1A ......................... S80Rassi DM
i.4 ReSiSTÊnciA À inSULinA e eSTeATOePATiTe nÃO ALcOÓLicA (nASH) ................................................................................. S81Carvalho BM, Guadagnini D, Cintra DE, Tskumo DML, Ueno M, Saad MJA
i.5 AVALiAÇÃO dA FUnÇÃO de cÉLULA BeTA, ReSiSTÊnciA e SenSiBiLidAde inSULÍnicA dOS PAcienTeS PORTAdOReS de HeMOcROMATOSe SecUndÁRiA nORMOGLicÊMicOS ........................................................................... S81Petry TBZ, Ferraz CS, Calmon AC, Ochiai CM, Santos MC, Melo MR, Scalissi N, Cançado R, Salles JEN
ii.1 dUAL eFFecT OF AdVAnced GLYcATiOn end PROdUcTS (AGeS) in PAncReATic iSLeT APOPTOSiS And THe PROTecTiVe ROLe OF BenFOTiAMine And MiTOQ ......................................................................................................... S81Costal FSL, Oliveira ER, Raposo ASA, Machado-Lima A, Passarelli M, Giannella-Neto D, Correa-Giannella MLC
ii.2 ReSiSTÊnciA À inSULinA MUScULAR indUZidA POR ÁcidOS GRAXOS: PAPeL dA MiTOcÔndRiA e dA cOnTRAÇÃO MUScULAR ....................................................................................................................................................... S82Hirabara SM, Nachbar RT, Camargo LFT, Fiamoncini J, Koshiyama LT, Fujiwara H, Martins AR, Lambertucci RH, Gorjao R, Silveira LR, Pithon-Curi TC, Leandro CG, Curi R
ii.3 AVALiAÇÃO AnTROPOMÉTRicA, denSidAde MineRAL ÓSSeA e cOMPOSiÇÃO cORPORAL de PAcienTeS PORTAdOReS de LiPOdiSTROFiA PARciAL FAMiLiAR ............................................................................................................. S82Monteiro LZ, Pereira FA, Foss-Freitas MC, Montenegro Jr RM, Foss MC
ii.4 ReSPOSTA inFLAMATÓRiA indUZidA POR OBeSidAde AceLeRA O cReSciMenTO de enXeRTOS de cÂnceR de PRÓSTATA ....................................................................................................................................................... S82Rocha GZ, Dias MM, Ropelle ER, Saad MJA, Carvalheira JBC
ii.5 HOMeOSTASe dO cÁLciO eM iLHOTAS de LAnGeRHAnS eM MOdeLOS de ReSiSTÊnciA À inSULinA ................................ S83Oliveira CAM
iii.1 inFLUÊnciA dA ReSiSTÊnciA inSULÍnicA nA QUAnTidAde de RnA MenSAGeiRO dO RecePTOR GLicOcORTicOide (GRa) eM TecidO AdiPOSO, MÚScULO e LinFÓciTOS .......................................................................... S83Castro RB
iii.2 diABeTeS MeLiTO de diAGnÓSTicO RecenTe nO AdULTO: diFeRenÇAS e SeMeLHAnÇAS enTRe O TiPO 2 cLÁSSicO, TiPO 1 TARdiO e LATenTe AUTOiMUne dO AdULTO .................................................................................. S84Lana JM
iii.3 AdiPOnecTineMiA nO AdULTO JOVeM: ASSOciAÇÃO cOM O TAMAnHO AO nASciMenTO e POLiMORFiSMOS nA ReGiÃO PROMOTORA dO Gene ADIPOQ ....................................................................................................................... S84Bueno AC
iii.4 OBeSidAde e FUnÇÃO RePROdUTORA: ReSiSTÊnciA À inSULinA nO OVÁRiO ..................................................................... S84Akamine EH, Marçal AC, Camporez J, Caperuto LC, Carvalho CRO
iii.5 cHO SUPPLeMenTATiOn incReASeS THe cOnTenT OF inTRAMYOceLLULAR TRiAcYLGLYceROL in cOMPeTiTiVe RUnneRS UndeRGOinG OVeRLOAd TRAininG ............................................................................................... S85Sousa MV, Silva MER, Fukui RT, Campi, C
iV.1 HeALinG in diABeTeS: inSULin cReAM eFFecTS .................................................................................................................. S85Lima MHM
iV.2 VARiAnTe dO Gene FTO e PeRFiL MeTABÓLicO nA POPULAÇÃO indÍGenA XAVAnTe......................................................... S85Kuhn Pc, Crispim F, Franco LF, Vieira Filho JPB, Franco LJ, Moisés RS
iV.3 ReLAÇÃO enTRe OS FATOReS de RiScO cARdiOVAScULAR nOS PAiS e A PReVALÊnciA de SÍndROMe MeTABÓLicA nOS FiLHOS PORTAdOReS de diABeTeS MeLiTO TiPO 1 .................................................................................... S86Stela Pinto C,Camila S. Pinto, João Roberto de Sá, Sérgio A. Dib
iV.4 ABSciSic Acid, A PLAnT HORMOne, inHiBiTS niTRic OXide PROdUcTiOn And iMPROVeS GLUcOSe UPTAKe in MAMMALiAn ceLLS ................................................................................................................................................................ S86Lellis-Santos C, Centeno-Baez C, Pilon G, Lavigne C, Benson C, Loewen M, Desjardins Y, Abrams S, Bordin S, Marette A
S69
Índice
iV.5 ATiVAÇÃO dAS ViAS PROTeOLÍTicAS LiSOSSOMAL e UBiQUiTinA-PROTeASSOMA indUZ ATROFiA eM cORAÇÃO de RATOS diABÉTicOS .......................................................................................................................................... S87Paula-Gomes S, Zanon NM, Baviera AM, Carvalho L, Gonçalves DAP, Lira EC, Filippin EA, Navegantes LCC, Kettelhut IC
V.1 PReVALÊnciA de dOenÇAS AUTOiMUneS eM diABÉTicOS TiPO 1 ........................................................................................ S87Queiroz MS
V.2 eSTUdO MOLecULAR dO diABeTeS diAGnOSTicAdO nO PRiMeiRO AnO de VidA ............................................................ S87Fogaca V, Vendramini MF, Crispim F, Gurgel LC, Dalbosco I, Pires AC, Vieira TC, Medeiros CC, Dib SA, Gabbay M, Moisés RS
V.3 eFeiTO dOS iniBidOReS dA FOSFOdieSTeRASe dO AMP cÍcLicO nA RedUÇÃO dO cATABOLiSMO PROTeicO indUZidO PeLA SePSe .............................................................................................................................................................................. S88Lira EC, Navegantes LCC
V.4 GLicOcORTicOide e SecReÇÃO de inSULinA ...................................................................................................................... S88Rafacho A
V.5 QUeRceTinA RedUZ A ReSPOSTA inFLAMATÓRiA eSTiMULAdA POR ÁcidOS GRAXOS e TnF-ALFA nO TecidO MUScULAR: iMPLicAÇÕeS PARA O AUMenTO dA SenSiBiLidAde À inSULinA eM MOdeLOS de OBeSidAde .......................................... S88Anhe GF
Vi.1 HdL diSFUnciOnAL − PAPeL dO eXeRcÍciO FÍSicO SOBRe AS PROPRiedAdeS AnTiATeROGÊnicAS dAS HdL nO diABeTeS MeLLiTUS ............................................................................................................................................................ S89Schulz I
Vi.2 eFFecT OF ROUX-en-Y GASTRic BYPASS On TYPe 2 DIABETES MELLITUS And MeTABOLic PROFiLeS..................................... S89Mela Umeda L
Vi.3 inFLAMAÇÃO HiPOTALÂMicA indUZ ReSiSTÊnciA PeRiFÉRicA A inSULinA e RedUÇÃO dA TeRMOGÊneSe ....................... S89Arruda AP, Milanski M, Coope A, Velloso LA
Vi.4 AnÁLiSe dO PeRFiL de RiScO cARdiOMeTABÓLicO de AMOSTRA POPULAciOnAL dO MUnicÍPiO de SÃO PAULO e iMPLeMenTAÇÃO de PROGRAMA de PReVenÇÃO de diABeTeS MeLiTO TiPO 2 ................................................................... S89Siqueira-Catania A, Barros CR, Cezaretto A, Salvador EP, Ferreira SRG
Vi.5 WHAT iS diABeTOLOGY & MeTABOLic SYndROMe JOURnAL? ............................................................................................. S90Giannella-Neto D
RESUMOS DE PÔSTERES
001 THe ReVeRSe cHOLeSTeROL TRAnSPORT iS iMPAiRed BY SeRUM ALBUMin iSOLATed FROM UncOnTROLLed DIABETES MELLITUS PATienTS ................................................................................................................................................... S92Machado-Lima A, Iborra RT, Sartori CH, Nakandakare ER, Correa-Giannella MLC, Passarelli M
002 eFeiTO dA PROciAnidinA PReSenTe nO PÓ dO cAcAU (THEOBROMA CACAO) nA PReSSÃO ARTeRiAL de PORTAdOReS dO diABeTeS MeLiTO TiPO ii ............................................................................................................................. S92Vicentim AL, Marcellino M
003 ASSOciAÇÃO enTRe PARÂMeTROS dA MARcHA e FORÇA dO TORnOZeLO eM neUROPATAS diABÉTicOS ........................ S92Martinelli AR, Camargo MR, Nozabieli AJL, Fregonesi CEPT, Faria CRS
004 dÉFiciTS de eQUiLÍBRiO e PeRdA dA QUALidAde dA MARcHA eM PORTAdOReS de neUROPATiA diABÉTicA ................... S93Martinelli AR, Camargo MR, Nozabieli AJL, Faria CRS, Fregonesi CEPT
005 A SUPLeMenTAÇÃO cOM GLUTATiOnA-eTiL-eSTeR RedUZ A APOPTOSe ceLULAR dURAnTe O iSOLAMenTO de iLHOTAS PAncReÁTicAS .................................................................................................................................................... S93Raposo ASA, Oliveira ER, Costal FSL, Giannella-Neto D, Correa-Giannella MLC
006 RePeRcUSSÕeS MATeRnO-FeTAiS de RATAS cOM diABeTe MOdeRAdO e diABeTe GRAVe dURAnTe A PRenHeZ ............... S94Bueno A, Saito FH, Iessi IL, Dallaqua B, Netto AO, Corvino SB, Casarri MB, Sinzato YK, Rudge MVC, Damasceno DC
007 MeLHORA dA SenSiBiLidAde À inSULinA e RedUÇÃO dA eXPReSSÃO de TnF-ALFA eM MÚScULO eSQUeLÉTicO de RATOS OBeSOS SUBMeTidOS A TReinAMenTO AeRÓBiO .................................................................................................. S94Panveloski AC, Pinto Júnior DAC, Brandão BB, Seraphim PM
008 diABeTeS TiPO 1 e PAdRÕeS ReLAciOnAiS FAMiLiAReS: UM eSTUdO de cASO ..................................................................... S94Ferreira ACP, Kublikowiski I
009 A HiPeRGLiceMiA MATeRnA, indePendenTeMenTe dO diAGnÓSTicO dO diABeTe, ReLAciOnAdA A ReSULTAdOS PeRinATAiS AdVeRSOS nA OXiGenAÇÃO FeTAL .................................................................................................................... S95Ruocco AMC, Morceli G, Moreli JB, Magalhães VB, Damasceno DC, Calderon IMP
S70
Índice
010 GLUcOSe UPTAKe in SKeLeTAL MUScLe And AdiPOSe TiSSUe OF RATS RecOVeRed FROM PROTein MALnUTRiTiOn .......... S95Yamada AK, Cambri LT, Guezzi AC, Ribeiro C, Mello MAR
011 cAMUndOnGOS TLR2 KNOCKOUT APReSenTAM ReSiSTÊnciA À inSULinA e ATiVAÇÃO de JnK nOS TecidOS MUScULAR, HePÁTicO e AdiPOSO: O PAPeL dO eSTReSSe de ReTÍcULO endOPLASMÁTicO ................................ S96Caricilli AM, Picardi PK, Abreu LLF, Carvalho BM, Ueno M, Prada PO, Saad MJA
012 AVALiAÇÃO de UM GRUPO de indiVÍdUOS de RiO PiRAcicABA, MG, PeLOS cRiTÉRiOS diAGnÓSTicOS de diABeTeS MeLiTO PROPOSTOS PeLA AdA .......................................................................................................................... S96Maia GA, Bicalho G, Sól NA, Souza MCFMC, Gaede Carrillo MRG, Lima AA
013 MARcAdOReS PRecOceS PARA ATeROScLeROSe eM PAcienTeS cOM diABeTeS MeLiTO TiPO 1 ....................................... S97Pinheiro A, Nakazone MA, Felicio HSC, Fonseca CM, Yugar-Toledo JC, Pires AC, Tacito LHB
014 AUMenTO dA ATiVidAde LiPOLÍTicA nO TecidO AdiPOSO BRAncO PeLO eXTRATO de GARCINIA cAMBOGiA eM cAMUndOnGOS cOM OBeSidAde indUZidA POR dieTA ........................................................................... S97Silva AP, Nakutis FA, Melo AM, Santos GA, Torsoni AS, Torsoni MA
015 cARdiOMeTABOLic BeneFiTS indUced BY LiFeSTYLe cHAnGeS ARe MediATed BY inFLAMMATiOn in A BRAZiLiAn PReVenTiOn PROGRAM ................................................................................................................................ S97Siqueira-Catania A, Barros CR, Salvador EP, Pires MM, Folchetti LD, Ferreira SRG
016 iMPAcTO de inTeRVenÇÃO inTeRdiSciPLinAR nÃO FARMAcOLÓGicA nA FReQUÊnciA de cOMPULSÃO ALiMenTAR PeRiÓdicA e SUA ReLAÇÃO cOM PARÂMeTROS dieTÉTicOS e cLÍnicO-LABORATORiAiS eM indiVÍdUOS de ALTO RiScO PARA diABeTeS MeLiTO TiPO 2 ............................................................................................ S98Siqueira-Catania A, Cezaretto A, Barros CR, Pires MM, Folchetti LD, Ferreira SRG
017 O eXTRATO HidROALcOÓLicO de SOLIDAGO CHILENSIS MeLHORA A SinALiZAÇÃO dA inSULinA e ATOLeRÂnciA A GLicOSe eM cAMUndOnGOS cOM OBeSidAde indUZidA POR dieTA ...................................................... S98Melo AM, Leal PB, Santos GA, Torsoni AS, Torsoni MA
018 O PAPeL dA PROTeÍnA AceTiL-cOA cARBOXiLASe (Acc) HiPOTALÂMicA nA MOdULAÇÃO dO MeTABOLiSMO e SenSiBiLidAde MUScULAR A inSULinA eM RATOS ................................................................................................................. S99Santos GA, Candido JF, Melo AM, Martins JC, Nakutis FS, Leal PB, Silva AP, Ashino NG, Torsoni AS, Torsoni MA
019 idenTiFicATiOn OF A neW ALLeLic VARiAnT in THe 5´PROXiMAL ReGiOn OF THe iL-27 Gene (P28 SUBUniT) in PATienTS WiTH TYPe 1 diABeTeS MeLiTO (dM1A) .............................................................................................................. S99Santos AS, Crisostomo LG, Melo ME, Fukui RT, Santos RF, Pinto EM, Silva MER
020 nÍVeiS de iL-17A eM PAcienTeS PORTAdOReS de diABeTeS MeLiTO TiPO 1 AUTOiMUne ...................................................... S99Fores JP, Santos AS, Crisostomo LG, Onii N, Vasconcelos DM, Silva MER
021 PRedicTiVe FAcTORS OF nOn-deTeRiORATiOn OF GLUcOSe TOLeRAnce FOLLOWinG A 2-YeAR BeHAViORAL inTeRVenTiOn .................................................................................................................................................. S100Almeida-Pititto B, Hirai AT, Sartorelli DS, Harima HA, Gimeno SGA, Ferreira SRG
022 THe eFFecTS OF A BeHAViOURAL inTeRVenTiOn in A cOHORT OF JAPAneSe-BRAZiLiAnS AT HiGH cARdiOMeTABOLic RiSK....................................................................................................................................................... S100Almeida-Pititto B, Griffin S, Sharp S, Hirai AT, Gimeno SGA, Ferreira SRG
023 OBeSidAde indUZidA POR dieTA de cAFeTeRiA PROMOVe diScReTO QUAdRO inFLAMATÓRiO SeM ALTeRAR A TRAnScRiÇÃO dO Gene dO GLUT4 eM MÚScULO eSQUeLÉTicO OXidATiVO de RATOS ................................................... S100Brandão BB, Pinto Junior, Panveloski AC, Seraphim PM
024 eFeiTO dOS iniBidOReS dA enZiMA cOnVeRSORA de AnGiOTenSinA SOBRe OBeSidAde indUZidA POR dieTA ............. S101Perrella BP, Amaya SC, Cintra DE, Ropelle ER, Saad MJA
025 PÉ diABÉTicO VERSUS PeRFiL MeTABÓLicO de PAcienTeS diABÉTicOS.............................................................................. S101Oliveira AC, Teixeira CJ, Stefanello TF, Takaki I, Carrara M, Rocha N, Aleixo N, Oliveira J, Batista MR
026 PROFiSSiOnAiS de SAÚde: PeRSPecTiVA de indiVÍdUOS cOM diABeTeS MeLiTO TiPO 2 ................................................... S101Ribas CRP, Zanetti ML
027 GRUPO edUcATiVO nO ÂMBiTO dA dOenÇA cRÔnicA nÃO TRAnSMiSSÍVeL .................................................................. S102Ribas CRP, Santos MA, Caliri MHL, Zanetti ML
028 LeUcine indUced incReASe in inSULin SecReTiOn BY PAncReATic iSLeT OF MALnOURiSHed Mice iS ReLATed WiTH An iMPROVed inTRAceLLULAR cALciUM HAndLinG ............................................................................... S102Oliveira CAM, Silva PMR, Batista TM, Vanzela EC, Ribeiro RA, Bermudo FM, Carneiro EM
029 eFFecTS OF ReSiSTAnce TRAininG in THe GLUcOSe UPTAKe BY SKeLeTAL MUScLe in neOnATAL ALLOXAn-AdMiniSTeRed RATS ............................................................................................................................................. S103Ribeiro C, Cambri LT, Ghezzi AC, Voltarelli FA, Dalia RA, Moura RF, Moura LP, Almeida Leme JA, Mello MAR
S71
Índice
030 eFeiTOS dO TReinAMenTO FÍSicO MOdeRAdO nAS cOncenTRAÇÕeS de GReLinA SÉRicA de AniMAiS diABÉTicOS ALOXÂnicOS ............................................................................................................................... S103Almeida Leme JA, Ribeiro C, Gomes RJ, Moura LP, Dalia RA, Araujo MB, Kokubun E, Mello MAR, Luciano E
031 A S-niTROSAÇÃO nO deSenVOLViMenTO dA ReSiSTÊnciA À inSULinA HiPOTALÂMicA: iMPLicAÇÕeS PARA O deSenVOLViMenTO dA OBeSidAde ...................................................................................................................................... S103Katashima CK, Ropelle ER, Cintra DE, Dias MM, Rocha GZ, Saad MJA, Carvalheira JBC
032 ReLATiOnSHiP BeTWeen GLYcATed HeMOGLOBin And MeTABOLic SYndROMe OF TYPe 1 And TYPe 2 diABeTeS: A FAcTOR AnALYSiS STUdY ................................................................................................................................... S104Giuffrida FMA, Sallum CFC, Gabbay M, Gomes MB, Pires AC, Dib SA
033 TRATAMenTO cLÍnicO cOM SUceSSO eM PAcienTe cOM AcidOSe LÁTicA GRAVe cAUSAdA POR inTOXicAÇÃO POR MeTFORMinA: ReLATO de cASO .................................................................................................. S104Sallum CFC, Sulzbach ML, Vidotto TM, Dib SA, Sa JR
034 eFeiTOS dA deSnUTRiÇÃO PROTeicA nA cAPAcidAde MiTOcOndRiAL MUScULAR e SenSiBiLidAde PeRiFÉRicA A inSULinA ......................................................................................................................................................... S104Zoppi CC, Silveira LR, Silva PMR, Trevisan A, Boschero AC, Carneiro EM
035 eXPReSSÃO de MiOSTATinA e AcTRiiB eM RATOS diABÉTicOS SUBMeTidOS A eXeRcÍciO ............................................... S105Bassi Daniela, Bueno PG, Selistre-de-Araujo HS, Nonaka KO, Leal AMO
036 SUPLeMenTAÇÃO cOM TAURinA PReVine AUMenTO dA SecReÇÃO de inSULinA POR iLHOTAS iSOLAdAS e MeLHORA A TOLeRÂnciA À GLicOSe eM cAMUndOnGOS ALiMenTAdOS cOM dieTA HiPeRLiPÍdicA ........ S105Ribeiro RA, Mobiolli DDM, Vanzela EC, Souza JC, Boschero AC, Carneiro EM
037 MOdULATiOn OF GLUcOSe TRAnSPORTeR GLUT4 eXPReSSiOn BY cAnnABinOid RecePTOR cB1 in AdiPOcYTeS ......... S105Furuya DT, Poletto AC, Oliveira MAN, Freitas HSDE, Machado UF
038 ÁcidOS GRAXOS inSATURAdOS OLeicO e LinOLeicO RedUZeM A eXPReSSÃO dO GLUT4: PARTiciPAÇÃO dOS FATOReS TRAnScRiciOnAiS nFKAPPAB, SReBP-1c e HiF-1A nO cOnTROLe deSSe MecAniSMO ..... S106Poletto AC, Furuya DT, Santos RA, Anhe GF, David-Silva A, Campello RS
039 O eXeRcÍciO cOnTRARReSiSTidO MeLHORA SenSiBiLidAde À inSULinA eM RATOS OBeSOS POR AUMenTO de eXPReSSÃO dA PROTeÍnA TRAnSPORTAdORA de GLicOSe GLUT4 e de RedUÇÃO dA inFLAMAÇÃO nO MÚScULO GLicOLÍTicO ........................................................................................................................................................ S106Pinto Júnior DAC, Brandão BB, Panveloski AC, Seraphim PM
040 eFeiTOS dO FenOFiBRATO SOBRe A cicATRiZAÇÃO de LeSÕeS ePiTeLiAiS eM RATOS diABÉTicOS ................................... S107Trevisan DD, Abreu LLF, Caricilli AM, Araujo EP, Saad MJA, Lima MHM
041 PAPeL dO SiSTeMA neRVOSO SiMPÁTicO nO cOnTROLe dAS VIAS de GeRAÇÃO de GLiceROL-3-FOSFATO nOTecidO AdiPOSO ePididiMAL de RATOS diABÉTicOS ........................................................................................................ S107Frasson D, Chaves VE, Garofalo MAR, Migliorini RH, Kettelhut IC
042 AcUTe TeMPORAL cHAnGeS indUced BY β2-AdReneRGic AGOniSTS in eRK1/2 And AKT SiGnALinG PATHWAYS in ATROPHied SKeLeTAL MUScLeS FROM FASTed Mice ............................................................................................................ S107Gonçalves DAP, Lira EC, Paula-Gomes S, Zanon NM, Kettelhut IC, Navegantes LCC
043 AVALiAÇÃO dOS dAnOS OXidATiVOS eM PROTeÍnAS e LiPÍdiOS decORRenTeS dO diABeTeS de inTenSidAde MOdeRAdA ..................................................................................................................................................... S108Damasceno DC, Lima PHO, Sinzato YK, Spada APM, Rodrigues T, Rudge MVC
044 ÁcidOS GRAXOS W-3 e W-9 ReVeRTeM A inFLAMAÇÃO e APOPTOSe nO HiPOTÁLAMO de AniMAiS OBeSOS e diABÉTicOS, indUZidOS POR dieTA RicA eM GORdURA .................................................................................... S108Cintra DE, Ropelle ER, Contin Moraes J, Pauli JR, Morarij J, Souza CT, Saad MJA, Velloso LA
045 Gene eXPReSSiOn PROFiLinG MeTA-AnALYSiS OF Tcd4+, Tcd8+ OR cd14+ ceLLS OF RecenTLY diAGnOSed TYPe 1 DIABETES MELLITUS PATienTS iS inFLUenced BY MHc ii SUScePTiBiLiTY/PROTecTiOn ALLeLeS .......................................... S108Rassi DM, Junta CM, Feijó AE, Silva GL, Wastowski IJ, Palomino GM, Crispim JO, Melo-Lima B, Deghaide NNHS, Fernandes APM, Foss-Freitas MC, Foss MC, Sakamoto-Hojo ET, Passos GAS, Donadi EA
046 ReGULATORY neTWORKS AS A MOLecULAR STRATiFicATiOn OF Tcd4+, Tcd8+ And cd14+ ceLLS OF RecenTLY diAGnOSed TYPe 1 DIABETES MELLITUS ............................................................................................................... S109Rassi DM, Junta CM, Feijó AE, Silva GL, Palomino GM, Wastowski IJ, Crispim JO, Melo-Lima B, Deghaide NNHS, Fernandes APM, Foss-Freitas MC, Foss MC, Sakamoto-Hojo ET, Passos GAS, Donadi EA
047 AVALiAÇÃO dA ViA iniBiTÓRiA dO SinAL inSULÍnicO eM MÚScULO de RATOS TRATAdOS cROnicAMenTe cOM FLUOReTO de SÓdiO ................................................................................................................................................... S109Chiba FY, Gallinari MO, Gomes WDS, Colombo NH, Shirakashi DJ, Garbin CAS, Sumida DH
S72
Índice
048 AVALiAÇÃO dA ReSiSTÊnciA inSULÍnicA e dO SinAL inSULÍnicO eM TecidO HePÁTicO de RATOS AdULTOS, PROLeS de RATAS cOM dOenÇA PeRiOdOnTAL ................................................................................................................ S110Shirakashi DJ, Colombo NH, Chiba FY, Moimaz SAS, Sumida DH
049 ROLiPRAM, A SeLecTiVe Pde4 inHiBiTOR, SUPPReSSeS THe AUTOPHAGY And ATROPHY ReLATed-GeneS indUced BY SePSiS ............................................................................................................................................................... S110Lira EC, Zanon NM, Kettelhut IC, Navegantes LCC
050 iL-6 e iL-10 PROMOVeM ReSPOSTA AnTi-inFLAMATÓRiA nO TecidO HiPOTALÂMicO e AUMenTAM OS SinAiS de SAciedAde eM ROedOReS OBeSOS: O PAPeL dO eXeRcÍciO FÍSicO ............................................................................ S110Ropelle ER, Flores MBS, Cintra DE, Pauli JR, Rocha GZ, Morarij J, Souza CT, Augusto TM, Oliveira AG, Contin Moraes J, Guadagnini D, Marin RM, Carvalho HF, Velloso LA, Saad MJA
051 eSTUdO dA eXPReSSÃO dO MRnA de RecePTOReS de incReTinAS e AVALiAÇÃO dO Índice de APOPTOSe de iLHOTAS de RATO eXPOSTAS À AMiLinA HUMAnA e À LiPOTOXicidAde ........................................................................ S111Oliveira ER, Costal FSL, Raposo ASA, Giannella-Neto D, Correa-Giannella MLC
052 LePTinA inTRAceReBROVenTRicULAR AUMenTA A ATiVidAde dA ciTRATO SinTASe, O nÍVeL de ciTOcROMO c, A ReSPiRAÇÃO MiTOcOndRiAL e A FOSFORiLAÇÃO dA AKT eM MÚScULO eSQUeLÉTicO: A iMPORTÂnciA dO SinAL AdRenÉRGicO e dA ATiVAÇÃO dA JAK2 ............................................................................................................................. S111Roman EA, Arruda AP, Romanatto T, Santos GA, Solon C, Morarij J, Nuñez CE, Velloso LA, Torsoni MA
053 inFLUÊnciA dA OBeSidAde e dA ReSiSTÊnciA À inSULinA SOBRe O deSenVOLViMenTO TUMORAL: eFeiTO dA MeTFORMinA ....................................................................................................................................................... S112Fonseca EAI, Oliveira MA, Carvalho MHC, Tostes RCA, Zyngier SZ, Fortes ZB
054 AVALiAÇÃO de AnOMALiAS FeTAiS eM RATAS cOM diABeTeS GRAVe e MOdeRAdO dURAnTe A PRenHeZ ..................... S112Saito FH, Bueno A, Iessi IL, Dallaqua B, Netto AO, Corvino SB, Sinzato YK, Volpato GT, Rudge MVC, Damasceno DC
055 ATiVAÇÃO dA MTOR HiPOTALÂMicA e RedUÇÃO de GAnHO de PeSO PeLO USO de eXTRATO de GARCINIA CAMBOGIA eM AniMAiS cOM OBeSidAde indUZidA POR dieTA HiPeRLiPÍdicA .............................................. S113Nakutis FA, Silva AP, Ashino NG, Leal PB, Torsoni AS, Torsoni MA
056 cOMPARAÇÃO dA SecReÇÃO ReSidUAL de inSULinA enTRe indiVÍdUOS cOM diABeTeS dO TiPO 1 cLÁSSicO e UM cASO de diABeTeS dUPLO ........................................................................................................................................... S113Valente F
057 MOdULAÇÃO de PeROXiRRedOXinAS eM LinHAGenS de cÉLULAS BeTA PROdUTORAS de inSULinA eXPOSTAS A ciTOcinAS ....................................................................................................................................................... S113Paula FMM, Boschero AC, Souza KL
058 denSidAde MineRAL ÓSSeA (dMO) e SÍndROMe MeTABÓLicA eM MULHeReS cOM LiPOdiSTROFiA PARciAL FAMiLiAR TiPO dUnniGAn ..................................................................................................................................... S114Pereira FA, Monteiro LZ, Foss-Freitas MC, Montenegro JR RM, Foss MC
059 AVALiAÇÃO dA denSidAde MineRAL ÓSSeA (dMO) e A inGeSTÃO de cÁLciO e FÓSFORO eM MULHeReS cOM LiPOdiSTROFiA TiPO dUnniGAn ................................................................................................................................. S114Pereira FA, Monteiro LZ, Navarro, AM, Foss-Freitas MC, Montenegro JR RM, Foss MC
060 eFFecTS OF diABeTeS And PReGnAncY in UReTHRAL STRiATed MUScLe OF RATS ............................................................ S115Marini G, Barbosa AMP, Damasceno DC, Matheus SMM, Castro RA, Souza CCC, Haddad JM, Rudge MVC
061 cOMPOSiÇÃO BiOQUÍMicA e iMUnOLÓGicA dO cOLOSTRO eM MULHeReS cOM diABeTe GeSTAciOnAL ................... S115Morceli G, França EL, Magalhães VB, Damasceno DC, Calderon IMP, Honorio ACF
062 OBeSiTY indUced ABnORMAL inFLAMMATORY ReSPOnSe dRiVeS AcceLeRATed GROWTH in PROSTATe cAnceR XenOGRAFTS ........................................................................................................................................................................ S115Rocha GZ, Dias MM, Ropelle ER, Costa FO
063 AGinG iS ASSOciATed TO cALciUM SiGnALinG ALTeRATiOnS And MiTOcHOndRiAL dYSFUncTiOn in iSLeTS OF LAnGeRHAnS OF SeneScenT RATS ...................................................................................................................................... S116Coelho FM, Machado SM, Tufik S, Smaili SS, Lopes GS
064 ReSiSTÊnciA HePÁTicA A inSULinA nA PROLe de cAMUndOnGOS APÓS USO MATeRnO de dieTA HiPeRLiPÍdicA: O enVOLViMenTO dO eSTReSSe de ReTÍcULO endOPLASMÁTicO...................................................................................... S116Martins JC, Ashino NG, Duart A, Nakutis FA, Melo AM, Leal PB, Torsoni AS, Torsoni MA
065 HOMeOSTASe GLicÊMicA e OSciLAÇÕeS de cÁLciO eM iLHOTAS PAncReÁTicAS de cAMUndOnGOS KNOCKOUT PARA O RecePTOR de LdL (LdLR-/-) ................................................................................................................ S116Souza JC, Ribeiro RA, Vanzela EC, Dorighello GG, Oliveira CAM, Carneiro EM, Boschero AC
S73
Índice
066 diABÉTicOS eM inSULinOTeRAPiA – MeLHOR cOnTROLe GeRAL PÓS-FReQUÊnciA A PROGRAMA de edUcAÇÃO eM diABeTeS cOM ATiVidAdeS FÍSicAS ORienTAdAS ................................................................................................................ S117Dullius J
067 ReSPOSTAS AGUdAS dA GLiceMiA APÓS PRÁTicA ORienTAdA de eXeRcÍciOS FÍSicOS eM diABÉTicOS TiPO 2 ............ S117Dullius J, Carmen SG, Rauber SB
068 inFLUÊnciA de UM PROGRAMA de ATiVidAde FÍSicA MOdeRAdA nA GLiceMiA e PeRFiL LiPÍdicO de MULHeReS diABÉTicAS ........................................................................................................................................................................... S118Chiyoda A, Nakamura PM, Almeida LEME JA, Kokubun E, Luciano E
069 eFeiTO dO cOnSUMO cRÔnicO de FRUTOSe nA TOLeRÂnciA ORAL A GLicOSe e nA SenSiBiLidAde À inSULinA ........ S118Botezelli JD, Moura LP, Cambri LT, Ghezzi AC, Dalia RA, Arantes L, Mello MAR
070 inFLUÊnciA dA inGeSTÃO cRÔnicA de dieTA RicA eM FRUTOSe eM RATOS SUBMeTidOS A TeSTe de TOLeRÂnciA ORAL À FRUTOSe ................................................................................................................................................................... S118Botezelli JD, Moura LP, Cambri LT, Ghezzi AC, Arantes L, Dalia RA, Mello MAR
071 iMPAcTO de eQUiPe MULTiPROFiSSiOnAL nO AcOMPAnHAMenTO e TRATAMenTO de PORTAdOReS de diABeTeS TiPO 1 (dM1): ReLATO de cASO ........................................................................................................................... S119Castro JHP, Rafacho A, Mondelli M
072 in cHROnic KidneY diSeASe RATS THe ReVeRSe cHOLeSTeROL TRAnSPORT iS nOT inFLUenced BY THe HdL cOMPOSiTiOn MOdiFicATiOn OR THe RedUced MAcROPHAGe ABcG-1 eXPReSSiOn ................................................... S119Machado JT, Pinto RS, Castilho G, Machado-Lima A, Fusco FB, Okuda LS, Iborra RT, Rocha JC, Carreiro AB, Nakandakare ER, Catanozi S, Passarelli M
073 enHAnced LdL UPTAKe BY MOUSe PeRiTOneAL MAcROPHAGeS indUced BY SeRUM ALBUMin iSOLATed FROM diABeTic OR UReMic RATS......................................................................................................................................... S119Carreiro AB, Machado-Lima A, Iborra RT, Pinto RS, Castilho G, Rocha JC, Machado JT, Fusco FB, Nakandakare ER, Catanozi S, Passarelli M
074 SiTAGLiPTinA VERSUS inSULinA nPH AO deiTAR cOMO TeRceiRA dROGA nO TRATAMenTO dO diABeTeS MeLiTO TiPO 2 (dM2) ........................................................................................................................................... S120Nogueira KC, Fukui RT, Rossi FB, Rocha DM, Santos RF, Silva MER
075 THe incReASinG BURden OF DIABETES MELLITUS AMOnG THe BRAZiLiAn XAVAnTe indiAnS – HOW TO ReVeRSe THiS TendencY? ........................................................................................................................................................................... S120Franco LJ, Dal Fabbro AL, Sartorelli DS, Soares Silva A, Franco LF, Vieira Filho JPB, Moisés RS
076 cinnAMOn eXTRAcT ALTeRS THe MUScLe GLUcOSe UPTAKe OF eXeRciSe-diABeTic RATS ............................................... S121Moura LP, Ribeiro C, Araujo MB, Cambri LT, Dalia RA, Almeida Leme JA, Voltarelli FA, Mello MAR
077 eFeiTO cOMBinAdO de FenOFiBRATO e cReMe enRiQUecidO cOM inSULinA nA cicATRiZAÇÃO de LeSÕeS de AniMAiS diABÉTicOS ..................................................................................................................................... S121Abreu LLF, Picardi PK, Caricilli AM, Trevisan DD, Araujo EP, Saad MJA, Lima MHM
078 SHORT-TeRM PROTein MALnUTRiTiOn diSRUPTS RAT GLUcOSe-indUced inSULin ReLeASe BY inTRAceLLULAR RedOX SiGnALinG MecHAniSM .......................................................................................................................................... S121Capelli APG, Zoppi CC, Batista TM, Silveira LR, Paula MMF, Trevizan A, MR Silva P, Rafacho A, Boshero AC, Carneiro EM
079 eFFecTS OF eLeVATed nUTRienT AVAiLABiLiTY On inTRAceLLULAR BALAnce RedOX And inSULin ReSiSTAnce in SKeLeTAL MUScLe ............................................................................................................................................................. S122Silveira LR, Justa Pinheiro C, Alberici LC, Fiamoncini J, Hirabara SM, Barbosa MR, Sampaio IH, Carneiro EM, Curi R
080 QUALidAde de VidA e AJUSTAMenTO PSicOLÓGicO de PAcienTeS cOM diABeTeS MeLiTO TiPO 1: cOMPARAÇÃO PRÉ e UM AnO APÓS O TRAnSPLAnTe de cÉLULAS-TROncO HeMATOPOiÉTicAS .............................................................. S122Marques LAS, Oliveira-Cardoso EA, Mastropietro AP, Voltarelli JC, Santos MA, Souza AC
081 eFFecT OF inTRALiPid inFUSiOn On SKeLeTAL MUScLe PROTein MeTABOLiSM in RATS ..................................................... S122Góis L, Lira EC, Cassolla P, Zanon NM, Navegantes LCC, Kettelhut IC
082 AdVAnced GLYcATed ALBUMin PRiMeRS MAcROPHAGeS TO S100B cALGRAnULinS And LPS STiMULATiOn THAT iMPAiRS THe MAcROPHAGe ReVeRSe cHOLeSTeROL TRAnSPORT ............................................................................... S123Okuda LS, Rocco DDFM, Nakandakare ER, Catanozi S, Passarelli M
083 eFeiTO dA dieTA HiPeRLiPÍdicA e HiPeRcALÓRicA nA ATiVidAde LiPOLÍTicA dO TecidO AdiPOSO BRAncO ReTROPeRiTOneAL ................................................................................................................................................................ S123Carvalho L, Garofalo MAR, Zanon NM, Chaves, VE, Lira EC, Paula-Gomes S, Frasson D, Filippin EA, Navegantes LCC, Kettelhut IC
S74
Índice
084 cOMPARAÇÃO enTRe cOnSUMO ALiMenTAR e nÍVeL de ATiVidAde FÍSicA HABiTUAL eM MULHeReS cOM LiPOdiSTROFiA PARciAL FAMiLiAR TiPO dUnniGAn .................................................................................................. S123Monteiro LZ, Pereira FA, Navarro AM, Foss-Freitas MC, Montenegro JR RM, Foss MC
085 AVALiAÇÃO dA denSidAde MineRAL ÓSSeA (dMO) eM MULHeReS cOM LiPOdiSTROFiA TiPO dUnniGAn .................... S124Monteiro LZ, Pereira FA, Foss-Freitas MC, Montenegro Jr RM, Foss MC
086 L-ARGininA cROnicAMenTe MOdULA A eXPReSSÃO dA BMP-9 eM TecidO HePÁTicO de RATOS ................................... S124Menezes JGK, Oliveira MB, Sena CMS, Luiz RGS, Castro-Barbosa T, Cogliati B, Dagli MLZ, Lellis-Santos C, Nunes MT, Bordin S, Caperuto LC
087 eFeiTO de diFeRenTeS inTenSidAdeS dO eXeRcÍciO FÍSicO AGUdO nA GLiceMiA de RATOS diABÉTicOS ALOXÂnicOS ........................................................................................................................................................................ S125Arantes LM
088 AnÁLiSe dA ReLAÇÃO enTRe O cOnSUMO de MicROnUTRienTeS AnTiOXidAnTeS cOM MARcAdOReS inFLAMATÓRiOS e de ReSiSTÊnciA À inSULinA eM AMOSTRA de ALTO RiScO cARdiOMeTABÓLicO ............................... S125Folchetti LD, Pires MM, Barros CR, Ferreira SRG
089 VALidAÇÃO dO cÁLcULO dA GLiceMiA MÉdiA eSTiMAdA (GMe) POR MeiO dA dOSAGeM de A1c POR iMUnOTURBidiMeTRiA .......................................................................................................................................................... S125Franco LF, Marchisotti FG, Carvalho AF, Curimbaba EC, Goulart ML
090 MOdULAÇÃO TecidO-eSPecÍFicA dA ViA SiRT1/PGc-1A/AMPK PeLA ReSTRiÇÃO cALÓRicA eM RATOS ......................... S126Rosa LF, Ueno M, Caricilli AM, Prada PO, Saad MJA
091 ciLiARY neUROTROPHic FAcTOR (cnTF) PROTecTiVe eFFecTS in TYPe 1 diABeTeS (dM 1) And SOcS3 ROLe ................. S126Rezende LF, Santos GJ, Carneiro EM, Boschero AC
092 ciLiARY neUROTROPHic FAcTOR (cnTF) PROTecTS AGAinST ALLLOXAn-indUced TYPe 2 DIABETES MELLITUS (dM2) ..... S126Santos GJ, Oliveira CAM, Carneiro EM, Boschero AC, Rezende LF
093 AnÁLiSe dA eXPReSSÃO de PROTeÍnAS dA ViA de SinALiZAÇÃO de inSULinA eM PRÓSTATA de RATOS TRATAdOS cOM deXAMeTASOnA ......................................................................................................................................................... S127Costa MM, Bosqueiro JR
094 eFeiTO de UM PROGRAMA de eXeRcÍciO FÍSicO cOM MOniTOReS cARdÍAcOS SOBRe A HeMOGLOBinA GLicAdA eM PAcienTeS diABÉTicOS TiPO 2 nÃO cOnTROLAdOS ................................................................................... S127Toledo MAF
095 AVALiAÇÃO dA APLicAÇÃO dO MÉTOdO de cOnTAGeM de cARBOidRATOS PARA PAcienTeS diABÉTicOS TiPO 2 ....... S128Ambrosio ACM, Martins MR, Queiroz MS, Martins MR, Nery M
096 BAROPOdOMeTRiA e RnM nO diAGnÓSTicO PRecOce dA neUROARTROPATiA de cHARcOT eM PAcienTeS diABÉTicAS ........................................................................................................................................................................... S128Cordeiro TL, Leite SN, Barros ARSB, Barbosa MHN, Cipriani FRADE M
097 FRAÇÃO F1 dO LÁTeX dA SeRinGUeiRA HEVEA BRASILIENSIS AceLeRA A cicATRiZAÇÃO de ÚLceRAS diABÉTicAS eM RATOS .......................................................................................................................................................... S128Andrade TAM, Masson DS, Foss MC, Cipriani Frade M
098 POLiMORFiSMO nO Gene QUe cOdiFicA A enZiMA TRAnSceTOLASe cOMO FATOR de PROTeÇÃO PARA dOenÇA RenAL cRÔnicA eM PAcienTeS diABÉTicOS TiPO 1 ........................................................................................... S129Monteiro MB, Vieira SMS, Barros RK, Rocha T, Nery M, Queiroz MS, Vendramini MF, Azevedo MJ, Giannella-Neto D, Canani LHS, Correa-Giannella MLC
099 cARAcTeRÍSTicAS dO PeRFiL SÉRicO dA inSULinA LiSPRO APÓS APLicAÇÃO POR ViA SUBcUTÂneA iSOLAdA OU MiSTURAdA cOM A inSULinA GLARGinA nO diABeTeS MeLiTO TiPO 1 .............................................................................. S129Lucchesi MBB, Komatsu WR, Gabbay M, DIB SA
100 eFeiTO dA ReSTRiÇÃO cALÓRicA eM RATOS SUBMeTidOS AO TRATAMenTO cOM OLiGOnUcLeOTÍdiO AnTiSenSe dA AMPK ............................................................................................................................................................ S130Filho JET, Ueno M, Ribeiro RA, Vanzela EC, Barbosa HC, Lucio PA, Boschero AC, Amaral MEC
101 GLiceMiA ALTeRAdA e FATOReS de RiScO ASSOciAdOS eM SeRVidOReS dA UniVeRSidAde eSTAdUAL PAULiSTA (UneSP) .................................................................................................................................................................. S130Trevizani Nitsche MJ, Olbrich SLR, Olbrich J, Mori, NLR
102 FiBRA de cOcO AUMenTA nÍVeiS de HdL-c e RedUZ GLiceMiA ......................................................................................... S130Nakano MT, Tosato MI, Noro KA, Sândalo RH, Herculiani AP, Silva SRF, Carlos PV, Santos, LMP, Guiguer EL, Bueno PCS, Souza MSS, Machado FF, Delazari DS, Araujo AC
S75
Índice
103 PReVALÊnciA de ReSiSTÊnciA inSULÍnicA enTRe cRiAnÇAS e AdOLeScenTeS PORTAdOReS de SOBRePeSO e OBeSidAde ..................................................................................................................................................... S131Almeida CAN, Mello ED, Ribas MG, Marcelino ACR, Beghetto M
104 HiGH inSULin dOSeS indUce PeRiPHeRAL And HePATic inSULin ReSiSTAnce in diABeTic RATS ...................................... S131Okamoto MM, Anhê GF, Silva RS, Marques MFSF, Freitas HSDE, Mori RCT, Machado UF
105 A SenSiBiLidAde BARORReFLeXA nA ATiVidAde SiMPÁTicA PARA AS GLÂndULAS SALiVAReS É AUMenTAdA eM RATOS HiPeRTenSOS e diMinUÍdA PeLA indUÇÃO dO diABeTeS ................................................................................. S131Silva RS, Okamoto MM, Antunes VR, Machado UF
106 ReLÓGiO ciRcAdiAnO dO TecidO AdiPOSO SUBcUTÂneO eSTÁ enVOLVidO cOM OBeSidAde e SÍndROMe MeTABÓLicA eM HUMAnOS ................................................................................................................................................. S132Zanquetta MM, Alonso PA, Guimarães LMMV, Bellandi DM, Meyer A, Giannella MLCC, Villares SMF
107 HÁ ASSOciAÇÃO enTRe ATiVidAde FÍSicA, HÁBiTO ALiMenTAR e eSTAdO PRÓ-inFLAMATÓRiO? ...................................... S132Monfort-Pires M, Salvador EP, Barros CR, Ferreira SRG
108 É POSSÍVeL AUMenTAR A ATiVidAde FÍSicA de PAcienTeS de RiScO cARdiOMeTABÓLicO dURAnTe nOVe MeSeS de inTeRVenÇÃO? ..................................................................................................................................................................... S133Monfort-Pires M, Salvador EP, Siqueira-Catania A, Ferreira SRG
109 A OBeSidAde diMinUi A ATiVidAde dO SiSTeMA endOcAnABinOide VAScULAR: PARTiciPAÇÃO dA enOS, dA AMPK e dA eRK ................................................................................................................................................................ S133Lobato NS, Filgueira FP, Giachini FRC, Carvalho MHC, Webb RC, Tostes RCA, Fortes ZB
110 O FUMO PER SE PARece AcARReTAR AUMenTO nA TRAnScRiÇÃO de GLUT4 e MAnUTenÇÃO de SOcS3 eM RATAS PRenHAS .............................................................................................................................................................................. S133Gomes PRL, Seraphim PM
111 PReVALÊnciA de SÍndROMe MeTABÓLicA e dOenÇAS cARdiOVAScULAReS eM UMA cOMUnidAde niPOBRASiLeiRA ............................................................................................................................................ S134Gomes PM, Foss-Freitas MC, Andrade RCG, Figueiredo RC, Pace AE, Fabbro ALD, Franco LJ, Foss MC
112 O TecidO AdiPOSO nÃO PARTiciPA dA GeRAÇÃO dA MenOR SenSiBiLidAde À inSULinA de RATOS eXPOSTOS À FUMAÇA de ciGARRO ..................................................................................................................................... S134Silva PE, Gomes PRL, Moreira RJ, Oliveira MAN, Machado UF, Seraphim PM
113 ciGAReTTe SMOKe decReASeS inSULin SenSiTiViTY in HeART TiSSUe WHicH cAn Be ReVeRSed BY PHYSicAL eXeRciSe ............................................................................................................................................................... S135Silva PE, Alves T, Fonseca ATS, Oliveira MAN, Machado UF, Seraphim PM
114 O PAPeL dA PTP1B neUROnAL nA ReSiSTÊnciA À inSULinA indUZidA PeLO TnF-ALFA ....................................................... S135Picardi PK, Caricilli AM, Abreu LLF, Saad MJA
115 enVOLViMenTO dA ViA dA Pi3K nA ReGULAÇÃO dA eXPReSSÃO de GLUT4 indUZidA PeLA inSULinA nO MÚScULO SÓLeO de RATOS ................................................................................................................................................. S135Moraes PA, Machado UF
116 enVOLViMenTO dA enZiMA GLUTAMATO deSidROGenASe (GdH) nA MOdULAÇÃO dA SecReÇÃO de inSULinA eM RATOS deSnUTRidOS e SUPLeMenTAdOS cOM LeUcinA .............................................................................. S136Silva PMR, Batista TM, Zoppi CC, Carneiro EM
117 AVALiAÇÃO de dAnOS OXidATiVOS nO dnA de GeSTAnTeS diABÉTicAS e cOM HiPeRGLiceMiA LeVe .......................... S136Gelaleti RB, Alcântara CA, Caetano MJT, Lego EC, Damasceno DC, Lima PHO, Rudge MVC
118 deTeRMinAÇÃO dAS cOncenTRAÇÕeS PLASMÁTicAS de TnF-ALFA e AdiPOnecTinA de GeSTAnTeS diABÉTicAS e cOM HiPeRGLiceMiA LeVe ................................................................................................................................................ S137Lima PHO, Caetano, MJT, Gelaleti RB, Moreli JB, Morceli G, Sinzato YK, Damasceno DC, Calderon IMP, Rudge MVC
119 incReASed ROS PROdUcTiOn ReLATeS TO THe RedUcTiOn OF HdL RecePTORS eXPReSSiOn in MAcROPHAGeS TReATed WiTH AdVAnced GLYcATed ALBUMin ....................................................................................... S137Pinto RS, Paim BA, Nakandakare ER, Vercesi AE, Passarelli M
120 iMPLicAÇÕeS dA iniBiÇÃO dA PROdUÇÃO de McP1 nA AdiPOSidAde indUZidA AGUdAMenTe POR dieTA PALATÁVeL eM cAMUndOnGOS ......................................................................................................................................... S137Lima RL, Menezes Z, Santos MCC, Guglielmotti A, Teixeira MM, Ferreira AVM, Souza DG
122 ATUAÇÃO dA FiSiOTeRAPiA eM PAcienTeS diABÉTicOS nA eSTRATÉGiA de SAÚde dA FAMÍLiA ........................................ S138Lima RAO, Lopes GAP, Fernani DCGL, Freitas CEA, Najas CS, Pissulin FDM, Lopes FS
S76
Índice
123 ALTeRAÇÕeS BiOQUÍMicAS dO diABeTeS eXPeRiMenTAL OBSeRVAdAS eM cOBAiAS TRATAdAS cOM cURcUMinA incORPORAdA eM iOGURTe ................................................................................................................................................ S138Hakime-Silva RA, Gutierres VO, Pinheiro CM, Nunes TN, Vendramini RC, Pepato MT, Brunetti IL
124 PReVALÊnciA de AUTOAnTicORPOS eM UMA POPULAÇÃO de cRiAnÇAS e AdOLeScenTeS PORTAdOReS de diABeTeS MeLiTO TiPO 1 ........................................................................................................................................................ S139Savoldelli RD, Ybarra M, Della Manna T, Damiani D
125 deTeRMinAÇÃO dA FReQUÊnciA e de cARAcTeRÍSTicAS cLÍnicAS ASSOciAdAS A OUTRAS FORMAS de diABeTeS MeLiTO ALÉM dO TiPO 1 eM UM AMBULATÓRiO de endOcRinOLOGiA PediÁTRicA .......................................... S139Savoldelli RD, Ybarra, M, Della Manna T, Damiani D
126 eSTAdO HiPeROSMOLAR nÃO ceTÓTicO e RABdOMiÓLiSe – ReLATO de cASO ............................................................... S139Penhalbel RSR, Pinheiro A, Leite CN, Dias FG, Spressão M, Matos PN, Tacito LHB, Dias MAF, Pires AC
127 incReASed cHOLeSTeROL AccUMULATiOn in MAcROPHAGeS indUced BY SiMULTAneOUS incUBATiOn OF HdL And LdL FROM POORLY cOnTROLLed TYPe 2 DIABETES MELLITUS indiVidUALS .................................................... S140Pereira PHGR, Nunes VS, Oliveira KS, Lottenberg SA, Machado-Lima A, Iborra RT, Quintão ECR, Passarelli M, Nakandakare ER
128 A cenTRAL ROLe FOR neUROnAL MTOR in cAnceR-indUced AnOReXiA ........................................................................ S140Marin RM, Ropelle ER, Rocha GZ, Dias MM, Prada PO, Saad MJA, Carvalheira JBC
129 PeRFiL LiPÍdicO e HiPeRTenSÃO ARTeRiAL: iMPAcTO dO TReinAMenTO FÍSicO de ALTA inTenSidAde eM RATOS SHR ..... S141Dalia RA, Cambri LT, Botezelli JD, Ribeiro C, Almeida-Leme JA, Moura LP, Araujo GG, Mello MAR, Luciano E
130 MeTABOLiSMO dA GLicOSe e inSULinA de RATOS eSPOnTAneAMenTe HiPeRTenSOS: inFLUÊnciA de TReinAMenTO FÍSicO de ALTA inTenSidAde ........................................................................................................................ S141Dalia RA, Cambri LT, Botezelli JD, Ribeiro C, Almeida-Leme JA, Moura LP, Ghezzi AC, Mello MAR, Luciano E
131 VARiABiLidAde GLicÊMicA cOMO FATOR PRediTOR de HiPeRGLiceMiA eM PAcienTeS inTeRnAdOS eM UMA UnidAde de TRAnSPLAnTe de ÓRGÃOS ..................................................................................................................... S141Ribeiro RS, Costa MLM, Almeida SS, Ramos RAC, Yamamoto MT, Ferraz-Neto BH, Durão Junior MS, Carvalho JAM
132 eFeiTOS dA SUPLeMenTAÇÃO cOM MeLATOninA e dO TReinAMenTO FÍSicO AeRÓBiO SOBRe O QUAdRO cLÍnicO de RATOS diABÉTicOS indUZidOS POR eSTRePTOZOTOcinA .............................................................................................. S142Melo RM, Hirabara SM, Lopes AMS, Buonfiglio DC, Amaral FG, Cipolla-Neto J
133 eFeiTOS dA SUPLeMenTAÇÃO cOM MeLATOninA e dO TReinAMenTO FÍSicO AeRÓBiO SOBRe A PROdUÇÃO de MeLATOninA eM RATOS diABÉTicOS indUZidOS POR eSTRePTOZOTOcinA ....................................................................... S142Mendes C, Melo RM, Peres R, Taneda M, Ferreira RFD, Cipolla-Neto J
134 PReGnAncY ReSTOReS inSULin SecReTiOn BUT nOT GLUcOSe TOLeRAnce in cAFeTeRiA dieT-indUced OBeSe RATS ... S143Vanzela EC, Ribeiro RA, Bonfleur ML, Oliveira CAM, Carneiro EM, Boschero AC
135 BUScA de cASOS nOVOS de diABeTeS MeLiTO: UMA AÇÃO eFeTiVA dA ATenÇÃO BÁSicA nA cidAde de BAURU/SP.... S143Reigota RMS
136 eSTUdO dO PROceSSO inFLAMATÓRiO SUBcLÍnicO nO TecidO AdiPOSO de AniMAiS OBeSOS SOB O eFeiTO de BLOQUeAdOReS dO RecePTOR de AnGiOTenSinA ............................................................................................................. S144Amaya SC, Perrella BP, Saad MJA
137 MOdULAÇÃO PeLA GLicOSe dA ARHGAP21 e SUAS PROTeÍnAS ASSOciAdAS eM cÉLULAS Min6 .................................... S144Ferreira SM, Barbosa HC, Rezende LF, Bigarella CL, Saad ST, Boschero AC
138 AVALiAÇÃO dOS MOTORiSTAS dA UniVeRSidAde eSTAdUAL PAULiSTA: incidÊnciA de diABeTeS e FATOReS de RiScOS ASSOciAdOS ........................................................................................................................................................... S144Olbrich SRLR, Trevizani Nitsche MJ, Olbrich J, Mori N
139 ATiVAÇÃO dAS ViAS PROTeOLÍTicAS LiSOSSOMAL e UBiQUiTinA-PROTeASSOMA indUZ ATROFiA eM cORAÇÃO de RATOS diABÉTicOS ............................................................................................................................................................... S145Paula-Gomes S, Zanon NM, Baviera AM, Carvalho L, Gonçalves DAP, Lira EC, Filippin EA, Navegantes LCC, Kettelhut IC
140 PARTiciPAÇÃO dO endOTÉLiO nA MAnUTenÇÃO dA ReSPOSTA VASOcOnSTRiTORA À nORAdRenALinA eM AORTAS de RATAS diABÉTicAS: PAPeL dO nO e dA endOTeLinA ........................................................................................ S145Sartoretto SM, Akamine EH, Tostes RC, Carvalho MHC, Fortes ZB
141 POLiMORFiSMOS nO Gene QUe cOdiFicA O GLUT-1 e dOenÇA RenAL eM PAcienTeS diABÉTicOS TiPO 1 ................... S146Rocha T, Monteiro MB, Vieira SMS, Nery M, Queiroz MS, Vendramini MF, Azevedo MJ, Giannella-Neto D, Canani LHS, Machado UF, Correa-Giannella MLC
S77
Índice
142 eSTUdO ePideMiOLÓGicO de PAcienTeS cOM diABeTeS MeLiTO TiPO 1 A (dM1) dO AMBULATÓRiO de diABeTeS dO HOSPiTAL dAS cLÍnicAS dA FMUSP ...................................................................................................................................... S146Mattana TC, Costa VS, Correa MRS, Santos AS, Rossi FB, Mainardi-Novo DTO, Nery M, Davini E, Crisostomo LG, Gamberini M, Ruiz MO, Fukui RT, Silva MER
143 cd226 Gene POLYMORPHiSM And SUScePTiBiLiTY TO TYPe 1A diABeTeS in A BRAZiLiAn cOHORT .................................. S147Mattana TC, Costa VS, Santos AS, Pinto EM, Fukui RT, Davini E, Silva MER
144 SUPLeMenTAÇÃO cOM TAURinA PReVine O deSenVOLViMenTO de OBeSidAde e inTOLeRÂnciA A GLicOSe eM cAMUndOnGOS ALiMenTAdOS cOM dieTA HiPeRLiPÍdicA ......................................................................................... S147Batista TM, Silva PMR, Carneiro EM
145 AVALiAÇÃO dO cOnTROLe MeTABÓLicO de PAcienTeS cOM diABeTeS MeLiTO eM SeGUiMenTO eM UM PROGRAMA de AUTOMOniTORiZAÇÃO dA GLiceMiA cAPiLAR nO dOMicÍLiO ................................................................ S147Veras VS, Teixeira CRS, Torquato MTCG, Zanetti ML
146 ÁcidO GRAXO eSTeÁRicO AdMiniSTRAdO ViA inTRAceReBROVenTRicULAR PROMOVe inFLAMAÇÃO HiPOTALÂMicA, diMinUiÇÃO nA SecReÇÃO de inSULinA BASAL e eSTiMULAdA cOM GLicOSe e AUMenTO nA eXPReSSÃO dAS PROTeÍnAS PGc1A e UcP2 eM iLHOTAS PAncReÁTicAS iSOLAdAS de RATOS: PARTiciPAÇÃO dO SiSTeMA neRVOSO SiMPÁTicO ............................................................................................................................................................................. S148Calegari VC, Vanzela EC, Zoppi CC, Sbragia L, Silveira LR, Carneiro EM, Velloso LA, Boschero AC
147 HiPeRSenSiBiLidAde AdRenÉRGicA indUZidA PeLA deSneRVAÇÃO SiMPÁTicA LOMBAR RedUZ A deGRAdAÇÃO PROTeicA e eSTiMULA O MeTABOLiSMO de GLicOSe eM MÚScULOS edL de RATOS ................................ S148Silveira WA, Zanon NM, Garófalo MAR, Godinho RO, Kettelhut IC, Navegantes LCC
148 MOdeLO MULTi-inSTRUMenTAL PARA cARAcTeRiZAR A ATiVidAde eLeTROMecÂnicA dO eSTÔMAGO de RATOS diABÉTicOS ............................................................................................................................................................... S149Sinzato YK, Americo MF, Marques RG, Spadella CT, Miranda JR
149 FATOR de ATiVAÇÃO PLAQUeTÁRiA PARTiciPA dO cOnTROLe dA AdiPOSidAde e dO PROceSSO inFLAMATÓRiO nO TecidO AdiPOSO ePididiMAL de cAMUndOnGOS deSAFiAdOS cOM dieTA PALATÁVeL ........................................... S149Menezes Z, Oliveira, MC, Shang FLT, Lima RL, Souza DG, Teixeira MM, Santiago AF, Ferreira AVM
150 PROGRAMA VidA & SAÚde – PROGRAMA de PReVenÇÃO, edUcAÇÃO e cOnTROLe dO diABeTeS e HiPeRTenSÃO – eQUiPe MULTiPROFiSSiOnAL PARA MeLHOR AcOMPAnHAMenTO dO PAcienTe ............................................................ S150Ferreira KD
151 RATAS diABÉTicAS eXPOSTAS À FUMAÇA de ciGARRO: AnÁLiSe dO eSTReSSe OXidATiVO MATeRnO e de AnOMALiAS FeTAiS ............................................................................................................................................................... S150Dallaqua B, Sinzato YK, Lima PHO, Souza MSS, Campos KE, Iessi IL, Bueno A, Saito FH, Rudge MVC, Damasceno DC
152 A HiPeRGLiceMiA MATeRnA ReLAciOnAdA A nÍVeS PLASMÁTicOS de iL-10 e TnF-a e MARcAdOReS dO cReSciMenTOe deSenVOLViMenTO FeTAL ................................................................................................................................................. S151Moreli JB, Ruocco AMC, Sinzato YK, Morceli G, Rosa L, Damasceno DC, Calderon IMP
153 eXTReMA ReSiSTÊnciA À inSULinA SUBcUTÂneA e inTRAMUScULAR eM dM TiPO 1: ReLATO de cASOS .......................... S151Pinheiro A, Penhalbel RSR, Leite CN, Tacito LHB, Pires AC
154 ÁcidOS GRAXOS POLiinSATURAdOS ÔMeGA-3 RedUZeM A ReSiSTÊnciA À inSULinA indUZidA PeLO ÁcidO PALMÍTicO eM cÉLULAS MUScULAReS eSQUeLÉTicAS c2c12 ............................................................................................ S151Koshiyama LT, Nachbar, RT, Fiamoncini J, Barquilha G, Gorjao R, Lambertucci RH, Martins AR, Cury-Boaventura MF, Silveira LR, Leandro CG, Pithon-Curi TC, Curi R, Hirabara SM
155 nAd(P)H OXidASe PARTiciPA dA PROdUÇÃO de SUPeRÓXidO e SecReÇÃO de inSULinA eSTiMULAdAS PeLO PALMiTATO eM iLHOTAS PAncReÁTicAS de RATAS ............................................................................................................... S152Graciano MFR, Santos LRB, Britto LRG, Carpinelli AR
156 ÁcidO OLeicO AUMenTA A SecReÇÃO de inSULinA POR MeiO de SeU MeTABOLiSMO ................................................... S152Santos LRB, Carpinelli AR
157 cARAcTeRÍSTicAS de ALGUnS FATOReS de RiScO dA dOenÇA cARdiOVAScULAR eM ViRTUde dAS cOncenTRAÇÕeS de inSULinA PLASMÁTicA ..................................................................................................................... S153Kim V, Gerez R, Marques MCA, Sakon JR, Oliveira LEM, Barreto AC, Giacaglia LR, Silva MER, Santos RF
158 cURcUMinA incORPORAdA eM iOGURTe MeLHORA AS ALTeRAÇÕeS FiSiOLÓGicAS dO diABeTeS eXPeRiMenTAL ....... S153Gutierres VO, Pinheiro CM, Nunes TN, Vendramini RC, Pepato MT, Brunetti IL
159 eSTAdO nUTRiciOnAL e cARAcTeRiZAÇÃO dO cOnSUMO ALiMenTAR de PAcienTeS cOM diAGnÓSTicO de SÍndROMe de OVÁRiOS POLicÍSTicOS encAMinHAdAS AO AMBULATÓRiO BORGeS dA cOSTA – Hc/UFMG – BeLO HORiZOnTe, MinAS GeRAiS ......................................................................................................................................... S154Ferreira AVM, Oliveira DAAB, Ribeiro DO, Santos LC, Calixto CFS, Mérici TDP, Oliveira GFM, Cândido AL, Souza GBP, Ventura LLA
S80
ReSUMOS de PAinÉiS de PeSQUiSA
I.1inHiBiTiOn OF THe endOPLASMic ReTicULUM STReSS in MAcROPHAGeS PReVenTS THe RedUcTiOn OF ABcA-1 indUced BY GLYcATed ALBUMin castilho G1, Sartori cH1, Machado-Lima A1, nakandakare eR1, Santos cX2, Laurindo FRM2, Passarelli M1
1 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Laboratório de Lípides (LIM 10). 2 Instituto do Coração da FMUSP, Laboratório de Biologia Vascular, SP, Brasil
Objectives: In vivo and in vitro glycated albumin (gly-alb) reduces ABCA-1 protein levels, which is not related to alterations in ABCA-1 gene transcription or mRNA levels. We tested in macrophages the in vitro and in vivo effects of gly-alb on the endoplasmic reticulum (ER) stress and on the unfolded protein response (UPR) that trig-ger protein degradation. Methods: Gly-alb was made by incubating bovine albumin with 10 mM glycolaldehyde (4 days, 37ºC), and control albumin (C-alb) with PBS alone. In vivo gly-alb (DM-alb) was isolated from uncontrolled diabetes mellitus patients serum by FPLC (HbA1c > 10%). Mouse peritoneal macrophages (MPM) were incubated with C-alb or gly-alb along time and ER stress ma-rkers assessed by immunoblot. ABCA-1 content was determined by immunocytochemistry in MPM treated with gly-alb in the absence or presence of the proteasomal inhibitor (MG132, 1 mM), or the ER stress inhibitor 4-phenylbutyric acid (PBA, 5 mM). Results: As compared to C-alb, gly-alb induced a time-dependent increase in Grp78,Grp94,eIf2a,ATF6 and ubiquitin indicating ER stress. No difference was observed in CHOP expression which indicates lack of apoptotic signaling. DM-alb induced greater expression of both PDI and ubiquitin comparing to albumin from non diabetics indi-cating cell redox imbalance and proteasomal activation, respectively. Nonetheless, PBA, but not MG132, was able to recover the ABCA-1 content in gly-alb-treated MPM. Conclusion: Glycated albumin induces ER stress and triggers UPR adaptive pathways leading to ABCA-1 reduction in macrophages. Inhibition of the ER stress re-covers the ABCA-1 content thus improving the macrophage reverse cholesterol transport in diabetes mellitus. Funding: Fapesp (Brazil).
I.2O eFeiTO dA ATiVidAde cOnTRÁTiL SOBRe A eXPReSSÃO de MiTOFUSinA 2 – PARTiciPAÇÃO dA SinALiZAÇÃO de cÁLciO e AMPK Lima GA1, Zorzano A2, Machado UF1
1 Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo (ICB/USP), Fisiologia e Biofísica. 2 2 Instituto de Pesquisa em Biomedicina – Biologia Molecular, Barcelona, Espanha
Introdução: A biogênese mitocondrial é um processo que envol-ve fusão e fissão de mitocôndrias. A proteína mitofusina 2 (MFN2) se encontra na membrana mitocondrial, está envolvida no proces-so de fusão e é fundamental para a formação da rede mitocondrial. Sabe-se que a expressão de MFN2 é reduzida em músculo de ra-tos e de humanos obesos, e esse fenômeno está acompanhado de uma diminuição da oxidação de ácidos graxos. Sabe-se também que a superexpressão de MFN2 promove um aumento da oxidação de glicose. A contração muscular efetua suas respostas biológicas por, entre outros, ativar a proteína AMPK e a sinalização por cálcio. Ob-jetivos: Analisar a expressão de MFN2 sob a atividade contrátil e verificar qual região do promotor é ativado por sinalização de cálcio e pela AMPK. Métodos: Músculos sóleos de ratos Wistar foram in-cubados em tampão Krebs-Hanseleit, por 40 min. Posteriormente, o músculo da pata direita recebeu estímulo elétrico supramáximo para a contração muscular, enquanto o músculo da pata esquerda permaneceu como controle. O estímulo durou 10 s, seguido de 50 s de intervalo, por 10 min (totalizando 10 contrações de 10 s). Os mús-culos permaneceram na incubação até completar 120 min do início
do estímulo e logo após foram congelados para posterior extração de proteínas e análise da expressão de MFN2 por Western Blotting. Gene repórter: células C12C12 foram transfectadas com plasmídeos com 1 Kb (onde estão a região de ligação dos fatores MEF2 e a caixa responsiva ao coativador PGC1a) ou com 432 pb (onde está a caixa ativada pelo coativador PGC1a) do promotor da MFN2. Esses plasmídeos contêm também uma região codificadora que expressa a proteína luciferase. Depois de três dias de diferenciação, os miotubos foram tratados com AICAR (ativador da AMPK) a 2 mM, cafeína a 3 mM ou AICAR + cafeína, por 3 horas; após esse período o meio de diferenciação foi trocado e, após mais 3 horas, as células foram lisadas para análise da luminescência emitida pela luciferase. Análise estatística: Teste “t” de Student para amostras pareadas e ANOVA one-way com pós-teste Bonferroni. Resultados: A contração muscu-lar promoveu aumento de 50% (P < 0,05) na expressão da proteína MFN2. Nas células transfectadas com 1 Kb do promotor de MFN2, o AICAR promoveu ativação de 80%, a cafeína de 210% (P < 0,05) e cafeína + AICAR de 200% (P < 0,05) no gene da MFN2. Nas células transfectadas com 432 pb do promotor de MFN2, o AICAR pro-moveu aumento de 45% (P < 0,01), e nem a cafeína nem cafeína + AICAR aumentaram a ativação do gene da MFN2. Discussão: A ati-vidade contrátil aumenta a expressão de MFN2 em músculo sóleo de ratos Wistar. Os ensaios de transfecção mostram que tanto a sinaliza-ção de cálcio quanto a ativação da proteína AMPK (que são ativados durante a atividade contrátil) promovem o aumento da expressão do gene da MFN2, atuando sobre as caixas responsivas ao MEF2 e ao PGC1a. Quando se eliminou o sítio de ligação para MEF2, apenas o AICAR tem efeito estimulador. Esses dados sugerem que a con-tração muscular aumenta a expressão da proteína MFN2 por ativar a sinalização por cálcio e a proteína AMPK, e estes, por sua vez, levam à ativação dos fatores transcricionais MEF2 e do coativador PGC1a. Apoio financeiro: Capes (4384-08-3) e Fapesp (06/58922-7).
I.3eXPReSSÃO GÊnicA diFeRenciAL eM POPULAÇÕeS LinFOciTÁRiAS de PAcienTeS diABÉTicOS TiPO 1A Rassi dM1
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Clínica Médica, SP, Brasil
O diabetes melito do tipo I (DM-1) é uma doença autoimune cau-sada pela destruição seletiva das células betapancreáticas, produtoras de insulina, pela ação de linfócitos autorreativos. Considerada mul-tifatorial, participam da patogenia da doença fatores imunológicos, ambientais e genéticos. Com relação aos fatores genéticos, tem sido sugerido que a doença apresenta herança poligênica, sendo os ge-nes candidatos os do complexo principal de histocompatibilidade (MHC), apontados como aqueles que conferem maior grau de sus-cetibilidade. O entendimento da interação genética, associado com o início e a progressão do DM-1, tem sido limitado pelo uso de en-saios capazes de detectar somente algumas anormalidades associadas à doença. Com o recente advento da tecnologia dos microarrays, tornou-se possível detectar, simultaneamente, a expressão de milha-res de genes de uma única amostra. Assim, nesse estudo foi avaliada a expressão gênica em larga escala em células linfomononucleares de 6 pacientes com DM-1 recém-diagnosticados e 6 indivíduos controle, pareados aos pacientes em relação ao sexo e idade. Essas células fo-ram separadas por gradiente de densidade, e o RNA total foi extraí-do. A expressão gênica em larga escala foi avaliada utilizando lâminas de vidro, com 4.608 clones de cDNA provenientes da biblioteca IMAGE. Amostras de RNA íntegras foram submetidas à transcrição reversa, e as sondas complexas de cDNA foram marcadas com dois fluorocromos. Para a aquisição das imagens, foi utilizado um leitor de laser. Após normalização e centralização dos dados, esses foram analisados utilizando os programas Cluster, Treeview e SAM (Sig-nificance Analysis of Microarray). Com a utilização dos programas Cluster e Treeview, foi possível caracterizar a assinatura de hibrida-
S81
ReSUMOS de PAinÉiS de PeSQUiSA
ção dos pacientes com DM-1, bem como agrupar genes com perfis de expressão semelhantes. Análise estatística realizada pelo programa SAM detectou diferença na expressão de 30 genes, sendo 21 indu-zidos e 9 reprimidos, quando os pacientes com DM-1 foram com-parados com indivíduos controle. A identificação dos genes diferen-cialmente expressos pode contribuir grandemente para a obtenção de um banco de dados, com assinaturas de hibridação dos pacientes com DM-1, para futuros estudos relacionados com o estadiamento, quadro clínico, eficiência do tratamento e prognóstico da doença.
I.4ReSiSTÊnciA À inSULinA e eSTeATOePATiTe nÃO ALcOÓLicA (nASH)carvalho BM1, Guadagnini d1, cintra de1, Tskumo dML1, Ueno M1,Saad MJA1
1 Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas (FCM/Unicamp), Clínica Médica, SP, Brasil
Introdução: A doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD) é caracterizada pelo acúmulo de gordura no fígado, podendo progre-dir para eventos de inflamação, fibrose e cirrose, sendo denominada de esteatoepatite não alcoólica (NASH). Essa doença está extrema-mente ligada à obesidade e ao diabetes tipo 2, principalmente pelo fenômeno da resistência à insulina, em que a inflamação presente prejudica a via de sinalização desse hormônio. Métodos: Camun-dongos Swiss foram submetidos ao tratamento com um coquetel de antibióticos (ampicilina, neomicina e metronidazol – 1 g/L), enquanto outros animais ficaram sob regime de pair-fed com die-ta hiperlipídica. Soro foi obtido de sangue coletado da veia porta para dosagem de lipopolissacarídeos (LPS). Em outra abordagem, camundongos da mesma linhagem foram anestesiados, sofreram es-plenectomia e foram comparados a animais que foram submetidos à cirurgia Sham, alimentados com dieta hiperlipídica ou ração-padrão. Clamp hiperinsulinêmico-euglicêmico foi realizado para determina-ção da sensibilidade à insulina. Em ambas as situações, proteínas do fígado foram extraídas em tampão específico e analisadas por Wes-tern Blotting, além de histologia de tecido adiposo e hepático. Re-sultados e discussão: Os camundongos que foram submetidos à antibioticoterapia possuíam níveis reduzidos de LPS em comparação aos animais em pair-fed, levando à redução da ativação de proteí-nas inflamatórias que induzem resistência à insulina e da infiltração de macrófagos em fígado e tecido adiposo, consequentemente me-lhorando a via de sinalização desse hormônio. Em camundongos esplenectomizados submetidos à dieta hiperlipídica, evidenciou-se potente aumento na sensibilidade à insulina quando comparados aos animais que tiveram o baço preservado. Na avaliação das pro-teínas do fígado desses animais, também se observaram importante redução da atividade de proteínas inflamatórias e maior ativação das proteínas da via de sinalização da insulina. Na avaliação dos tecidos, detectou-se redução tanto no nível de esteatose como de infiltração de macrófagos no fígado, também havendo menor presença dessas células no tecido adiposo. Apoio financeiro: Fapesp; CNPq.
I.5AVALiAÇÃO dA FUnÇÃO de cÉLULA BeTA, ReSiSTÊnciA e SenSiBiLidAde inSULÍnicA dOS PAcienTeS PORTAdOReS de HeMOcROMATOSe SecUndÁRiA nORMOGLicÊMicOS Petry TBZ1, Ferraz cS1, calmon Ac2, Ochiai cM1, Santos Mc3, Melo MR4, Scalissi n3, cançado R3, Salles Jen5
1 Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (ISCMSP), Endocrinologia e Metabologia. 2 ISCMSP, Clínica Médica. 3 ISCMSP, Endocrinologia. 4 ISCMSP, Endocrinologia Pediátrica. 5 Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP), Medicina Endocrinologia, SP, Brasil
Introdução: A hemocromatose secundária ocorre predominante-mente em pessoas com distúrbios crônicos da eritropoese, incluindo a anemia falciforme, como consequência de frequentes transfusões
sanguíneas. O depósito progressivo de ferro pode provocar hepato-megalia, elevação das enzimas hepáticas e eventual desenvolvimento de cirrose e fibrose. O diabetes melito ocorre em até 48% dos pacien-tes, por causa do progressivo acúmulo de ferro nas ilhotas pancreáti-cas, o qual parece ser seletivo nas células beta, provocando apoptose delas. Objetivo: Correlacionar os índices de resistência insulínica e função de célula beta em pacientes com hemocromatose secundária sem diabetes com o depósito de ferro hepático e ferritina e compará-los com indivíduos normais. Pacientes e métodos: Foi realizado es-tudo transversal com 10 pacientes com hemocromatose secundária a múltiplas transfusões sanguíneas sem DM, comparando-os a 10 pacientes normais pareados por idade, sexo e peso. Verificaram-se a resistência insulínica dos pacientes, por meio dos cálculos de HOMA 2 S, HOMA 2 IR, e a função de célula beta, por meio do HOMA2 B, obtidos mediante o HOMA calculator, 1/insulina jejum, além do índice preditor de desenvolvimento do DM (Dio) proposto por Kahn e col. Todos os pacientes que apresentavam ferritina acima de 1.000 ng/mL realizaram ressonância magnética (RNM) de abdome para quantificar o depósito de ferro no fígado. Considerou-se p estatisti-camente significante: p < 0,05. Resultados: Entre os pacientes com hemocromatose, verificou-se correlação positiva entre a ferritina e o depósito de ferro no fígado observado na RNM (R = 0,891 e p = 0,003) e entre os níveis de ferritina e o HOMA 2 IR (R = 0,739 e p = 0,015); e correlação negativa entre ferritina e HOMA 2 S (R = 0,838 e p = 0,002) e 1/insulina jejum (R = 0,763 e p = 0,010). Não houve diferença estatisticamente significante quanto à sensibilidade e à resistência insulínica calculadas pelo HOMA 2 S (p = 0,516) e IR (p = 0,631) e 1/insulina jejum (p = 0,565), quando comparados os pacientes aos controles. Não se encontrou correlação do HOMA 2 B com os níveis de ferritina (p = 0,075), e não houve diferença estatística em comparação com normais (p = 0,140). Comparando-se o Dio, não houve diferença estatisticamente significante (p = 0,186) entre os grupos estudados. Conclusão: O depósito de ferro intra-he-pático correlacionou-se positivamente com marcadores de resistência insulínica, e não com disfunção de célula beta; em comparação com normais, os indivíduos com hemocromatose não apresentaram maior resistência insulínica e disfunção de célula beta.
II.1dUAL eFFecT OF AdVAnced GLYcATiOn end PROdUcTS (AGeS) in PAncReATic iSLeT APOPTOSiS And THe PROTecTiVe ROLe OF BenFOTiAMine And MiTOQ costal FSL1, Oliveira eR1, Raposo ASA1, Machado-Lima A2, Passarelli M2, Giannella-neto d1, correa-Giannella MLc1
1 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Laboratório de Endocrinologia Celular e Molecular (LIM 25). 2 FMUSP, Laboratório de Lípides (LIM 10), SP, Brasil
Introduction: Loss of beta cell function hastens the deterioration of metabolic control in people with type 2 diabetes. Besides lipo- and glucotoxicity, AGEs seem to contribute to this process by pro-moting islet apoptosis. In other tissues, AGEs interact with their specific receptors (RAGEs) and elicit reactive oxygen species (ROS) generation and NF-kB activation. Methods: In order to investigate the temporal effect of AGEs on islet apoptosis as well as the po-tential of antioxidant compounds to decrease islet damage caused by AGEs, rat pancreatic islets were treated for 24, 48, 72 and 96 h with either AGEs generated from co-incubation of bovine serum albumin (BSA) with D-glyceraldhyde (GAD, 5 mg/mL) or BSA (5 mg/mL, control). Apoptosis was evaluated by quantification of DNA fragmentation (ELISA), caspase-3 enzyme activity and de-tection of mitochondrial permeability transition (MitoProbe JC-1). The expression of the genes Bax, Bcl2 and Nfkb1 was evaluated by RT-qPCR. Results: In the time points at which increased apoptosis was detected, the effect of two antioxidant compounds was evalua-ted: benfotiamine (350 mM), a liposoluble vitamin B1, and Mito Q
S82
ReSUMOS de PAinÉiS de PeSQUiSA
(1 µM), a derivative of ubiquinone targeted to mitochondria. In 24 and 48 h, AGEs elicited a significant decrease in the apoptosis rate in comparison to the control condition concomitantly with a signifi-cant increase in the RNA expression of the antiapoptotic gene Bcl2 and a significant decrease in the Nfkb1 RNA expression. In con-trast, after 72 and 96 h, AGEs promoted a significant increase in the apoptosis rate in comparison to the control condition concomitantly with a significant decrease in Bcl2 RNA expression and a significant increase in Nfkb1 RNA expression. Conclusion: Benfotiamine and Mito Q were able to decrease the apoptosis rate of islets exposed to AGEs for 72 and 96 h. In conclusion, AGEs exerted a dual effect in cultured pancreatic islets, being protective against apoptosis af-ter short exposition but proapoptotic after prolonged exposition. Mito Q and benfotiamine deserve further evaluation as drugs that could offer islet protection in conditions of chronic hyperglycemia. Fapesp: 07/53870-1. Acknowledgement: Dr. Michael P. Murphy.
II.2ReSiSTÊnciA À inSULinA MUScULAR indUZidA POR ÁcidOS GRAXOS: PAPeL dA MiTOcÔndRiA e dA cOnTRAÇÃO MUScULARHirabara SM1, nachbar RT2, camargo LFT1, Fiamoncini J2, Koshiyama LT2, Fujiwara H2, Martins AR3, Lambertucci RH2, Gorjao R1, Silveira LR4, Pithon-curi Tc5, Leandro cG6, curi R2
1 Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL), Programa de Pós-graduação em Ciências do Movimento Humano − ICAFE. 2 Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo (ICB/USP), Fisiologia e Biofísica. 3 Universidade Federal do Ceará (UFC), Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas. 4 Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP), USP. 5 UNICSUL, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. 6 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Nutrição, PE, Brasil
Introdução: Aumento de ácidos graxos (AG) livres no plasma ocor-re em condições de resistência à insulina, como obesidade e diabe-tes melito. Por esse motivo, o envolvimento desses metabólitos no desenvolvimento dessa resistência tem sido postulado, apesar de os mecanismos envolvidos ainda não serem completamente conheci-dos. Esse estudo teve como objetivo investigar o efeito da contração muscular e de AG saturados e insaturados sobre a resposta à insulina, função mitocondrial e expressão de genes em células musculares es-queléticas (CME) em cultura. Métodos: CME C2C12 e primária de rato foram tratadas por 24 h com 0,1 mM de AG saturados (palmí-tico e esteárico) e insaturados [oleico, linoleico, eicosapentaenoico (EPA) e docosa-hexaenoico (DHA)]. Avaliaram-se o metabolismo basal de glicose estimulado pela insulina, a função mitocondrial, a produção de espécies reativas de oxigênio (ERO) e a expressão de citrato sintase e PGC-1a. O efeito da contração muscular, intensi-dade moderada (5 V) por 60 min, também foi investigado sobre a cultura primária de CME de rato. Resultados: Os ácidos palmítico e esteárico reduziram o metabolismo de glicose estimulado pela in-sulina [síntese de glicogênio em 22% e 18% (p < 0,01), oxidação de glicose em 36% e 34% (p < 0,001) e produção de lactato em 32% e 25% (p < 0,001), respectivamente] e inibiram a oxidação basal de glicose em 44% e 30%, respectivamente (p < 0.01). Esses AG alteraram a função mitocondrial, como demonstrado por uma me-nor hiperpolarização em 62% e 48% (p < 0,001) e geração de ATP em 42% e 22% (p < 0,01), respectivamente, em resposta à glicose. Houve aumento na produção de ERO (35% e 38%, p < 0,01) e redução na expressão de citrato sintase (28% e 42%, p < 0,05) e PGC-1a (31% e 34%, p < 0,01) pelos ácidos palmítico e esteárico, respectivamente. Por outro lado, AG insaturados não tiveram efeito significativo sobre o metabolismo de glicose e a função mitocondrial. Já a contração muscular aumentou a resposta à insulina (captação de glicose) em 57% (p < 0.001), a produção de ERO em 25% (p < 0,05) e a expressão de PGC-1a e citrato sintase em 127% e 51% (p < 0,01), respectivamente. Conclusão: Esses resultados são sugestivos de que resistência à insulina induzida pelos AG saturados está diretamente
relacionada com uma disfunção mitocondrial associada ao estresse oxidativo crônico e redução na expressão de genes envolvidos na capacidade oxidativa e biogênese mitocondrial em CME. Por outro lado, a contração leva ao aumento na resposta à insulina, produção de ERO e expressão de citrato sintase e PGC-1a. Apoio financeiro: Fapesp, CNPq, Capes, INCT de obesidade e diabetes.
II.3AVALiAÇÃO AnTROPOMÉTRicA, denSidAde MineRAL ÓSSeA e cOMPOSiÇÃO cORPORAL de PAcienTeS PORTAdOReS de LiPOdiSTROFiA PARciAL FAMiLiAR Monteiro LZ1, Pereira FA1, Foss-Freitas Mc1, Montenegro Jr RM2, Foss Mc1
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Clínica Médica, SP. 2 Hospital Universitário, Universidade Federal do Ceará (HU-UFC), Endocrinologia e Metabologia, CE, Brasil
Introdução: A gordura central está associada a diabetes melito, dislipidemia e hipertensão arterial. A obesidade está relacionada à resistência insulínica e às síndromes lipodistróficas, que têm como característica a ausência ou redução de tecido adiposo subcutâneo em determinada região do corpo. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar índices antropométricos, densidade mineral óssea e composição corporal de pacientes com lipodistrofia parcial familiar (LPF). Métodos: Estudo de abordagem quantitativa, descritivo e transversal, com 18 mulheres diagnosticadas com LPF e 18 mulheres controles (GC), em que foram verificadas as variáveis antropométri-cas (peso, altura, IMC, circunferência abdominal e quadril, RCQ). Foram avaliados: densidade mineral óssea (DMO) de coluna total (L1-L4), colo femoral, quadril total, antebraço e composição cor-poral (CC), massa magra (MM), massa gorda (MG), porcentagem de gordura por meio de DXA (Hologic 4500 W). Resultados: As mulheres com LPF apresentaram: idade = 35,6 ± 13 anos, peso = 64,7 ± 14,1 kg, altura = 1,61 ± 0,07 m, IMC = 24,8 ± 4,2 kg/m2, circunferência abdominal = 81,8 ± 11,1 cm, circunferência quadril = 93,61 ± 12,01 cm, RCQ = 0,87 ± 0,04 cm vs. GC idade = 35,6 ± 13 anos, peso = 63,9 ± 12,4 kg, altura = 1,62 ± 0,07 m, IMC = 24,4 ± 4,8 kg/m2, circunferência abdominal = 78,5 ± 12,5 cm, circunferência quadril = 97,94 ± 10,81 cm, RCQ = 0,80 ± 0,05 cm. Não se observaram diferenças significativas entre os grupos quanto a DMO de quadril total (LPF = 0,875 ± 0,10 g/cm2 vs. GC = 0,894 ± 0,09 g/cm2), antebraço (LPF = 0,616 ± 0,06 g/cm2 vs. GC = 0,650 ± 0,04 g/cm2), coluna total (LPF = 0,994 ± 0,14 g/cm2 vs. GC = 1,011 ± 0,12 g/cm2), colo femoral (LPF = 0,795 ± 0,18 g/cm2 vs. GC = 0,810 ± 0,83 g/cm2) e BMD subtotal (LPF = 0,872 ± 0,08 g/cm2 vs. GC = 0,889 ± 0,78 g/cm2), ainda que os valores no grupo lipodistrófico fossem discretamente menores do que os do grupo controle. Como esperado, a porcentagem de gordura (LPF = 23,51 ± 9,5% vs. GC = 36,02 ± 6,1% p < 0,05) e MM (LPF = 42519,88 g vs. GC = 35806,95 g p < 0,05) foi significativamente diferentes entre os grupos. Discussão: Neste estudo, procurou-se avaliar a DMO em pacientes com LPF e sem LPF, o que não revelou diferenças significativas entre esses grupos. Por outro lado, verificou-se que as pacientes com a lipodistrofia apresentaram diferenças significativas em relação a MM, MG e porcentagem de gordura.
II.4ReSPOSTA inFLAMATÓRiA indUZidA POR OBeSidAde AceLeRA O cReSciMenTO de enXeRTOS de cÂnceR de PRÓSTATARocha GZ1, dias MM1, Ropelle eR1, Saad MJA1, carvalheira JBc1
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Clínica Médica, SP, Brasil
O processo inflamatório crônico e de baixo grau observado em pa-cientes obesos estabelece estreita relação com o desenvolvimento
S83
ReSUMOS de PAinÉiS de PeSQUiSA
da resistência à insulina e, consequentemente, hiperinsulinemia. Um estudo recente sobre o câncer de próstata demonstrou que a obesidade é um importante fator prognóstico adverso nesse tipo de tumor. Atualmente, acredita-se que a hiperinsulinemia seja um fator determinante para o aumento da incidência de câncer de próstata em pacientes obesos, no entanto a participação do pro-cesso inflamatório relacionado ao desenvolvimento do câncer de próstata ainda não foi documentado. A fim de investigar os efeitos da inflamação e hiperinsulinemia induzidas pela obesidade sobre o crescimento do câncer de próstata, camundongos (SCID) foram alimentados com dieta controle ou dieta rica em gordura por oito semanas e inoculados com linhagens de células de câncer de prós-tata PTEN-positiva (DU145) e PTEN-negativa (PC-3). Os resul-tados mostraram que camundongos obesos e hiperinsulinêmicos apresentaram maior crescimento do tumor de ambas as linhagens (DU145 e PC-3), em comparação ao grupo controle. Amostras obtidas dos xenoenxertos de camundongos obesos apresentaram aumento da atividade de vias inflamatórias, IKKb e c-Jun NH2 terminal, e da via de crescimento celular PI3K/Akt/mTOR, em relação às amostras dos xenoenxertos obtidas dos animais contro-les. O tratamento com o anticorpo monoclonal contra o TNF-a, o infliximab, atenuou as vias inflamatórias e de crescimento nos tumores de animais obesos. Interessantemente, o tratamento com infliximab em camundongos obesos reduziu o crescimento tumoral nas duas linhagens, DU145 e PC-3. Além disso, mostrou-se que DU145, quando cultivada como xenoenxertos em camundongos, são sensíveis à redução da hiperinsulinemia induzida pelo tratamen-to com octreotídeo, enquanto as células PC-3, que apresentam ati-vação constitutiva da PI3K/Akt, são resistentes ao tratamento com octreotídeo. Assim, o presente estudo documenta que a resposta inflamatória de baixo grau observada na obesidade, de forma inde-pendente à hiperinsulinemia, impulsiona o crescimento de xenoen-xertos de câncer de próstata.
II.5HOMeOSTASe dO cÁLciO eM iLHOTAS de LAnGeRHAnS eM MOdeLOS de ReSiSTÊnciA À inSULinAOliveira cAM1
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Anatomia, Biologia Celular, Fisiologia e Biofísica, SP, Brasil
O íon cálcio (Ca2+) regula diversas funções celulares que variam des-de a fertilização até a morte celular. Nas células beta do pâncreas, sua função mais conhecida é o desencadeamento da secreção de insulina. O metabolismo da glicose nessas células causa o fechamento dos canais de potássio ATP-dependentes (KATP), despolarizando a mem-brana plasmática, com subsequente abertura dos canais de cálcio voltagem-dependentes e influxo desse íon. O aumento na concen-tração intracelular de cálcio é organizado em oscilações, que estão acopladas à secreção pulsátil de insulina. Essas oscilações parecem ser importantes para uma ação otimizada do hormônio. De fato, essas oscilações de cálcio parecem ser bastante relevantes, uma vez que o desaparecimento da liberação pulsátil de insulina é considera-do um indicador inicial de diabetes. Modelos animais, como o rato Goto-Kakizaki (GK), e um modelo farmacológico, no qual a droga diabetogênica streptozotocina é administrada em ratos no período neonatal (nSTZ), têm permitido ampliar o conhecimento sobre a homeostase do cálcio nas células beta. Os ratos GK e nSTZ apresen-tam resistência à insulina e são modelos de DM2 muito utilizados. Apesar de a doença ser provocada por fatores distintos nesses dois modelos, eles apresentam alterações no manejo do cálcio nas ilhotas pancreáticas bastante semelhantes. A redução inicial da concentra-ção de cálcio intracelular ([Ca2+]i) estimulada por glicose, que ocorre pelo sequestro do cálcio para o retículo endoplasmático via ativação
da SERCA (sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase pump), não é observada. Atraso no aumento de [Ca2+]i acima dos valores basais na presença de concentração estimulatória de glicose e menores taxa de aumento e nível máximo de [Ca2+]i em resposta à alta concentração de glicose também ocorre. Além de provocar a extrusão dos grânu-los de insulina, o cálcio ativa fatores de transcrição (CREB, NFAT) que promovem a expressão de genes essenciais para a manutenção da célula beta e da própria insulina. Dessa forma, a perda da homeos-tase do cálcio, além de prejudicar a liberação desse hormônio, pode agravar a disfunção da célula beta. Numa situação em que apenas a resistência à insulina está presente, essas alterações do manejo do cálcio poderiam colaborar para o estabelecimento do DM2. Suporte financeiro: Fapesp (07/55593-5).
III.1inFLUÊnciA dA ReSiSTÊnciA inSULÍnicA nA QUAnTidAde de RnA MenSAGeiRO dO RecePTOR GLicOcORTicOide (GRa) eM TecidO AdiPOSO, MÚScULO e LinFÓciTOScastro RB1
1 Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (ISCMSP), Endocrinologia, SP, Brasil
Introdução: A resistência insulínica está implicada na origem das alterações metabólicas responsáveis por um grupo de doenças car-diovasculares. Como um dos fatores determinantes de resistência insulínica, destacam-se os glicocorticoides. Objetivo: Quantificar o RNA mensageiro (RNAm) do GRa nos diferentes tecidos de indivíduos com doença cardiovascular já estabelecida e correlacio-nar a quantidade de RNAm do GRa à sensibilidade hipotálamo-hipofisária ao glicocorticoide. Casuística e métodos: Avaliaram-se 26 homens e 9 mulheres (n = 35) submetidos à cirurgia cardíaca. Amostras de tecidos adiposo subcutâneo e adiposo visceral epicár-dico, músculo e células mononucleares de sangue periférico foram obtidas para quantificação de RNAm do GRa por PCR em tempo real. Sessenta dias após a cirurgia, 17 pacientes foram submetidos ao teste de supressão com dexametasona intravenosa (20 μg/m2) e coleta de sangue periférico para avaliação molecular. A resistência insulínica foi definida em pacientes que apresentavam HOMA IR maior que 2,71. Resultados: A idade variou entre 36 e 75 anos [média (DP) = 54,4 (11,1)]. O diagnóstico de resistência insulínica foi estabelecido em 13/35 dos pacientes. O músculo apresentou maior quantidade de RNAm do GRa [média (DP) = 43,6 (38,3), mediana (p25-p75) = 39,4 (17,2-52,9)] do que o tecido adiposo visceral epicárdico [média (DP) = 34,2 (37,8), mediana (p25-p75) = 27,6 (11,8-44,9); p = 0,04], que o adiposo subcutâneo [média (DP) = 29,0 (38,1), mediana (p25-p75) = 19,0 (8,5-27,7); p < 0,001] e que os linfócitos [média (DP) = 17,5 (11,2), mediana (p25-p75) = 14,02 (7,6-25,0); p < 0,001]. Quando comparados aos pacientes sem resistência insulínica, os pacientes diabéticos apresentaram menor quantidade de RNAm do GRa em tecido adiposo visceral epicárdico [média (DP) = 12,4 (10,7), mediana (p25-p75) = 12,0 (5,1-16,5)] versus [média (DP) = 42,8 (44,0), mediana (p25-p75) = 30,9 (16,6-48,2)]. O HOMA IR foi inver-samente proporcional ao percentual de supressão do cortisol após dexametasona (r = -0,575; p = 0,03). Não houve correlação do per-centual de supressão do cortisol após dexametasona com o RNAm do GRa em linfócitos (r = 0,347; p = 0,22). Conclusão: A quanti-dade de RNAm do GRa foi diferente entre os diversos tecidos. No tecido adiposo visceral epicárdico houve diminuição da quantidade de RNAm do GRa inversamente relacionada ao aumento da re-sistência insulínica. Observou-se, ainda, que quanto maior a resis-tência insulínica, menor a supressão do cortisol pós-dexametasona, sugerindo que a resistência insulínica esteja relacionada à resistência hipofisária ao glicocorticoide.
S84
ReSUMOS de PAinÉiS de PeSQUiSA
III.2diABeTeS MeLiTO de diAGnÓSTicO RecenTe nO AdULTO: diFeRenÇAS e SeMeLHAnÇAS enTRe O TiPO 2 cLÁSSicO, TiPO 1 TARdiO e LATenTe AUTOiMUne dO AdULTO Lana JM1
1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), SP, Brasil
A apresentação clínica clássica do diabetes tipo 1 se diferencia clara-mente do diabetes melito (DM) tipo 2 clássico. A maior parte dos pacientes com DM1 possui, ao diagnóstico, anticorpos anti-ilhota po-sitivos e diminuição importante dos níveis de peptídeo C, decorrente do processo autoimune com destruição das células beta. Entre aqueles que apresentam características fenotípicas de DM tipo 2, podem-se detectar anticorpos anticélula beta em cerca de 10% a 14%, sendo esses pacientes caracterizados como portadores de diabetes latente autoimune do adulto. Porém, essa definição baseada em critérios clí-nicos como idade ao diagnóstico e uso de hipoglicemiantes orais por no mínimo seis meses, associados à presença de anticorpos anticélula beta, não responde por todas as características desse subgrupo. Vá-rios estudos já apontam para diferenças no processo autoimune entre portadores do DM1 e LADA, como a diferença entre os subtipos de antiGAD, número de anticorpos positivos e resposta imune celular. Se essas diferenças ocorrem pela alteração do sistema imune com a idade ou se a presença de resistência a insulina nesses pacientes, associada a um processo imunológico contra a célula beta, precipita a ocorrên-cia de diabetes, ainda necessitam de mais estudos. Um dos maiores desafios consiste na diferenciação entre LADA e DM tardio entre os pacientes com idade superior a 30 anos. O objetivo desse estudo foi avaliar as diferenças clínicas entre os pacientes com DM2 clássico, LADA e DM1 tardio, bem como a prevalência de complicações crôni-cas entre esses grupos. Foram avaliados, até o momento, 84 pacientes com diagnóstico recente de diabetes tipo 2, 16% apresentam anticor-pos positivos, e 10 pacientes com DM tipo 1 tardio. Avaliaram-se as diferenças clínicas entre esses grupos. Encontrou-se que obesidade e hipertensão arterial foram mais prevalentes nos pacientes com DM2 e LADA, sem diferença estatística entre eles, já a associação com outras doenças autoimunes, neste estudo a tireoidite de Hashimoto, foi mais prevalente entre os pacientes com DM1 tardio. Apesar da presença de autoimunidade nos pacientes com LADA, as características fenotípicas desse subgrupo se assemelham às dos pacientes com DM tipo 2, o que sugere que a resistência à insulina é determinante na fisiopatologia desse subgrupo. Apesar de 40% dos pacientes com DM1 tardio terem permanecido em uso de hipoglicemiante oral por período superior a seis meses, a evolução com diminuição dos níveis de peptídeo C e ne-cessidade de uso de insulina ocorreu em 100% desses pacientes, o que sugere que o uso de hipoglicemiante oral e ausência de cetoacidose ao diagnóstico não excluem o diagnóstico de DM1 tardio. Outros crité-rios clínicos, como associação com obesidade e hipertensão arterial, e laboratoriais, como positividade em mais de um tipo de anticorpo e associação com outras endocrinopatias autoimunes, foram mais sensí-veis nessa diferenciação clínica.
III.3 AdiPOnecTineMiA nO AdULTO JOVeM: ASSOciAÇÃO cOM O TAMAnHO AO nASciMenTO e POLiMORFiSMOS nA ReGiÃO PROMOTORA dO Gene ADIPOQ Bueno Ac1
1 Departamento de Puericultura e Pediatria, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), São Paulo, SP, Brasil
A adiponectina (AdipoQ) está envolvida na regulação insulínica. Poli-morfismos em seu gene (ADIPOQ) parecem influenciar suas concen-trações ([AdipoQ]). Indivíduos nascidos nos extremos de peso para a idade gestacional − pequenos (PIG) ou grandes (GIG) − parecem
apresentar perfil cardiometabólico (PCM) desfavorável. Objetivo: Avaliar a influência de polimorfismos no gene ADIPOQ e do tama-nho ao nascer sobre a [AdipoQ] e PCM no adulto jovem. Indiví-duos e métodos: Caso-controle aninhado a uma coorte de 2.063 indivíduos seguidos desde o nascimento. Avaliados: PIG (n = 198), GIG (n = 116) e 392 adequados para a idade gestacional (AIG). Ao nascimento, aos 8-10 anos e aos 23-25 anos foram avaliadas medidas antropométricas e, adicionalmente no adulto jovem, a pressão arterial e marcadores metabólicos (glicemia, resistência insulínica (RI), lipido-grama e [AdipoQ]). Os polimorfismos -11391G>A e -11377C>G no gene ADIPOQ foram genotipados por meio de discriminação alélica por reação de Q-PCR. Estatística: teste x2 ou teste exato do Fisher, teste de correlação de Spearman e ANOVA em duas vias seguido pelo teste de contrastes ortogonais, com ajuste das variáveis para sexo, IMC e circunferência abdominal. Resultados: O tamanho ao nas-cer influenciou a [AdipoQ] (PIG: 9,1 ± 5,0 vs. AIG: 11,3 ± 6,6 vs. GIG: 10,25 ± 5,1 μg/mL; P = 0,02), a adiposidade (IMC: P < 0,01 e CAb: P < 0,01) e a RI (P < 0,01) no adulto jovem. A [AdipoQ] correlacionou-se ao tamanho ao nascer (P = 0,02) e ao HDL (P < 0,0001) e negativamente ao IMC (P < 0,0001), a CAb (P < 0,0001), às pressões arteriais sistólica (P< 0,0001) e diastólica (P< 0,0001), à glicemia de jejum (P = 0,0003), à RI (P = 0,0004), ao LDL (P = 0,007) e aos triglicérides (P = 0,005). O alelo polimórfico -11391A foi associado a maior [AdipoQ] no adulto jovem, independentemente do tamanho ao nascer (GG: 10,7 ± 6,2 vs. GA: 12,2 ± 6,5 vs. AA: 14,2 ± 6,8 μg/mL; P < 0,01). Adicionalmente, a homozigose para esse ale-lo foi associada à maior chance de nascimento GIG do que AIG (OR = 4,1; IC 95%: 1,1-16,7; P = 0,03). O polimorfismo -11377G>G não foi associado ao PCM. Conclusão: A [AdipoQ] e o PCM podem ser influenciados pelo tamanho ao nascer. O alelo polimórfico -11391A no gene ADIPOQ também parece levar a maior [AdipoQ]. Apesar de esse alelo estar associado ao aumento da chance de se nascer GIG, é provável que o mesmo exerça efeito protetor sobre o PCM ao longo da vida.
III.4OBeSidAde e FUnÇÃO RePROdUTORA: ReSiSTÊnciA À inSULinA nO OVÁRiOAkamine eH1, Marçal Ac2, camporez J2, caperuto Lc3, carvalho cRO2
1 Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo (ICB/USP), Fisiologia e Biofísica, Farmacologia. 2 ICB/USP, Fisiologia e Biofísica. 3 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Campus Diadema, Ciências Biológicas, SP, Brasil
Introdução: Além dos efeitos sobre a homeostase energética, a insu-lina tem importante participação na função ovariana. Obesidade tem um efeito negativo sobre a fertilidade e aumenta o risco de desenvol-vimento da síndrome do ovário policístico em mulheres suscetíveis. Na obesidade, alterações da sinalização intracelular da insulina são observadas no fígado e no músculo esquelético, porém os efeitos da obesidade sobre a sinalização da insulina no ovário não foram avaliados ainda. Uma vez que resistência à insulina no ovário po-deria contribuir para o prejuízo da função reprodutora em mulhe-res obesas, avaliaram-se a sinalização da insulina e a expressão de citocinas pró-inflamatórias no ovário de ratas obesas induzidas por dieta. Métodos: Ratas Wistar com 60 dias foram submetidas à dieta hiperlipídica por 120 (OB120) ou 180 (OB180) dias e as respectivas controles foram submetidas à dieta-padrão (CT120 e CT180, res-pectivamente). Após os dois períodos de tratamento com a dieta, fo-ram avaliados: o peso, a sensibilidade à insulina (pelo ITT), os níveis séricos de insulina e de hormônios sexuais (por radioimunoensaio), o ciclo estral (pela observação do esfregaço vaginal no microscópio óptico) e a sinalização da insulina e a expressão de citocinas no ovário (por Western Blot). Resultados: No fim dos períodos de tratamento com a dieta, foram observados aumento do peso, resistência à in-
S85
ReSUMOS de PAinÉiS de PeSQUiSA
sulina e aumento dos níveis de insulina e progesterona em OB120 e OB180. Além disso, em OB120, o aumento da progesterona foi acompanhado pelo aumento dos níveis de LH. O ciclo estral foi mais prolongado em OB120 e OB180 do que em CT120 e CT180, em virtude do prolongamento da fase pró-estro. Em OB180, a fase dies-tro também foi prolongada. A expressão proteica da Akt (69%) e FOXO3a (60%) foi aumentada nos ovários de OB120 em relação às CT120. Após infusão de insulina, a fosforilação do receptor de insulina, a associação do IRS1 com a PI3-K e a fosforilação da Akt foram similares em CT120 e OB120, porém a associação do IRS-2 com a PI3-K (33%) e a fosforilação da ERK1-2 (50%) foram menores nos ovários de OB120 em comparação com CT120. No ovário de OB180, observou-se que a expressão da proteína IRS-2 foi reduzida (40%) e a do FOXO3a foi aumentada (30%). Infusão de insulina induziu associação do IRS1 e do IRS2 com PI3-K e fosforilação da Akt apenas nos ovários de CT180. A expressão da IL-1β e do TNF-a não foi alterada em OB120, porém foi aumentada em OB180 em relação às CT180. Discussão: Os resultados mostram que resistência à insulina ocorre no ovário similarmente ao observado em tecidos-alvo clássicos da insulina e que, quanto maior o tempo de exposição aos efeitos deletérios da obesidade, maior a extensão das alterações observadas no ovário. As alterações da sinalização podem ter par-ticipação na redução da função reprodutora associada à obesidade. Apoio financeiro: Fapesp e CNPq.
III.5cHO SUPPLeMenTATiOn incReASeS THe cOnTenT OF inTRAMYOceLLULAR TRiAcYLGLYceROL in cOMPeTiTiVe RUnneRS UndeRGOinG OVeRLOAd TRAininGSousa MV1, Silva MeR1, Fukui RT1, campi, c2
1 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Laboratório de Investigação Médica (LIM 18). 2 Instituto do Coração (InCor), FMUSP, Seção de Ressonância Magnética, SP, Brasil
Distance runners and other sports like soccer, tennis, and basketball, conduct high intensity intermittent exercises frequently during trai-ning overload. Intensity exercises use carbohydrates (CHO) as a pri-mary source of energy. Consecutive days of intense training and long term associated with insufficient intake of carbohydrates, resulting in decrease of the energy reserves and loss in the process of re-synthesis of muscle glycogen. The skeletal muscle cell also contains significant quantities of triglyceride. Recent improvements in the ability to me-asure these intramyocellular triglyceride (IMTG) stores have confir-med that IMTG acts as a significant fuel substrate during prolonged exercise. This study evaluated the effects of a micro cycle of overload training (1st to 8th day) on metabolic and hormonal responses in male runners with or without carbohydrate supplementation and investiga-ted the cumulative effects of this period on a session of intermittent high-intensity running and maximum-performance-test (9th day). The participants were 24 male runners divided into 2 groups, receiving 61% of their energy intake as CHO (carbohydrate-group) and 54% in the control-group (CON). The intramyocellular triacylglycerol con-tent measured by 1H-MR spectroscopy from soleus and tibialis mus-cles was higher for the CHO than the CON group after the overload training (∆ value: 2.4947 ± 1.1018 in the CHO group vs -2.2283 ± 1.7593 in the CON group – table 1). On the 9th day participants per-formed 10 x 800 m at mean 3km velocity. An all-out 1000 m running was performed before and after the 10 x 800 m. Before, during and after this protocol, the runners received maltodextrin solution (CHO) or the CON equivalent. The performance on 800 m series did not differ in either group between the first and last series of 800 m, but for the all-out 1000 m test the performance decrement was lower for CHO-group (5.3 ± 1.0% vs 10.6 ± 1.3%). The cortisol and GH con-centrations were lower in the CHO-group in relation to CON-group after 10 x 800 m (Cortisol: 22.4 ± 0.9 vs 27.6 ± 1.4 pmol.L-1; GH:
21.8 ± 5.6 vs : 36.7 ± 5.0 ng/mL). During recovery, blood glucose concentrations remained higher in the CHO group in comparison to the CON-group. The NEFA concentration remained unchanged from the beginning to the end of the protocol in the CHO group. It was concluded that CHO supplementation possibly resulted in less catabo-lic stress and increased intramyocellular triacylglycerol stores, as thus improved running performance. References: 1. Johnson NA, Stannard SR, Thompson MW. Muscle triglyceride and glycogen in endurance exercise – implications for performance. Sports Med. 2004;34:151-64. 2. Kiens B, Richter EA. Utilization of skeletal muscle triacylglycerol during postexercise recovery in humans. Am J Physiol. 199
Table 1. Intramyocellular triacylglycerol content (Mean ± SEM) before and after (∆ value) overload training in competitive runners
Group n Mean (± SEM) p valueIntramyocellular
Triacylglycerol
CHO 11 2.4947 (± 1.1018) 0.040CON 12 -2.2283 (± 1.7593)
Extramyocellular
Triacylglycerol
CHO 11 934545 (± 2.1289) 0.79CON 12 -103333 (± 3.1522)
Grant: Fapesp. Acknowledgements. The authors thank Fapesp for the fellowship granted and to all employees of LIM 18.
IV.1HeALinG in diABeTeS: inSULin cReAM eFFecTS Lima MHM1
1 Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas (FCM/Unicamp), Enfermagem, SP, Brasil
Wound healing is impaired in diabetes mellitus, but the mechanisms involved in this process are virtually unknown. It has recently been shown that proteins belonging to the insulin signaling pathway are expressed and respond to insulin in the intact skin of rats. The pur-pose of this study was to investigate the regulation of the insulin signaling pathway in wound healing and skin repair of normal and diabetic rats, and in parallel the effect of a topic insulin cream on wound healing and on the activation of these pathways. Since results in experimental models were very promising, a pilot study employing an insulin cream for the wound healing of diabetic patients was also performed. Results show that tissue expressions of IR, IRS-1, IRS-2, SHC, ERK and Akt are increased in the tissue of healing wounds, compared to intact skin, suggesting that the insulin signaling pathway may have an important role in this process. These pathways were also found attenuated in the wounded skin of diabetic rats, in parallel with an increase in the time of complete wound healing. Upon the topical application of insulin cream, the wound healing time of diabetic ani-mals was normalized, followed by a reversal in defective insulin signal transduction. In addition, the treatment also increased the expression of other proteins involved in wound healing, such as eNOS, VEGF and SDF-1a. In diabetic patients, topical insulin cream markedly im-proved wound healing, representing an attractive and costless me-thod for treating this devastating complication of diabetes.
IV.2VARiAnTe dO Gene FTO e PeRFiL MeTABÓLicO nA POPULAÇÃO indÍGenA XAVAnTeKuhn Pc1, crispim F2, Franco LF2, Vieira Filho JPB3, Franco LJ4, Moisés RS4
1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Endocrinologia. 2 Unifesp, Medicina. 3 Unifesp, Divisão de Endocrinologia. 4 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Medicina Social, SP, Brasil
Introdução: Os índios Xavante vêm sofrendo nos últimos anos um rápido processo de mudanças no estilo de vida, com diminuição da atividade física e aumento do consumo de alimentos industrializados.
S86
ReSUMOS de PAinÉiS de PeSQUiSA
Acompanhado dessas mudanças, um aumento na prevalência de obe-sidade e de outros componentes da síndrome metabólica tem sido observado nessa população. Estudos recentes associaram variantes no gene FTO a uma maior predisposição a obesidade e diabetes em al-guns grupos populacionais, principalmente em caucasianos. O gene FTO localiza-se no cromossomo 16q12.2 e é expresso em vários te-cidos como cérebro, tecido adiposo, pâncreas e hipotálamo. Objeti-vos: Avaliar se a variante rs 9939609 do gene FTO está associada a medidas de adiposidade (IMC, circunferência abdominal, percentual de massa gorda) e grau de tolerância a glicose na população indígena Xavante. Métodos: Foram avaliados 349 índios Xavante sem miscige-nação (178 do sexo feminino, Mi: 37 anos) que vivem em 29 aldeias da reserva Sangradouro, na região leste do estado de Mato Grosso. Foi realizada avaliação clínica incluindo dados antropométricos e do-sagem de glicemia (jejum e 2 h após sobrecarga com 75 g de glicose). A porcentagem de gordura corporal foi avaliada mediante bioimpe-danciometria. A genotipagem do polimorfismo rs 9939609 foi feita por meio do TaqMan SNP Genotyping Assay (Applied Biosystem, CA, USA). Resultados: Na população estudada, de acordo com os crité-rios da OMS, 75 indivíduos (21,5%) apresentaram diabetes melito e 108 (31%), tolerância à glicose diminuída. Em relação à variante rs 9939609, 301 (86,1%) apresentaram o genótipo TT, 47 (13,5%), o genótipo AT e 1 (0,28%), o genótipo AA. A distribuição genotípica observada está em equilíbrio Hardy-Weinberg. Não houve diferença na distribuição dos genótipos entre os indivíduos com tolerância nor-mal a glicose (TT: 145 AT:21) e intolerância à glicose (TT: 156 AT/AA: 27, p > 0.05). Quanto às medidas de adiposidade e genótipo, não se verificaram diferenças estatisticamente significantes em relação ao IMC (TT: 29,7 kg/m2 AT/AA: 30,7 kg/m2, p = 0,26), circunferência abdominal (TT: 99,4 cm, AT/AA: 102,1 cm, p = 0,13) e percentual de massa gorda (TT: 27,9%, AT/AA: 28,2%, p = 0,77). Conclusão: Na população indígena Xavante estudada, o SNP rs 9939609 do gene FTO não foi associado com medidas de adiposidade e alterações no grau de tolerância a glicose.
IV.3ReLAÇÃO enTRe OS FATOReS de RiScO cARdiOVAScULAR nOS PAiS e A PReVALÊnciA de SÍndROMe MeTABÓLicA nOS FiLHOS PORTAdOReS de diABeTeS MeLiTO TiPO 1Stela Pinto c1, camila S. Pinto1, João Roberto de Sá1, Sérgio A. dib1
1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Endocrinologia e Metabologia, SP, Brasil
Introdução: Entre os pacientes portadores de diabetes melito tipo 1 (DM1), estima-se que a mortalidade por doença cardiovascular situe-se próximo de 10 vezes ao da população geral1, e uma história familiar positiva de diabetes melito tipo 2 (DM2) e/ou hipertensão arterial tem sido, cada vez mais, correlacionada com o aumento desse risco2-3. Nesse contexto, apesar do constante avanço no tratamento do DM1, não se tem observado queda significativa na prevalência de doença car-diovascular nessa população, sugerindo vigorar uma abordagem tera-pêutica ainda insatisfatória no que diz respeito ao controle dos fatores de risco para macroangiopatia4-5. À medida que o DM1 evolui, ocorre o desenvolvimento de múltiplos componentes da síndrome metabólica (SM), no entanto a prevalência e o significado dessa SM, no contex-to natural da história do DM1, não estão tão claramente estudados6. Método: 104 portadores de DM1, com média de idade de 19,5 ± 3,9 anos e tempo de diagnóstico de doença de 9,71 ± 4,8 anos, estão sen-do avaliados quanto à presença de fatores de risco cardiovascular e pre-valência de SM (classificada pelo NCEPIII e NCEPIII adaptado para a idade)7-8, bem como seus pais sendo convocados para avaliação clínica e laboratorial, quanto à presença de fatores relacionados ao desenvolvi-mento de doença cardiovascular. Os pacientes são, ainda, submetidos à avaliação ultrassonográfica para estimativa da presença de gordura visceral, por meio de técnica previamente descrita9. Análise estatística foi realizada com auxílio do software SPSS. Resultados: A amostra é composta por 51,9% dos pacientes do sexo masculino, e todos os es-tudados encontram-se em tratamento insulínico intensivo, com dose
total equivalente a 0,9 ± 0,29 UI/kg/dia, sem que haja diferença esta-tística na dose diária utilizada entre os portadores, ou não, de SM. Sob tal tratamento, a amostra de pacientes apresentava, no momento da seleção do estudo, hemoglobina glicada igual a 7,4 ± 0,76%, em média. A prevalência de SM nos portadores de DM1, selecionados para o es-tudo, é de 15,4%; 53,7% dos pacientes apresentam pais (pai e/ou mãe) que preenchem critérios para a classificação de SM. Dentre os fatores de risco cardiovascular dos pais, a circunferência abdominal aumentada foi o fator de predisposição independente para a presença de SM nos filhos (p = 0,021). Por outro lado, a prevalência de hipertensão arterial entre os diabéticos é maior entre os pacientes que possuem pai e/ou mãe com circunferência abdominal aumentada, podendo predizer essa alteração (p = 0,006). Além disso, os DM1 hipertensos possuem maior espessura estimada de gordura visceral (p = 0,005). Outros dados, aqui não apresentados, referem-se às características e prevalência do diabetes apresentado pelos pais desses pacientes. Referências: 1. Dor-man J. Diabetes Care. 1985;8:54-60. 2. Fagerudd JA. Diabetologia. 1999;42:519-26. 3. Makimattila S. Diabetologia. 2002;45:711-8. 4. Zgibor JC. Diabetes. 2001;50(Suppl 2):A255. 5. Soedamah-Muthu SS. Diabetologia. 2002;45:1362-71. 6. Dib SA. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2006;50:250-63. 7. Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) expert panel on detection, evaluation and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult treatment panel III). JAMA. 2001;285:2486-97. 8. Cook S. Arch Pediatr Adolesc Med. 2003;157:821-7. 9. Armellini F. J Clin Ultrasound. 1990;18:563-7.
IV.4ABSciSic Acid, A PLAnT HORMOne, inHiBiTS niTRic OXide PROdUcTiOn And iMPROVeS GLUcOSe UPTAKe in MAMMALiAn ceLLSLellis-Santos c1, centeno-Baez c2, Pilon G2, Lavigne c2, Benson c3, Loewen M3, desjardins Y4, Abrams S3, Bordin S1, Marette A5
1 Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo (ICB/USP). 2 Laval University, Canada, Institute of Nutraceuticals and Functional Foods and Quebec Heart and Lung Institute. 3 Saskatoon, Canada, NRC Plant Biotechnology Institute. 4 Institute of Nutraceuticals and Functional Foods and Laval University Horticultural Research Center, Canada. 5 University, Canada, Institute of Nutraceuticals and Functional Foods and Quebec Heart and Lung Institute
The emerging epidemic of type 2 diabetes calls for the development of new therapeutic avenues and novel nutritional interventions. Com-pelling research supports the beneficial effects of fruit and vegetable consumption for the prevention of the insulin resistance syndrome and type 2 diabetes. Among the many valuable fruit and vegetable com-ponents, we looked further into the mechanism of action of abscisic acid (ABA), a stress-induced plant hormone. We first investigated the anti-inflammatory potential of ABA and two chemical derivatives of ABA (A1 and A2) in myocytes and macrophages in vitro. We found that both compounds inhibit cytomix-induced (TNFa, IFNγ and LPS) nitric oxide production in L6 cells. Similar results were observed in macrophages, where palmitate-induced nitric oxide production was potently inhibited by all compounds in a dose-dependent manner. In parallel, we observed an iNOS protein expression inhibition by ABA and derivatives. We also made the interesting observation that ABA and its derivatives stimulate glucose uptake in muscle cells. Since ac-tivation of AMPK is involved in the mechanism of action of several anti-diabetic drugs, this could explain the valuable effects of these ABA compounds. We observed that all compounds stimulate LKB1, ACC and AMPK phosphorylation in both L6 and J774 cells. Chemical and molecular inhibition of AMPK decreased partially the glucose uptake in muscle cells. These results provide further scientific validation for the beneficial effects of fruit and vegetable consumption and are paving the way for the development of new nutraceuticals or functional foods con-taining ABA-based compounds for the management of type 2 diabetes. Funding agency: Fapesp, Canadian Institutes of Health Research, Na-tional Research Council of Canada e Canadian Diabetes Association.
S87
ReSUMOS de PAinÉiS de PeSQUiSA
IV.5ATiVAÇÃO dAS ViAS PROTeOLÍTicAS LiSOSSOMAL e UBiQUiTinA-PROTeASSOMA indUZ ATROFiA eM cORAÇÃO de RATOS diABÉTicOSPaula-Gomes S1, Zanon nM2, Baviera AM3, carvalho L1, Gonçalves dAP2, Lira ec2, Filippin eA1, navegantes Lcc2, Kettelhut ic1
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Bioquímica e Imunologia. 2 FMRP-USP, Fisiologia. 3 Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Bioquímica, MT, Brasil
Estudos prévios de nosso laboratório demonstraram que a deficiência de insulina promoveu perda da massa muscular esquelética em ratos diabéticos. Essa redução foi por causa do aumento da atividade dos processos proteolíticos dependente de Ca2+ e dependente de ubiquiti-na-proteassoma (UPS), após um e três dias da administração de estrep-tozotocina (STZ). No entanto, a importância da insulina no controle do metabolismo proteico em tecido cardíaco tem sido pouco estudada. Este trabalho teve como objetivo investigar o papel da insulina no con-trole da massa muscular cardíaca, investigando o seu papel na atividade dos sistemas proteolíticos lisossomal e UPS em coração de ratos dia-béticos, bem como a participação das proteínas AKT/Foxo envolvidas na via intracelular de sinalização da insulina. Nos grupos de animais normais e diabéticos foram analisados o peso do coração, o conteúdo proteico das proteases lisossomais (catepsinas B e L) e das proteínas autofágicas (GABARAP e LC3 II), bem como o estado de fosforilação das proteínas AKT/Foxo envolvidas na via de sinalização da insuli-na por Western Blotting. Além disso, foi quantificada a expressão do RNAm dos genes atróficos GABARAP, LC3, MuRF1 e atrogina-1 no coração dos animais dos dois grupos. Os animais diabéticos apresen-taram diminuição da massa do coração em relação aos controles, com concomitante aumento no conteúdo proteico das catepsinas e LC3II. Foi observada no coração desses animais diminuição no conteúdo pro-teico total da AKT e nas fosforilações em seus resíduos de serina473 e treonina308 e na fosforilação de Foxo3a em relação aos controles. A deficiência de insulina promoveu aumento na expressão do RNAm dos genes autofágicos LC3 e GABARAP e das enzimas E3 ligases MuRF1 e atrogina-1, envolvidas na atividade UPS. Os resultados mostram que a perda de massa cardíaca induzida pelo diabetes foi decorrente, pelo menos em parte, da ativação das vias proteolíticas lisossomal e ubiquitina-proteassoma. Ainda esses achados sugerem a participação da via de sinalização envolvendo as proteínas AKT/Foxo no controle desses sistemas proteolíticos, os quais podem ser regulados pela insulina. Apoio financeiro: CNPq, Capes e Fapesp (08/06694-6).
V.1PReVALÊnciA de dOenÇAS AUTOiMUneS eM diABÉTicOS TiPO 1Queiroz MS1
1 Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), Endocrinologia, SP, Brasil
Introdução: Pacientes com diabetes melito tipo 1 (DM1) têm risco aumentado de desenvolver outras doenças autoimunes, seja na for-ma isolada ou associadas entre si. Objetivo: Estimar a prevalência de outras doenças autoimunes em pacientes com DM1 acompanhados no ambulatório de diabetes de um serviço terciário. Métodos: Estu-do retrospectivo de prontuários dos pacientes em acompanhamento ambulatorial para avaliar a prevalência de outras doenças autoimunes, por meio da dosagem de anticorpos antiendomísio, níveis basais dos hormônios tireotrófico (TSH), tiroxina livre (T4L) e cortisol ou pres-crição, na forma de uso contínuo, de medicações relacionadas ao trata-mento dessas patologias. Nos pacientes com antiendomísio positivo, o diagnóstico de doença celíaca foi confirmado por endoscopia digestiva alta (EDA) e biópsia duodenal. Resultados: Foram incluídos 116 pa-cientes, com idade média de 32,6 anos (10 a 67 anos), sendo 57,7%
do sexo feminino. Trinta e um pacientes (26,7%) apresentavam pelo menos uma outra doença autoimune associada ao DM1, sendo 4 com duas doenças autoimunes (1 paciente com hipotireoidismo e anemia perniciosa, 1 com hipotireoidismo e doença celíaca e 2 com hipoti-reoidismo e insuficiência adrenal primária – síndrome poliglandular autoimune tipo 2). A prevalência de hipotireoidismo foi de 21,5% (25 pacientes), com 15 pacientes na forma subclínica e 10 na forma clíni-ca. O anticorpo antiendomísio foi encontrado em 6 pacientes (5,1%), dos quais 4 realizaram EDA e 3 tiveram diagnóstico de doença ce-líaca confirmado por biópsia duodenal. Outras doenças autoimunes encontradas foram hepatite autoimune, artrite reumatoide e vitiligo (1 caso cada). Conclusão: Foi encontrada prevalência de 26,7% de outra doença autoimune, principalmente doença tireoidiana, em pa-cientes diabéticos tipo 1. Esses resultados são comparáveis aos de es-tudos prévios mostrando a necessidade de screening de tais doenças.
V.2eSTUdO MOLecULAR dO diABeTeS diAGnOSTicAdO nO PRiMeiRO AnO de VidA Fogaca V1, Vendramini MF1, crispim F1, Gurgel Lc1, dalbosco i1,Pires Ac1, Vieira Tc1, Medeiros cc1, dib SA1, Gabbay M1, Moisés RS1
1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Endocrinologia, SP, Brasil
Diabetes neonatal (DN) é uma condição rara definida pela presença de hiperglicemia nos primeiros meses de vida. Em aproximadamen-te 50% dos casos ocorre resolução espontânea do diabetes, sendo o DN transitório. Na outra metade dos casos, DN permanente, o trata-mento contínuo é necessário. Identificou-se que mutações ativadoras nos genes que codificam os canais de K+ ATP-sensível (KCNJ11 e ABCC8) são causas frequentes de DN. Recentemente, verificou-se que mutações no gene da insulina (INS) também são responsáveis por uma parcela dos casos de DN. O objetivo do presente trabalho foi a pesquisa de mutações nos genes KCNJ11, ABCC8 e INS em portadores de diabetes diagnosticado no primeiro ano de vida. Foram avaliados 12 pacientes (8 do sexo masculino, idades: 2 a 29 anos, idade ao diagnostico do diabetes: 1 a 8 meses). Análises dos genes INS e ABCC8 foram realizadas apenas nos pacientes nos quais não se identificou mutação no gene KCNJ11. Em um paciente que, além do DN, apresentava história pregressa de atresia intestinal e pâncre-as anular, foi feito o estudo molecular do gene PDX1. Toda região codante e os arredores éxon-íntron dos genes estudados foram am-plificados por meio de PCR utilizando primers específicos. Os produ-tos do PCR foram sequenciados utilizando o kit Big Dye Terminator Cycler Sequencing (Applied Biosystem, CA, USA), e as reações foram analisadas no equipamento ABI Prism 3100 Genetic Analyzer (Ap-plied Biosystems, CA, USA). Identificaram-se três diferentes mutações missense em heterozigose no gene KCNJ11: G53D e R201C em dois pacientes com diabetes neonatal permanente e G53S em um paciente com diabetes neonatal transitório. No gene ABCC8, foram identifica-das as mutações S53C e F41Y em heterozigose, ainda não descritas na literatura. Em um paciente com DN permanente, identificaram-se a mutação R89C em heterozigose no gene INS e a mutação frameshift p.A23QfsX4, ainda não descrita, em dois pacientes. No paciente no qual foi feita a análise do gene PDX1, foi identificada a mutação E178K em homozigose. Em três pacientes, não se identificaram mu-tações nos genes estudados. A substituição de insulina por sulfoni-lureia foi tentada nos quatro pacientes carreadores de mutações nos genes KCNJ11 e ABCC8. Em três deles foi possível a suspensão da insulina e em uma redução da dose utilizada, em todos havendo me-lhora do controle metabólico. Em conclusão, identifica-se a etiologia do DN em 75% dos pacientes estudados, sendo a causa mais frequente mutações no genes KCNJ11 e INS. A identificação da etiologia tem implicações terapêuticas, pois permite em alguns casos a substituição de insulina por sulfonilureia.
S88
ReSUMOS de PAinÉiS de PeSQUiSA
V.3eFeiTO dOS iniBidOReS dA FOSFOdieSTeRASe dO AMP cÍcLicO nA RedUÇÃO dO cATABOLiSMO PROTeicO indUZidO PeLA SePSeLira ec1, navegantes Lcc1
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Fisiologia, SP, Brasil
A sepse representa uma resposta inflamatória sistêmica perante uma infecção e ainda é a principal causa de morte de pacientes em unida-des de tratamento intensivo. A degradação de proteínas musculares contribui para o aumento da morbimortalidade desses pacientes. Por isso, muitos esforços têm sido feitos para prevenir a perda de proteí-nas nessa situação, entretanto ainda não existem terapias eficazes no combate à atrofia muscular na sepse. A proteólise induzida pela sepse reflete não apenas o aumento da atividade dos sistemas proteolíticos ubiquitina-proteassoma (UPS), dependente de cálcio e lisossomal, mas também a ativação de vários genes denominados atrogenes que compõem um “plano atrófico”, do qual fazem parte as enzimas-chaves do sistema UPS, atrogina-1 e MuRF1 (Muscle Ring Finger protein 1), assim como os genes relacionados à autofagia LC3 e GA-BARAP. Estudos prévios do nosso laboratório demonstraram que o sistema nervoso simpático, por meio da via de sinalização do AMPc, exerce um papel anabólico no metabolismo proteico muscular em si-tuações basais. Outros estudos têm demonstrado que inibidores não seletivos da fosfodiesterase (PDE) do AMPc, drogas que aumentam o conteúdo desse segundo mensageiro, reduzem o catabolismo pro-teico muscular na sepse e no câncer de forma indireta, pela redução das citocinas inflamatórias. Mais recentemente, busca-se o desenvol-vimento de inibidores seletivos para as diferentes isoformas de PDE que garantam seus efeitos em tecidos específicos. A principal isofor-ma expressa no músculo esquelético é a PDE 4, contribuindo com 80% da atividade das PDE nesse tecido. Por essa razão, estão sendo investigados os possíveis efeitos benéficos do rolipram, um inibidor seletivo dessa isoforma, no catabolismo proteico muscular induzi-do pela sepse. Os experimentos mostram que o rolipram in situ e in vitro aumenta os níveis de AMPc muscular, reduz o catabolismo proteico, inibe as atividades proteolíticas (lisossomal e UPS) e atenua a hiperexpressão dos genes atróficos (MuRF, LC3 e GABARAP) in-duzida pela sepse. Esses resultados sugerem que o tratamento com inibidores seletivos da PDE 4, como o rolipram, pode vir a ser uma estratégia terapêutica eficaz no combate à atrofia muscular na sepse. Apoio financeiro: Fapesp (08/06694-6) e CNPq (306101/09).
V.4GLicOcORTicOide e SecReÇÃO de inSULinARafacho A1
1 Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Faculdade de Ciências Integradas do Pontal (FACIP), MG, Brasil
Os hormônios glicocorticoides são sintetizados pelo córtex adrenal sob o controle do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e desempenham papel-chave na regulação da função imune e no metabolismo. Inú-meros compostos com atividade glicocorticoide têm sido sintetiza-dos, e esses representam a terapia-padrão para a redução da ativação inflamatória, imunológica e alérgica nos casos de asma, artrite reu-matoide, irritações dermatológicas, inflamações ósseas, entre outras doenças sistêmicas, bem como em alotransplantes. Dentre os glico-corticoides sintéticos, a dexametasona apresenta afinidade ao recep-tor de glicocorticoide de 50 vezes à do cortisol e tem sido indicada na prática clínica para a supressão da inflamação e como antiemético durante o tratamento quimioterápico. Quando administrada em ex-cesso, a dexametasona causa efeitos colaterais diversos, que incluem a osteoporose, atrofia muscular, adelgamento da pele, hipertensão entre outros. Os glicocorticoides também são tidos como hormô-
nios diabetogênicos por induzirem aumento da produção hepática de glicose e redução da captação desse substrato por tecidos periféricos como o músculo e o tecido adiposo, caracterizando a condição clínica de resistência à insulina. Entretanto, o desenvolvimento para o qua-dro de hiperglicemia ou não reside na capacidade das células beta em responder satisfatoriamente ao aumento pela demanda de insulina. As compensações adaptativas que ocorrem sobre as ilhotas pancreá-ticas para contrapor a resistência à insulina dependem de como o gli-cocorticoide pode atuar sobre esse micro-órgão. Assim, as respostas secretórias podem variar de acordo com o tempo (minutos, horas e dias), a dose (sub ou suprafarmacológica) e a espécie animal (rato, camundongo ou ser humano) tratada com o glicocorticoide. Dessa maneira, podem ser observados tanto aumento como redução da se-creção de insulina, bem como de seus níveis circulantes dependendo das variáveis consideradas. Neste trabalho, serão discutidas sucinta-mente as diferentes respostas secretórias pelas ilhotas pancreáticas de roedores e seres humanos sob diferentes combinações do tratamento com glicocorticoides.
V.5QUeRceTinA RedUZ A ReSPOSTA inFLAMATÓRiA eSTiMULAdA POR ÁcidOS GRAXOS e TnF-ALFA nO TecidO MUScULAR: iMPLicAÇÕeS PARA O AUMenTO dA SenSiBiLidAde À inSULinA eM MOdeLOS de OBeSidAdeAnhe GF1
1 Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas (FCM/Unicamp), Farmacologia, SP, Brasil
Vários estudos têm demonstrado nos últimos anos que um estado inflamatório subclínico crônico provavelmente colabora para o surgi-mento de resistência a insulina e diabetes melito tipo 2. Quercetina, um potente flavonoide anti-inflamatório, reduz a glicemia e aumenta a tolerância à glicose em modelos de diabetes induzido por strepto-zotocina. Apesar desses achados, não se sabe se a quercetina melhora a resistência a insulina em tecidos periféricos. Desse modo, o presen-te estudo teve como objetivo avaliar se o tratamento com quercetina modula a sensibilidade a insulina em camundongos obesos ob/ob e em miotubos tratados in vitro com palmitato ou TNF-alfa. Para esse fim, miotubos de células L6 foram tratadas com palmitato ou TNF-alfa combinados a quercetina, e camundongo ob/ob recebe-ram quercetina intraperitoneal por 10 semanas. Os miotubos e o tecido muscular dos camundongos foram então processados para quantificação do mRNA do GLUT4, TNF-alfa e iNOS por PCR em tempo real e fosforilação da JNK, AKT e IkK por Western Blot. Os miotubos também foram usados para ensaio de captação de glicose e translocação nuclear de NF-kB p50. Imunoprecipitação de cro-matina também foi realizada em músculo de camundongo ob/ob. Os resultados mostram que a quercetina aumenta a sensibilidade a insulina e expressão do GLUT4, ao mesmo tempo em que reduz a fosforilação da JNK e expressão da iNOS e do TNF-alfa no músculo de camundongos ob/ob. A exposição de miotubos a quercetina re-duziu a expressão de TNF-alfa e iNOS estimuladas por palmitato e recuperou os níveis normais de GLUT4. Em paralelo, a quercetina suprimiu a redução na captação de glicose provocada pelo palmita-to e pelo TNF-alfa. O acúmulo de NF-kB p50 no extrato nuclear de miotubos e a ligação dessa proteína ao promotor do GLUT4 também foram reduzidos pela insulina. Esses resultados demonstram que o tratamento intraperitoneal com quercetina diminui o estado inflamatório no tecido muscular de camundongos obesos. Essa res-posta foi reproduzida em miotubos tratados com palmitato e TNF-alfa. A supressão da resposta inflamatória foi acompanhada de me-lhora da ação da insulina, sugerindo que a quercetina pode ser uma candidata interessante para o tratamento da resistência a insulina.
S89
ReSUMOS de PAinÉiS de PeSQUiSA
VI.1HdL diSFUnciOnAL − PAPeL dO eXeRcÍciO FÍSicO SOBRe AS PROPRiedAdeS AnTiATeROGÊnicAS dAS HdL nO DIABETES MELLITUSSchulz i11 Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), São Paulo, SP, Brasil
A concentração de HDL-colesterol (HDLc) tem correlação inversa com o risco cardiovascular. As HDL promovem o transporte reverso de colesterol (TRC), inibem a quimiotaxia de monócitos e exercem atividade vasodilatora, antitrombogênica e antioxidante. No diabetes mellitus (DM) é evidenciada menor atividade antioxidante da HDL e prejuízo no TRC, o que contribui para a elevada incidência de aterosclerose. Em nosso laboratório, foram estudados 14 indivídu-os portadores de DM 2 e 12 indivíduos controles (C), submetidos a treinamento físico aeróbico (TFA) monitorado por 18 semanas. O VO2 máx no início do estudo foi menor no grupo DM e se elevou em ambos os grupos após o TFA. Após o TFA não foram verifica-das alterações na concentração plasmática de colesterol, triglicérides, HDLc e HbA1c em ambos os grupos. A capacidade antioxidante das HDL, isoladas dos C e DM no período basal e após TF, foi avaliada por meio da medida, in vitro, do lag time (tempo de latência, em minutos) de oxidação de LDL controles na presença de CuSO4. Na presença de HDL2 o lag time foi menor no grupo DM comparado ao C (38 ± 3 vs. 44 ± 6, respectivamente) no período basal, eviden-ciando menor capacidade antioxidante das HDL2 do grupo DM. Essa diferença desapareceu após TFA (C = 40 ± 7 vs. DM = 44 ± 3). Não se observou diferença no lag time de oxidação de LDL na presença de HDL3 isolada no período basal (C = 36 ± 3,5 vs. DM = 36 ± 3). Após o TFA, houve aumento do lag phase no grupo DM (43 ± 8) em comparação ao C (36 ± 4). A concentração plasmática de TBARS, indicativa de peroxidação lipídica, diminuiu no grupo DM após TFA. O TFA também reduziu a concentração plasmática de pequenas partículas de HDL (pré-beta HDL), com aumento da concentração de triglicérides em HDL2. Isso indica melhor matu-ração das HDL no plasma, o que é uma evidência indireta do fluxo de colesterol ao fígado, por meio do TRC. Os achados evidenciam que o TFA, mesmo sem alterar a concentração de HDLc, melhora a capacidade antioxidante e a participação das HDL no TRC, o que pode contribuir para a prevenção da aterosclerose no DM. Apoio financeiro: Fapesp (02/07945-6 e 05/55249-7).
VI.2eFFecT OF ROUX-en-Y GASTRic BYPASS On TYPe 2 DIABETES MELLITUS And MeTABOLic PROFiLeSMela Umeda L1
1 Hospital Brigadeiro, Endocrinologia, SP, Brasil
Background: Type 2 diabetes (T2DM) is a disease with dramatic com-plications; previous studies have demonstrated that surgical treatment of obesity ameliorate metabolic abnormalities in patients with T2DM. The aim of the study is to evaluate the early effects of Roux-en-Y Gastric Bypass (RYGB) on metabolic parameters and clinical outcomes in pa-tients with T2DM. Methods: Ten patients with T2DM were assessed for blood pressure, anthropometric parameters and lipid profile before and 7, 30 and 90 days after RYGB. A meal test was performed, and plasma insulin, glucose, glucagon and GLP-1 determinations were me-asured in fasting and 30,60,90, 120 minutes after the consumption of a liquid meal (350 kcal: CHO 54%, protein 28%, fat 14,5% and 5,5% oligoelements) before and after surgery. Insulin resistance was avaluated by Log of homeostasis model assessment program (Log HOMA-IR). Insulin sensitivity index was calculated to evaluate the secretion and sensivity of insulin. Results: There was a reduction in fasting and 120 minutes glucose levels after a meal test in 30 and 90 days of RYGB. We observed an insulin peak 30 minutes after meal test 30 and 90 days after
surgery with coincidence of GLP-1 increase. There was an improve-ment in insulin sensitivity in 7 days and recovered in the first phase insu-lin secretion in 30 and 90 days. HbA1c levels improved from 9.31at ba-seline to 8.14; 7.06; 6.15 (p < 0,05) after 7, 30 and 90 days of surgery, respectively. Glucagon levels had a tendency to decrease after surgery, but no statistic significance was found. Finally, there were a significant reduction in the use of antihypertensive agents (90%) and lipids’s lowe-ring medication (80%). Conclusions: Patients with T2DM can achieve early improvement in carbohydrates metabolism after RYGB, lowering insulin resistance and improving insulin secretion after GLP-1 peak.
VI.3inFLAMAÇÃO HiPOTALÂMicA indUZ ReSiSTÊnciA PeRiFÉRicA À inSULinA e RedUÇÃO dA TeRMOGÊneSe Arruda AP1, Milanski M1, coope A1, Velloso LA1
1 Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas (FCM/Unicamp), Laboratório de Sinalização Celular, SP, Brasil
Diversos modelos animais de obesidade apresentam a ativação de res-posta inflamatória no hipotálamo, uma pequena região do cérebro que integra o controle da ingestão alimentar e do gasto energético. O aumento de fatores inflamatórios nessa região promove um distúrbio nos sinais anorexigênicos gerados pelos hormônios leptina e insulina. Dentre os fatores inflamatórios que se encontram elevados em indiví-duos obesos, destaca-se o TNF-a. Sendo a obesidade o maior fator de risco para o desenvolvimento de diabetes melito (DM2), o objetivo deste trabalho foi avaliar se a indução de inflamação hipotalâmica, me-diante a administração de TNF-a ou de ácido graxo saturado, poderia reproduzir algumas das manifestações clínicas e metabólicas observadas na DM2. Verificou-se que em ratos Wistar magros, a injeção intracere-broventricular (icv) de TNF-a, por quatro dias, promoveu diminuição do efeito anorexigênico da leptina, por meio da ativação da proteína SOCS 3, que inibe a via JAK/STAT3 da leptina. Esse efeito foi acom-panhado pela redução do consumo de O2 e da liberação de CO2, indi-cando uma diminuição da taxa metabólica nos animais. De acordo com esses dados, o tratamento com TNF-a-icv promoveu redução de ex-pressão de proteínas envolvidas com a termogênese no tecido adiposo marrom e no músculo esquelético. Interessantemente, a administração icv de TNF-a provocou também redução na secreção de insulina esti-mulada por glicose em ilhotas pancreáticas isoladas, bem como dimi-nuição na transdução de sinal induzida pela insulina no fígado e mús-culo esquelético. Os efeitos promovidos pela administração de TNF-a no hipotálamo foram mimetizados pela injeção icv de ácido esteárico, um ácido graxo saturado com reconhecido papel inflamatório. Por fim, verificou-se que a utilização icv de infliximab, um anticorpo que blo-queia as ações do TNF-a, é capaz de reverter parcialmente à diminui-ção da taxa metabólica e a resistência periférica a insulina encontrada em ratos obesos. Em conjunto, esses dados indicam que a inflamação hipotalâmica é suficiente para induzir mudanças em diversos parâme-tros comumente alterados na obesidade e DM2, sendo o TNF-a um importante mediador desse processo. Suporte financeiro: Fapesp.
VI.4AnÁLiSe dO PeRFiL de RiScO cARdiOMeTABÓLicO de AMOSTRA POPULAciOnAL dO MUnicÍPiO de SÃO PAULO e iMPLeMenTAÇÃO de PROGRAMA de PReVenÇÃO de diABeTeS MeLiTO TiPO 2Siqueira-catania A1, Barros cR1, cezaretto A1, Salvador eP1,Ferreira SRG2
1 Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo (FSP/USP), Nutrição. 2 USP, Medicina Preventiva, SP, Brasil
O diabetes melito (DM) tipo 2 exerce alto impacto na morbimor-talidade das populações e tem na obesidade central um importante
S90
ReSUMOS de PAinÉiS de PeSQUiSA
fator de risco. Diversos estudos já demonstraram que mudanças no estilo de vida visando à perda de peso reduzem a incidência de DM tipo 2 em indivíduos de risco. Este projeto visa buscar a prevenção do DM tipo 2 em adultos (> 18 e < 80 anos) portadores de pré-diabetes e/ou síndrome metabólica (SM), residentes no município de São Paulo. Os pacientes foram selecionados pelo Inquérito de Saúde Alimentar – ISA-capital ou rastreados em centro de saúde. O estudo é longitudinal e terá duração de 18 meses, nos quais duas modalidades de intervenção no estilo de vida vêm sendo oferecidas: tradicional (T) ou intensiva (I). A primeira constitui-se de consultas médicas trimestrais para avaliação e orientação de perda de peso. Na segunda também ocorrem orientação por equipe multiprofissional (nutricionista, educador físico e psicólogo) e prática de exercícios físicos. Dados clínicos, dietéticos, psicológicos e de atividade física vêm sendo avaliados em três momentos (início, após 9 e 18 meses de intervenção), nos quais as frequências, médias e desvios-padrão dessas variáveis são calculados. Até o presente momento, a totalidade da amostra (n = 177) foi avaliada no basal, e 149 indivíduos foram reavaliados após nove meses (32,2% homens, com idade média de 55,4 ± 12,0 anos). As características basais foram semelhantes en-tre os grupos. Após nove meses de intervenção, ambos reduziram a ingestão calórica. No grupo I, mas não no T, houve redução na porcentagem total de gordura da dieta (I: 32,6 ± 6,0% para 30,8 ± 5,3%, p = 0,033; T: 30,6 ± 5,9% para 29,7 ± 4,8%, p = 0,452) e aumento no consumo de fibras (I: 9,6 ± 3,7 para 10,8 ± 4,4 g/1.000 kcal, p = 0,014; T: 9,8 ± 4,5 para 9,7 ± 3,2 g/1.000 kcal, p = 0,851). A frequência de compulsão alimentar diminuiu no grupo I (28% para 4%, p = 0,001), mas não no T. A proporção de indivíduos fisicamen-te ativos foi diferente entre os grupos após os nove meses (I: 86,9 vs. T: 67,6%, p = 0,029). Pressão arterial, glicemia de jejum (99 ± 12 para 95 ± 12 mg/dL, p = 0,024) e pós-prandial (123 ± 28 para 114 ± 28 mg/dL, p = 0,006) reduziram somente no I. HDL-colesterol e adiponectina aumentaram, e a insulinemia de jejum diminuiu em ambos os grupos. Os benefícios cardiometabólicos foram percebidos em ambas as intervenções, porém resultados mais favoráveis ocor-reram no grupo I, atribuídos possivelmente à abordagem multipro-fissional. Uma nova avaliação será realizada ao final de 18 meses de seguimento, na qual a frequência de SM e pré-DM e a ocorrência de DM tipo 2 poderão ser avaliadas e comparadas entre os grupos.
VI.5WHAT iS diABeTOLOGY & MeTABOLic SYndROMe JOURnAL? Giannella-neto d1
1 Universidade de São Paulo (USP), Gastroenterologia, Disciplina de Gastroenterologia Clínica, SP, Brasil
Diabetology & Metabolic Syndrome, the official journal of the Brazi-lian Diabetes Society (SBD), is an open access, peer reviewed, online journal that aims to further the understanding of all aspects of diabe-tes and metabolic syndrome. The journal presents original material on any aspect of laboratory, animal or clinical research about the physiology and pathophysiology of diabetes and metabolic syndro-me. Through offering a high‐visibility forum for new insights and discussions, the journal aims to help health care providers improve the management of people afflicted by these syndromes by incre-asing knowledge and stimulating research in the field. Diabetology & Metabolic Syndrome reports on basic research and clinical studies in the areas of genetics, pathophysiology, immunology, epidemio-
logy, clinical management, therapeutic strategies, education, nutri-tion and psychosocial research relevant for the study of diabetes and metabolic syndrome. Content overview Diabetology & Metabolic Syndrome considers the following types of articles: Research: reports of data from original research. Reviews: comprehensive, authorita-tive, descriptions of any subject within the journal’s scope. These articles are usually written by opinion leaders that have been invi-ted by the Editorial Board. Commentaries: short, focused and opi-nionated articles on any subject within the journal’s scope. These articles are usually related to a contemporary issue, such as recent research findings. They focus on specific issues and are about 800 words in length. Case reports: reports of clinical cases that can be educational, describe a diagnostic or therapeutic dilemma, suggest an association, or present an important adverse reaction. All case report articles should indicate that informed consent to publish the information was granted from the patients or their guardians. Short reports: brief reports of data from original research. Letters to the Editor: these can take three forms: a substantial re‐analysis of a previ-ously published article, or a substantial response to such a re‐analysis from the authors of the original publication, or an article that may not cover ´standard research´ but that may be relevant to readers. Peer review policy All submitted manuscripts will be evaluated by the Editors‐in‐Chief or experts from the Editorial Board and suit-able manuscripts then sent for peer review. The reports of at least two reviewers will be considered when deciding on acceptance or rejection of a manuscript; a further reviewer will be invited in cases where these reviewers disagree. Final decisions, however, rest with the Editors‐in‐Chief, who aim to provide an initial decision within six weeks. Edited by Daniel Giannella‐Neto and Marilia de Brito Gomes, Diabetology & Metabolic Syndrome is supported by an ex-pert Editorial Board. Reasons for publishing in Diabetology & Metabolic Syndrome: • All articles published in the journal are open access; universally accessible online without charge. • High visibility for your work ‐ anyone with Internet access can read your article, free of charge. • Included in PubMed ‐ making your work e asy to find, read and cite. • Articles are published immediately upon acceptance. • Authors retain the copyright of their articles. • Elec-tronic submission and peer‐review makes the whole process of pub-lishing your article simple and efficient. • Publishing online means unlimited space for figures, extensive datasets and video footage. • Professional formatting meets the standards expected by researchers. Submission of manuscripts Manuscripts should be submitted elec-tronically to Diabetology & Metabolic Syndrome using the online sub-mission system at www.dmsjournal.com. Full details of how to sub-mit a manuscript are given in the instructions for authors. General journal policies Diabetology & Metabolic Syndrome is published by BioMed Central, part of Springer Science+Business Media. BioMed Central is committed to ensuring peer reviewed biomedical research is open access. That means it is freely and universally accessible on-line, it is archived in at least one internationally recognized free ac-cess repository, and its authors retain copyright, allowing anyone to reproduce or disseminate articles, according to the BioMed Central copyright and license agreement. Diabetology & Metabolic Syndrome however, has taken this further by making all its content open access. Diabetology & Metabolic Syndrome´s articles are archived in PubMed Central, the US National Library of Medicine´s full‐text repository of life science literature, and also at INIST in France and in e‐Depot, the National Library of the Netherlands´ digital archive of all elec-tronic publications. The journal is also participating in the British Library´s e‐journals pilot. 8;275:E332-7.
S92
ReSUMOS de PÔSTeReS
001THe ReVeRSe cHOLeSTeROL TRAnSPORT iS iMPAiRed BY SeRUM ALBUMin iSOLATed FROM UncOnTROLLed DIABETES MELLITUS PATienTSMachado-Lima A1, iborra RT1, Sartori cH1, nakandakare eR1,correa-Giannella MLc2, Passarelli M1
1 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), Laboratório de Lípides (LIM 10). 2 USP, Laboratório de Endocrinologia Celular e Molecular (LIM 25), SP, Brasil
In diabetes mellitus (DM) advanced glycation end products (AGE) contribute to atherogenesis disturbing the reverse cholesterol (chol) transport (RCT). We analyzed the in vivo role of modified albu-min (alb) isolated from uncontrolled DM subjects on the RCT, namely, macrophage chol efflux and HDL-chol uptake by the SR-BI receptor. Serum alb from healthy controls (C; n = 12) and from uncontrolled type 1 (DM1; n = 13) and type 2 DM (DM2; n = 11) individuals (HbA1c > 7.5%) was purified by FPLC and alco-holic extraction. AGE-alb was prepared by in vitro incubation (4 days, 37°C, under N2) with 10 mM glycolaldehyde (GAD) or PBS alone (non glycated alb). Endotoxin levels in alb were below 50 pg/mL and no cell toxicity was observed. LDL and HDL were isolated by discontinuous density gradient ultracentrifugation from healthy control subjects’ plasma. HDL was labeled with 3H-choles-teryl oleoyl ether (3H-COE-HDL). J774 macrophages were loaded with acetylated LDL together with 14C-chol and treated for 18h with non glycated, AGE, C, DM1 or DM2 alb (1 mg/mL DMEM). In order to measure the chol efflux cells were then exposed for 8h to the same incubations above in the absence or in the presence of apo AI (30 mg/mL). 3H-COE-HDL (50 mg/mL) uptake was determined in SR-BI transfected cells upon incubation for 8h with non glycated, AGE, C, DM1 or DM2 alb. Serum glycated alb (%) was higher in DM1 (27 ± 2) and DM2 (24 ± 2) than in C (10 + 0.5); p < 0.0001. Percent apo AI-mediated 14C-chol efflux after cell treatment with: 1) DM1 alb (1.3 ± 0.3) or DM2 alb (2.4 ± 0.5) was reduced compared to C alb (4.4 ± 0.5); p < 0.005; 2) AGE alb (2 ± 0.2) was lower than in non glycated alb (3.6 ± 0.3); p < 0.005. HDL-3H-COE (ng chol/ng cell) uptake by SR-BI transfected cells was: 1) reduced after treatment with DM1 (1.2 ± 0.1) or DM2 alb (1.6 ± 0.1) as compared to C alb (2.5 ± 0.1); p < 0.0001; 2) lower in cells treated with AGE alb (2 ± 0.04) in comparison with non gly-cated alb (2.4 ± 0.1); p < 0.005. In conclusion, in vivo modified alb leads to abnormalities in RCT, thus contributing to atherogenesis in uncontrolled DM patients. Funding: Fapesp, Brazil (06/55496-7).
002eFeiTO dA PROciAnidinA PReSenTe nO PÓ dO cAcAU (THEOBROMA CACAO) nA PReSSÃO ARTeRiAL de PORTAdOReS dO diABeTeS MeLiTO TiPO iiVicentim AL1, Marcellino M2
1 Universidade do Sagrado Coração (USC), Enfermagem. 2 USC, Ciências da Saúde, SP, Brasil
Introdução: O diabetes melito é uma doença crônica que pode ser provocada pela destruição das células beta das ilhotas de Langerhans, pela sinalização insuficiente destas e por alterações ou redução dos receptores para a ligação da insulina. A hiperglicemia torna-se ca-racterística comum a todos os tipos de diabetes e determinará suas complicações micro e macrovasculares. Estudos recentes relatam que a hiperglicemia persistente reduz a atividade da enzima óxido nítrico sintetase (NOS) existente no endotélio, cuja função é produzir óxido nítrico (NO); este apresenta função vasodilatadora com importância na homeostasia circulatória e vascular. O uso de fitoterápicos como coadjuvantes ao tratamento ou prevenção das lesões vasculares tor-
na-se importante aliado terapêutico. A semente do cacau apresenta um flavonol chamado procianidina, cuja atividade favorece a síntese de óxido nítrico (NO) e pode representar uma alternativa à preven-ção e ao tratamento da lesão vascular nesse grupo de indivíduos. Ob-jetivo e métodos: O presente estudo objetivou avaliar o efeito do cacau em pó, administrado numa concentração de 2 g, três vezes ao dia, em seis pacientes normotensos, portadores de diabetes mellitus tipo II, da Associação dos Diabéticos de Bauru – SP. O procedimen-to ocorreu num período de 30 dias e, após a análise estatística, foi constatado que a média da pressão arterial de quatro participantes diminuiu. Resultados: Com base na análise estatística, teste para-métrico t-Student com significância < 0,05, concluiu-se que o cacau em pó reduziu de forma significativa a pressão arterial diastólica (p = 0,049). A interferência na pressão arterial sistólica (p = 0,484), a variação do peso (p = 0,933) e a glicemia capilar (p = 583) não foram significativas estatisticamente. Discussão: Vários autores rea-lizaram pesquisas referentes à confirmação dos efeitos benéficos do chocolate, cacau e flavanoides, já que há evidências de que algumas formas de cacau e chocolate podem ter o potencial para melhorar a saúde cardiovascular. Fraga (2005) relata que o consumo de choco-late amargo melhora o metabolismo da glicose e diminui a pressão sanguínea. Grassi et al. (2005) declaram que o chocolate amargo diminuiu a pressão sanguínea e o soro do colesterol LDL, melhorou o fluxo mediado pela dilação e melhorou a sensibilidade da insulina em hipertensos. Faridi et al. (2008) relatam que a ingestão aguda de chocolate amargo e cacau líquido melhorou a função endotelial e di-minuiu a pressão sanguínea em adultos com sobrepeso, e esses efei-tos são significativamente maiores com o cacau sem açúcar que com o cacau normal. Conclusão: Este estudo demonstrou uma redução de forma significativa na pressão arterial diastólica (p = 0,049), en-quanto a interferência na pressão arterial sistólica não foi significativa (p = 0,484), apesar de demonstrar tendência à queda. Referência: Vicentim AL, Marcellino MCL. Efeito da procianidina presente no pó do cacau (Theobroma Cacao) na pressão arterial de portadores do diabetes melito tipo II. 2009. 48f. Projeto de Pesquisa (Graduação em Enfermagem) – Universidade do Sagrado Coração, Bauru.
Entidades financiadoras: Associação dos Diabéticos de Bauru (ADB) e Universidade do Sagrado Coração (USC).
003ASSOciAÇÃO enTRe PARÂMeTROS dA MARcHA e FORÇA dO TORnOZeLO eM neUROPATAS diABÉTicOSMartinelli AR1, camargo MR1, nozabieli AJL1, Fregonesi cePT1, Faria cRS1
1 Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista (FCT/Unesp), Fisioterapia, SP, Brasil
Introdução: A neuropatia diabética periférica (NDP) causa déficit na marcha e na força muscular dos tornozelos. Talvez exista uma relação global entre tais déficits. O objetivo deste trabalho foi veri-ficar a presença de déficits dos parâmetros espaçotemporais da mar-cha e da força muscular isométrica de tornozelos de sujeitos com NDP. Buscou, ainda, investigar se esses déficits podem ter relação entre si. Métodos: Trinta indivíduos com NDP foram comparados a trinta controles não diabéticos. Os parâmetros espaçotemporais da marcha foram avaliados por meio da cronometragem de tempo para deambular numa distância fixa, em duas situações: velocidade habi-tual e rápida. A força muscular isométrica dos tornozelos foi avaliada com um dinamômetro digital portátil. Foi aplicado o Teste F para comparação entre os grupos e a técnica multivariada das correlações canônicas para associação das variáveis. Resultados: Indivíduos com NDP apresentaram déficit significante em cinco dos seis parâmetros da marcha avaliados. Deambulando em velocidade confortável, os resultados nos grupos NDP e controle, respectivamente, foram:
S93
ReSUMOS de PÔSTeReS
amplitude do passo – 0,61 ± 0,08 e 0,70 ± 0,08 m (p = 0,0262); cadência – 1,79 ± 0,15 e 1,99 ± 0,23 passos/s (p = 0,0061); veloci-dade – 1,10 ± 0,14 e 1,40 ± 0,22 m/s (p = 0,0005). Em velocidade rápida, os resultados foram: amplitude do passo – 0,74 ± 0,10 e 0,84 ± 0,12 m (p = 0,0743); cadência – 2,04 ± 0,24 e 2,35 ± 0,43 passos/s (p = 0,0425); velocidade – 1,50 ± 0,19 e 1,96 ± 0,32 m/s (p = 0,0005). Em relação à força, os resultados para os grupos NDP e controle, respectivamente foram: dorsiflexores dominantes – 5,20 ± 2,38 e 7,75 ± 2,28 kg (p = 0,0012); dorsiflexores não dominantes – 4,42 ± 1,98 e 6,30 ± 2,07 kg (p = 0,0622); plantiflexores domi-nantes – 15,75 ± 6,72 e 21,99 ± 6,59 kg (p = 0,0047); plantiflexores não dominantes – 17,37 ± 6,87 e 24,32 ± 7,39 kg (p = 0,0048). Os parâmetros da marcha associaram-se significantemente aos valores de força muscular no grupo NDP (p = 0,0019), o que não ocor-reu no grupo controle (p = 0,1493). Discussão: Em indivíduos com NDP, a força de tornozelos e a marcha encontram-se realmen-te comprometidos quando comparados a um grupo não diabético. A presença de associação entre tais parâmetros apenas no grupo NDP pode ser interpretada de forma que, quando existem uma fraqueza da musculatura e uma perda da qualidade da marcha, esses parâmetros demonstram relação. Contudo, em indivíduos não diabéticos a asso-ciação não é significante em virtude, provavelmente, da integridade do sistema neuro-sensório-motor. Referências: 1. Giacomozzi C, Uccioli L, et al. Walking strategy in diabetic patients with peripheral neuropathy. Diabetes Care. 2002;25(8):1451-7. 2. Akashi PMH, Sacco ICN, Watari R, Hennig E. The effect of diabetic neuropathy and previous foot ulceration in EMG and ground reaction forces during gait. Clin Biomech. 2008;23(5):584-92. 3. Gates DH, Din-gwell JB. Peripheral neuropathy does not alter the fractal dynamics of stride intervals of gait. J Appl Physiol. 2007;102(3):965-71.
004dÉFiciTS de eQUiLÍBRiO e PeRdA dA QUALidAde dA MARcHA eM PORTAdOReS de neUROPATiA diABÉTicAMartinelli AR1, camargo MR1, nozabieli AJL1, Faria cRS1, Fregonesi cePT1
1 Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista (FCT/Unesp), Fisioterapia, SP, Brasil
Introdução: A neuropatia diabética periférica (NDP), principal comorbidade do diabetes, causa comprometimento primeiramen-te sensitivo e posteriormente motor dos nervos periféricos distais. O déficit de equilíbrio e a perda da qualidade da marcha devem ser esperados nessa população. Este estudo teve como principal objeti-vo avaliar o equilíbrio estático e dinâmico e os parâmetros espaço-temporais da marcha, buscando encontrar uma associação entre tais aspectos. Métodos: Foram recrutados 30 indivíduos com NDP e 30 controles não diabéticos. A avaliação do equilíbrio estático foi realizada com o Teste Functional Reach (FR) e para o equilíbrio dinâmico foi utilizado o Teste Timed Up and Go (TUG). A avalia-ção dos parâmetros espaçotemporais (amplitude do passo, cadência e velocidade da marcha) foi realizada por meio da cronometragem do tempo despendido para deambular numa distância fixa. Cada su-jeito realizou essa avaliação em duas situações: uma em velocidade confortável e outra em velocidade rápida. Foi aplicado o Teste F para comparação entre os grupos e a técnica multivariada das cor-relações canônicas para associação das variáveis. Resultados: Os sujeitos com NDP demonstraram déficits significantes de equilíbrio, comparando-os com os controles, respectivamente – FR à direita teve média de 22,08 ± 6,90 cm e 34,12 ± 6,76 cm (p < 0,0001); FR à esquerda teve média de 22,93 ± 6,73 cm e 32,68 ± 5,91 cm (controles) (p < 0,0001); TUG teve média de 9,31 ± 2,87 s (NDP) e 7,06 ± 1,07 s (p < 0,0001). Na velocidade confortável, os resultados nos grupos NDP e controle foram: amplitude do passo – 0,61 ± 0,08
e 0,70 ± 0,08 m (p = 0,0262); cadência – 1,79 ± 0,15 e 1,99 ± 0,23 passos/s (p = 0,0061); velocidade – 1,10 ± 0,14 e 1,40 ± 0,22 m/s (p = 0,0005). Em velocidade rápida, os resultados foram: amplitude do passo – 0,74 ± 0,10 e 0,84 ± 0,12 m (p = 0,0743); cadência – 2,04 ± 0,24 e 2,35 ± 0,43 passos/s (p = 0,0425); velocidade – 1,50 ± 0,19 e 1,96 ± 0,32 m/s (p = 0,0005). As medidas de associação demonstraram correlação significante entre os parâmetros da marcha e equilíbrio no grupo NDP (p = 0,0406) que não ocorreu no grupo controle (p = 0,5328). Discussão: Indivíduos com NDP apresen-tam quadro de instabilidade que pode piorar o padrão da marcha. O fato de ocorrer associação entre equilíbrio e marcha apenas no grupo NDP pode estar relacionado ao nível de estímulo dado ao sistema neuromotor. Referências: 1. Yavuzer G, et al. Gait devia-tions of patients with diabetes mellitus: looking beyond peripheral neuropathy. Eura Medicophys. 2006;42(2):127-33. 2. Richardson JK, et al. Gait analysis in a challenging environmental differentiates between fallers and nonfallers among older patients with periph-eral neuropathy. Arch Phys Med Rehabil. 2005;86(8):1539-44. 3. Menz HB, et al. Walking stability and sensorimotor function older people with diabetic peripheral neuropathy. Arch Phys Med Rehabil. 2004;85(2):245-52.
005A SUPLeMenTAÇÃO cOM GLUTATiOnA-eTiL-eSTeR RedUZ A APOPTOSe ceLULAR dURAnTe O iSOLAMenTO de iLHOTAS PAncReÁTicASRaposo ASA1, Oliveira eR1, costal FSL1, Giannella-neto d2, correa-Giannella MLc1
1 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Laboratório de Endocrinologia Celular e Molecular (LIM 25); 2 FMUSP, Laboratório de Investigação Médica (LIM 07), SP, Brasil
A viabilidade das ilhotas pancreáticas é comprometida durante o processo de isolamento que antecede o transplante de ilhotas. A isquemia, o trauma mecânico e a exposição a colagenase e enzi-mas pancreáticas, entre outros fatores, induzem perda da viabilida-de das ilhotas. Espécies reativas de oxigênio (ROS) produzidas sob tais condições, juntamente com a menor capacidade antioxidante das células-β pancreáticas, podem contribuir para a perda de tecido previamente ao transplante. O objetivo do presente estudo foi ava-liar se a suplementação com glutationa (GSH), um dos principais antioxidantes endógenos, durante o isolamento das ilhotas pancre-áticas poderia melhorar a viabilidade das ilhotas após o processo de isolamento. Como a GSH não é transportada eficientemente para o interior da maioria das células, utilizou-se neste estudo a glutationa-etil-ester (GEE), uma vez que o grupo éster permite maior dispo-nibilidade intracelular. Ilhotas foram isoladas de ratos utilizando colagenase, meio RPMI com 10% de soro fetal bovino e gradiente de densidade com Histopaque. GEE foi adicionado à solução de colagenase (10 mM) pouco antes da injeção intraductal. Imedia-tamente após o isolamento, as ilhotas isoladas na presença de GEE foram comparadas com as ilhotas isoladas na ausência de GEE. A taxa de apoptose foi avaliada por duas metodologias: (1) medida de atividade enzimática da caspase-3 (ELISA fluorimétrico) – atividade da caspase-3 foi calculada como unidades de fluorescência por mg de proteína; e (2) medição do potencial de membrana mitocondrial, usando o corante sensível ao potencial de membrana JC-1 e análise por microscopia de fluorescência e microscopia confocal. A fluores-cência foi expressa como a relação entre os comprimentos de onda 530 nm e 585 nm (verde/vermelho). Três experimentos indepen-dentes foram realizados para cada metodologia. A suplementação com GEE protegeu as ilhotas pancreáticas contra a apoptose man-tendo a integridade mitocondrial (GEE 1,02 Controle vs. 2,01 p < 0,0001) e promoveu uma redução de mais de 30% na atividade de caspase-3 (GEE 0,66 vs. Controle 0,98 p < 0,0001). A suplemen-
S94
ReSUMOS de PÔSTeReS
tação com GEE foi capaz de diminuir a taxa de apoptose de ilhotas isoladas, podendo ser utilizada para melhorar a viabilidade no isola-mento de ilhotas em modelos experimentais e, potencialmente, no transplante de ilhotas humanas.
006RePeRcUSSÕeS MATeRnO-FeTAiS de RATAS cOM diABeTe MOdeRAdO e diABeTe GRAVe dURAnTe A PRenHeZBueno A1, Saito FH1, iessi iL1, dallaqua B1, netto AO1, corvino SB1, casarri MB1, Sinzato YK1, Rudge MVc1, damasceno dc1
1 Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Ginecologia e Obstetrícia, SP, Brasil
Introdução: Diabetes melito é caracterizada pela presença de hiper-glicemia crônica com distúrbios do metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, que resulta em defeitos na secreção e/ou ação da insulina com consequências em longo prazo (American Diabetes Association, Diabetes Care, 32, S62, 2009). O diabete associado à gestação aumenta o risco de morbidades maternas e fetais (For-sbach-Sanchez et al., Arch Med Res, 36, 291, 2005). Estudos em humanos que exploram o mecanismo responsável pelas alterações causadas pelo diabete são limitados por razões éticas e pela multipli-cidade de variáveis não controladas que podem modificar o ambien-te intrauterino (López-Soldado & Herrera, Exp Diab Res, 4, 107, 2003). Assim, há necessidade da elaboração de modelos experimen-tais para melhor entendimento dos mecanismos fisiopatológicos do diabete. O objetivo do trabalho foi avaliar o impacto de diferentes modelos de diabete induzido por streptozotocin na prenhez de ratas e repercussões em seus descendentes. Método: Ratas Wistar foram distribuídas aleatoriamente em três grupos experimentais: Não dia-bético (C, n = 13), Diabete grave (DG, n = 52) e Diabete moderado (DM, n = 67). Na fase adulta as ratas foram acasaladas com ratos não diabéticos. Confirmada a prenhez, as glicemias foram mensuradas nos dias 0, 14 e 21 de prenhez. No 21º dia, ratas foram mortas para contagem de corpos lúteos, implantação e fetos vivos para determi-nação da taxa de fetos vivos por sítio de implantação. Os fetos e as placentas foram pesados. O limite de significância estatística foi p < 0,05. Resultados: Ratas DG e DM tiveram glicemias elevadas nos dias 0 e 14º de prenhez e ratas DG também tiveram hiperglicemia no 21º dia comparado ao grupo C. O grupo DM apresentou mé-dia reduzida de corpos lúteos, implantação e fetos vivos; o grupo DG teve redução na média de fetos vivos em relação ao C. A taxa de recém-nascidos (RN) pequenos para idade de prenhez (PIP) au-mentou nos grupos DM e DG quando comparados ao C. Ratas DG apresentaram maior taxa de RN PIP em relação ao DM. Ratas DG e DM tiveram porcentagem reduzida de RN adequados para idade de prenhez (AIP) quando comparadas ao C. A taxa de RN grande para idade de prenhez (GIP) diminuiu no grupo DG comparado ao DM. Os RN dos grupos DG e DM tiveram aumento de peso e índice placentário quando comparados com C. DG apresentou diminuição no peso fetal em relação ao DM e C. Discussão: Ratas DG tiveram hiperglicemia em toda a prenhez, reproduzindo a hiperglicemia pre-sente em mulheres com diabete clínico não controlado, corrobo-rando com outros estudos realizados em nosso laboratório (Kiss et al., Diabetol Metab Syndr, 1, 21, 2009). O DM e o DG alteraram o desenvolvimento fetal confirmado pelo aumento de RN PIP e pela redução de RN AIP e GIP. A hiperglicemia promove alterações no meio ambiente intrauterino levando a um ambiente impróprio para o desenvolvimento placentário e embriofetal. Neste estudo, modelos com diferentes intensidades glicêmicas proporcionaram um ambien-te intrauterino desfavorável para o adequado crescimento placen-tário, caracterizado pela insuficiência placentária e inviabilidade do desenvolvimento embriofetal (alterações na ovulação, implantação e desenvolvimento fetal). Apoio: Fapesp e Capes.
007MeLHORA dA SenSiBiLidAde À inSULinA e RedUÇÃO dA eXPReSSÃO de TnF-ALFA eM MÚScULO eSQUeLÉTicO de RATOS OBeSOS SUBMeTidOS A TReinAMenTO AeRÓBiOPanveloski Ac1, Pinto Júnior dAc2, Brandão BB2, Seraphim PM1
1 Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista (FCT/Unesp), Fisioterapia. 2 FCT/Unesp, Educação Física, SP, Brasil
Introdução: O quadro de inflamação subclínica característico da obesidade é proporcionado pelo aumento da produção e liberação de citocinas pró-inflamatórias, principalmente pelo tecido adiposo branco1. Esse quadro tem mostrado participação importante no de-senvolvimento da resistência à insulina. No entanto, além do tecido adiposo, tem-se sugerido a função endócrina para músculo esquelé-tico por causa de sua capacidade de produzir e liberar citocinas anti- inflamatórias durante a contração muscular2. Nesse contexto, a práti-ca de atividade física é considerada muito importante para a reversão da resistência à insulina gerada pela obesidade. Objetivo: Quantificar a expressão de RNAm de TNF-alfa e de GLUT4 no músculo sóleo de ratos obesos submetidos a um programa de atividade física aeróbia. Métodos: Foram utilizados ratos machos Wistar distribuídos em qua-tro grupos: Controle Sedentário (CS); Controle Exercício Aeróbio (CEA); Obeso Sedentário (OS); Obeso Exercício Aeróbio (OEA). Os animais dos grupos OS e OEA foram alimentados com dieta hipercalórica (dieta de cafeteria) a partir do segundo mês de vida. O treinamento aeróbio foi iniciado a partir do quarto mês de idade em um ergômetro (esteira rolante), uma vez por dia, cinco vezes por semana, durante seis semanas. Para a avaliação do grau de resistência à insulina dos animais, foi realizado um teste de tolerância à insulina in vivo (TTI) com aplicação de insulina humana regular (0,5 U/kg PC) no tempo basal e determinação da glicemia pelo glicosímetro (Bio-check, Brasil). Para a avaliação da expressão dos genes do TNF-alfa e do GLUT4 foi utilizada a técnica de RT-PCR. A avaliação estatística dos resultados foi feita por meio da comparação das médias, utilizan-do o teste ANOVA, paramétrico, com pós-teste quando necessário (Tukey ou Student-Newman-Keuls). As diferenças entre os grupos foram consideradas significantes quando o valor de P foi menor que 0,05. Resultados: O índice de Lee (raiz cúbica do peso dividido pelo comprimento nasoanal) foi calculado para indicar a massa corpórea dos animais, sendo 31,89 ± 0,16 para o grupo OS e 30,7 ± 0,27 para o grupo OE (P < 0,0091). A constante de decaimento da inclinação da reta de valores de glicemia obtida pelo TTI mostrou melhora da sensibilidade à insulina nos grupos CE (8,27 ± 2,3) vs. CS (5,3 ± 1,1) e OE (7,7 ± 1,3) vs. OS (4,8 ± 2,7) com P < 0,02. Na análise da expressão RNAm para o gene GLUT4 pode-se observar aumento de 29% no grupo CE vs. CS e de 11% no grupo OE vs. OS. Conco-mitantemente, ocorreu redução de 30% na expressão de TNF-alfa no grupo OE vs. OS e de apenas 6% no CE vs. CS, embora sem diferença estatisticamente significante. Discussão: As vias intracelulares ativa-das pelo TNF-alfa e outras citocinas, que interagem com a sinalização da insulina, precisam ser mais bem elucidadas, no entanto nesse es-tudo pode-se observar melhora no conteúdo de RNAm para o gene GLUT4, simultaneamente a uma redução na expressão para o gene TNF-alfa nos grupos exercitados. Portanto, esses resultados sugerem que o treinamento aeróbio pode ser uma ferramenta importante para minimizar as alterações na sensibilidade à insulina decorrentes da in-flamação subclínica provocada pela obesidade. Referências: 1. Park EJ. Cell. 2010;140:197. 2. Pedersen BK. J Appl Physiol. 2007.
008diABeTeS TiPO 1 e PAdRÕeS ReLAciOnAiS FAMiLiAReS: UM eSTUdO de cASOFerreira AcP1, Kublikowiski i11 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Pós-graduação em Psicologia Clínica, SP, Brasil
Introdução: A presente pesquisa teve por objetivo compreender os padrões relacionais de uma família que está sendo acompanhada pela
S95
ReSUMOS de PÔSTeReS
Justiça, diante da baixa aderência ao tratamento da filha adolescente diabética, o que está pondo em risco a vida dessa paciente. Método: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, fundamentada a partir da pers-pectiva sistêmica e delineada por meio do estudo de um caso. Foram utilizados dois instrumentos de coleta de dados: o genograma e o teste da Entrevista Familiar Estruturada (EFE), de Férez-Carneiro (2005). Resultados: A partir da análise das respostas, chegou-se aos seguintes resultados: a comunicação na família é confusa, pouco congruente e com pouco investimento de carga emocional. A lide-rança é exercida basicamente pelo pai, que tem uma tendência fixa e autocrática. A manifestação de agressividade se faz presente, mas sem direcionalidade adequada e com caráter destrutivo e desintegrador. A divisão de papéis entre os membros da família estudada se encon-tra presente e relativamente definida, mas por causa da sua rigidez, dificultam a adaptação às situações que necessitem de mudanças. A afeição física está presente, mas se dá basicamente das filhas em relação aos pais, o que se observou menos frequente no sistema con-jugal e na relação parental e fraternal. Quando há expressão emocio-nal, esta ocorre de forma inadequada. A interação conjugal é diferen-ciada, mas pouco gratificante. O processo de individualização entre os membros está comprometido, assim como a integração familiar. A baixa autoestima se faz presente entre todos os membros, reme-tendo à situação de estigmatização e preconceito. Enfim, percebe-se que perante a análise das relações familiares dos Decolores, segundo a escala da EFE, esta família pode ser considerada como dificultadora do desenvolvimento emocional dos seus membros. O genograma dessa família apontou repetições nos padrões relacionais, tais como distúrbios na comunicação familiar, pouca expressão afetiva, rigidez nas relações e agressividade. Discussão: Tal estudo nos permitiu re-fletir sobre a necessidade de se criar espaço no tratamento dos diabé-ticos juvenis para atendimentos familiares a fim de possibilitar a escu-ta e o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento facilitadoras da saúde física e emocional de seus membros.
009A HiPeRGLiceMiA MATeRnA, indePendenTeMenTe dO diAGnÓSTicO dO diABeTe, ReLAciOnAdA A ReSULTAdOS PeRinATAiS AdVeRSOS nA OXiGenAÇÃO FeTALRuocco AMc1, Morceli G2, Moreli JB1, Magalhães VB1, damasceno dc1, calderon iMP2
1 Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista (FMB/Unesp), Programa de Pós-graduação em Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia. 2 FMB/Unesp, Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, SP, Brasil
Introdução: As gestações complicadas pelo diabetes melito, gestacional (DMG) ou pré-gestacional (DMPG) se relacionam a resultado perinatal adverso (RPNA) (Macintosh et al. BMJ, v. 333, p. 177, 2006), com evidente prejuízo da oxigenação fetal. Tais resultados se relacionam à qualidade do controle glicêmico na gestação. A literatura reconhece graus intermediários de hiperglicemia materna, também responsáveis por RPNA, independentemente do diagnóstico de diabetes melito. Em nosso meio foi identificado um grupo de gestantes que, apesar do TTG100g normal, apresenta hiperglicemia no perfil glicêmico (PG) e, portanto, risco aumentado para RPNA (Rudge et al. Braz J Med Biol Res, v. 23, p. 1079, 1990). As gestantes desse grupo são consi-deradas como portadoras de hiperglicemia leve (HL) e tratadas para o controle da glicemia elevada. Assim, pretende-se comparar os mar-cadores da oxigenação fetal entre mães portadoras de diabetes melito, gestacional (DMG) e pré-gestacional (DMPG), HL e não diabéticas (ND). Método: Acompanhou-se uma coorte de mães portadoras de DMG (n = 22), DMPG (n = 15), HL (n = 18) e ND (n = 31) e seus recém-nascidos (RN). O diagnóstico de DMG e de HL foi realizado pelo TTG100g, aplicado em paralelo com o PG, entre 24 e 28 semanas de gestação (Rudge et al. Braz J Med Biol Res, v. 23, p. 1079, 1990). Entre os parâmetros maternos foram avaliadas média glicêmica (MG) e
hemoglobina glicada (HbA1c) do terceiro trimestre. A média glicêmi-ca foi calculada pela média aritmética das glicemias avaliadas em todos os PG de controle. Os marcadores da oxigenação fetal avaliados foram hematócrito (Ht), hemoglobina (Hb), pH de cordão, índice de Apgar de primeiro e quinto minutos, bilirrunina total (Bt), bilirrubina direta (Bd), bilirrubina indireta (Bi), necessidade de fototerapia e internação em UTI. Utilizou-se o teste t para a comparação das médias e o teste do qui-quadrado para as proporções (p < 0,05). Resultados: Foram resul-tados estatisticamente significativos – (1) a MG e HbA1c (p < 0,001): os valores foram mais elevados nas portadoras de HL (103.21 mg/dL; 5.98%), DMG (109.23 mg/dL; 6.37%) e DMPG (121,89 mg/dL; 6.94%) que nas ND (81.7 mg/dL; 5.55%); (2) hematócrito (p < 0.006) e hemoglobina (p < 0.025): os valores foram mais elevados nas hiperglicêmicas – HL (48,09%; 15,77 g/dL); DMG (55,29%; 15,50 g/dL) e DMPG (51,82%; 16,78 g/dL), comparadas às ND (46,61%; 13,61 g/dL). Discussão: Os parâmetros maternos, bem como os mar-cadores de oxigenação fetal de mulheres diabéticas gestacionais, pré-gestacionais e hiperglicêmicas leves, foram diferentes dos observados em mães não diabéticas. A glicemia elevada dessas mães determinou altera-ções, principalmente em relação a HbA1c, hematócrito e hemoglobina. Esses resultados sinalizam que, independentemente do diagnóstico de diabete, a hiperglicemia, presente no meio intrauterino, aumenta o risco de RPNA relacionado à oxigenação intrauterina. A hiperglicemia ma-terna, de qualquer origem e intensidade, portanto, deve ser controlada. Fapesp 07/00771-6. PIBIC/CNPq (2008-2009 e 2009-2010).
010GLUcOSe UPTAKe in SKeLeTAL MUScLe And AdiPOSe TiSSUe OF RATS RecOVeRed FROM PROTein MALnUTRiTiOnYamada AK1, cambri LT1, Guezzi Ac1, Ribeiro c1, Mello MAR1
1 Universidade Estadual Paulista (Unesp), Educação Física, SP, Brasil
Introduction: There are strong evidences in the association of fe-tal/neonatal protein malnutrition and predisposition of metabolic syndrome (Hales & Baker Diabet, v. 35, p. 595, 1992). Alterations in intra-uterine availability of nutrients are capable to programme tissue development leading to metabolic disturbances in glucose me-tabolism (Ozzane & Hales, Proceedings of the Nutrition Society, v. 58, p. 615, 1999). Diverse tissues including skeletal muscle and adipose tissue depend on glucose as energy source (Matsuo et al. J Nutr Sci Vitaminol, v. 45, p. 667, 1999). Thus, the aim of this study was to verify glucose uptake by skeletal muscle and adipose tissue in rats recovered from protein malnutrition. Methods: Three groups of animals were evaluated: Normoprotein (NP) pups from dams fed a 17% casein diet during pregnancy and lactation, kept on the same diet until 70 days. Hipoprotein (HP): pups from dams fed a 6% ca-sein diet during pregnancy and lactation, kept in the same diet until 70 days. Hipoprotein/normoprotein (HP/NP): pups from dams fed a 6% casein diet during pregnancy and lactation and a 17% casein diet from weaning (21 days) to 70 days. Glucose uptake by adipose tissue and soleus muscle were evaluated, using [3H] 2-deoxyglucose as a marker. Statistics: One-way ANOVA and Duncan Post-Hoc were used. Significance level was pre fixed in 5%. Results:
Table 1. Results (mean ± standard deviation, n = 10). Different letters indicate different values.
HP HP/NP NP
Serum Glucose (mg/dL) 102,7 ± 15,3a 128,8 ± 26,8a 112,6 ± 21,5a
Glucose uptake by soleous muscle (μmol/g.h)
0,48 ± 0,2a 0,35 ± 0,1a 0,27 ± 0,03a
Glucose uptake by mesenteric adipose tissue (μmol/g.h)
0,82 ± 0,29a 0,89 ± 0,39a 0,51 ± 0,19b
Retriperitonial adipose tissue weight (g/100 g) 0,63 ± 0,12a 0,26 ± 0,08b 0,64 ± 0,23a
Subcutaneous adipose tissue weight (g/100 g) 0,61 ± 0,25a 0,32 ± 0,08b 0,34 ± 0,05b
S96
ReSUMOS de PÔSTeReS
Discussion: It was demonstrated in some studies the presence of hy-poglycemia in malnourished rats (Okitolonda, Diabetologia, v. 30, p. 946, 1987). However, in the present study no significant difference between groups was found in serum glucose, as reported previously by our group (Almeida et al., Rev Bras Educ Fis Esporte. V. 18, p. 17, 2004). As we did not find any significant difference in gluco-se uptake by soleus muscle either, it is possible that this situation may have contributed for keeping circulating glucose homeostasis. On the other hand, we observed enhanced adipose tissue weight in malnourished rats. Malnutrition leads to diminished lean body mass generally with preserved adipose tissue. It has been proposed that enhanced glucose uptake in adipose tissue in malnourished rats is related to the hability to store glucose as triacylglicerol (Ozzane & Hales, 1999). It is possible that the enhanced glucose uptake by the adipose tissue observed in our HP group should be related to carbo-hydrate conversion into lipids for energy source and glucose home-ostasis maintenance. Conclusions: Malnourished rats used glucose for lipid storage in adipose tissue. Thus, malnourished rats seem to have important metabolic adaptations related to blood glucose ho-meostasis maintenance. These alterations, however, are changed du-ring the nutritional recovery process, avoiding metabolic syndrome signs in this rat model. Financial support: Capes, Fapesp, CNPq.
011cAMUndOnGOS TLR2 KNOCKOUT APReSenTAM ReSiSTÊnciA À inSULinA e ATiVAÇÃO de JnK nOS TecidOS MUScULAR, HePÁTicO e AdiPOSO: O PAPeL dO eSTReSSe de ReTÍcULO endOPLASMÁTicOcaricilli AM1, Picardi PK1, Abreu LLF2, carvalho BM1, Ueno M1, Prada PO1, Saad MJA1
1 Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas (FCM/Unicamp), Clínica Médica. 2 Unicamp, Enfermagem, SP, Brasil
Introdução: Há evidências de que a ativação das vias JNK, IKK e iNOS está relacionada com a redução da sensibilidade à insulina, mas só recentemente demonstrou-se que essas vias podem ser integradas na resistência à insulina (RI) por meio de receptores de membrana, como os toll-like receptors (TLR). Estudos do nosso laboratório de-monstram que camundongos com mutação inativadora do TLR4 estão protegidos da obesidade induzida por dieta e da ativação de IKKβ e da JNK. É possível que outros TLR participem desse fe-nômeno, sendo o TLR2 um possível candidato, já que é ativado por ácidos graxos saturados. Entretanto, nenhum estudo procurou caracterizar o papel do TLR2 na RI em modelos animais. Assim, o objetivo do presente estudo é investigar o papel do TLR2 na RI em camundongos. Foram investigados o ganho de peso, a sensibilida-de à insulina e a sinalização desse hormônio em fígado, músculo e tecido adiposo de camundongos knockout (KO) para TLR2 e seus controles, ambos submetidos à dieta-padrão. Métodos: Estudou-se a utilização de glicose por clamp euglicêmico-hiperinsulinêmico, sinalização proteica por Western Blotting e insulina, IL-6 e TNF-alfa séricos por ELISA, captação de glicose in vitro em músculo sóleo e consumo de oxigênio por respirometria. Resultados: Os camun-dongos apresentaram-se semelhantes quanto ao ganho de peso, no entanto os KO para TLR2 apresentaram menor consumo de oxigê-nio e menor expressão de UCP1 do que seus controles. Além disso, os animais KO para TLR2 mostraram tolerância à glicose e sensi-bilidade à insulina diminuídas. Da mesma forma, a sinalização da insulina mostrou-se alterada nesses animais, dado que o receptor de insulina e a AKT encontram-se menos ativados. Observou-se uma redução da ativação do IKK nos tecidos estudados de camundongos KO para TLR2, o que foi acompanhado pela concentração sérica de IL-6 e TNF-alfa reduzida em comparação com os controles, en-quanto a fosforilação de JNK mostrou-se aumentada em músculo e
fígado desses animais, sugerindo que outras proteínas podem estar participando da modulação da sinalização da insulina, aumentando a ativação da JNK. A fim de elucidar essa questão, estudou-se a ativa-ção de proteínas ligadas ao estresse de retículo endoplasmático (RE). Houve aumento da fosforilação de PERK, bem como da expressão de IRE-1alfa, proteínas associadas ao estresse de RE. Discussão: Dessa forma, é possível que o estresse de RE esteja relacionado ao aumento da ativação de JNK nos KO para TLR2, levando a um quadro de resistência à insulina. Os resultados desse estudo demons-tram, portanto, que o animal knockout para TLR2 apresenta resis-tência à insulina, provavelmente decorrente de ativação do estresse de retículo endoplasmático, sugerindo que, ao contrário do TLR4, o TLR2 conecta o sistema imune ao metabólico, protegendo contra a resistência à insulina. Apoio: Fapesp.
012AVALiAÇÃO de UM GRUPO de indiVÍdUOS de RiO PiRAcicABA, MG, PeLOS cRiTÉRiOS diAGnÓSTicOS de diABeTeS MeLiTO PROPOSTOS PeLA AdAMaia GA1, Bicalho G2, Sól nA3, Souza McFMc4, Gaede carrillo MRG5, Lima AA5
1 Assistência Social de Rio Piracicaba, Hospital Júlia Kubitschek. 2 Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Escola de Farmácia. 3 UFOP, Centro de Saúde. 4 UFOP, Matemática. 5 UFOP, Análises Clínicas, MG, Brasil
Introdução: A prevalência de diabetes melito (DM) no mundo está aumentando devido ao crescimento e envelhecimento populacional, urbanização, obesidade, sedentarismo e maior sobrevida do paciente diabético. A importância da prevenção e do diagnóstico precoce de DM e o avanço no conhecimento da doença fizeram com que fos-sem propostas alterações nos critérios diagnósticos desse distúrbio. Neste trabalho, analisou-se a relevância da mudança dos parâmetros de glicemia de jejum, propostos pela Associação Americana de Dia-betes em 2004, para o diagnóstico de diabetes, em um grupo de indivíduos residentes na cidade Rio Piracicaba, MG. Métodos: 240 indivíduos selecionados no laboratório do Hospital Júlia Kubitschek foram entrevistados para levantamento de dados gerais e fatores in-tervenientes na doença. Em seguida, amostras de sangue foram co-letadas para realização dos exames glicemia de jejum e perfil lipídico. A obesidade foi avaliada pelo Índice de Massa Corporal (IMC) e pela circunferência de cintura e relação cintura/quadril (CQ). A síndro-me metabólica foi avaliada utilizando os critérios NCEP ATP III e IDF. Os dados foram analisados no programa SPSS. Resultados e discussão: O grupo estudado foi constituído predominantemente por pessoas mais jovens (< 40 anos), do sexo feminino (79%), casa-das (67%) e com boa escolaridade (78%). Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes e/ou de complicações cardio-vasculares, destacaram-se sobrepeso/obesidade, obesidade abdomi-nal, sedentarismo e hipertensão. Os participantes do estudo mostra-ram desconhecimento em relação ao DM e suas complicações. Uma porcentagem considerável não sabia responder sobre história familiar de diabetes (14%), episódios de hipoglicemia (21%) e hipertensão (7%). Em relação à dislipidemia, 7% afirmaram ter alguma alteração de perfil lipídico. Entretanto, a análise laboratorial mostrou que 45% apresentaram algum tipo de alteração lipídica, sendo mais afetados os níveis séricos de triglicerídeos. O nível médio de glicemia de je-jum do grupo foi normal (90,88 mg/dL). Observou-se que dos indivíduos do grupo estudado que mudaram de glicemia de jejum normal para glicemia de jejum alterada pelos critérios propostos pela ADA 2004, 84% tinham sobrepeso/obesidade, com presença de obesidade abdominal e pelo menos um fator de risco para diabetes e complicações cardiovasculares. Diferença significativa foi encontrada no índice de massa corporal e na circunferência de cintura quando foram comparados os indivíduos que mudaram de classificação com os que permaneceram com glicemia de jejum normal nos novos cri-
S97
ReSUMOS de PÔSTeReS
térios. Financiamento: Assistência Social de Rio Piracicaba – Hospi-tal Júlia Kubitschek. Agradecimentos: Empresa Vale – Mina Água Limpa – Rio Piracicaba e Hospital Júlia Kubitschek – Rio Piracicaba.
013MARcAdOReS PRecOceS PARA ATeROScLeROSe eM PAcienTeS cOM diABeTeS MeLiTO TiPO 1Pinheiro A1, nakazone MA2, Felicio HSc1, Fonseca cM1, Yugar-Toledo Jc3, Pires Ac1, Tacito LHB1
1 Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp), Endocrinologia e Metabologia. 2 Famerp, Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular. 3 Famerp, Medicina, SP, Brasil
Introdução: Avaliação de disfunção endotelial e de espessura de íntima-média (EIM) da artéria carótida em indivíduos com fatores de risco para doença cardiovascular (DCV) é marcador precoce de aterosclerose. Este estudo teve como objetivo avaliar função endo-telial usando técnica de vasodilatação mediada pelo fluxo (VMF) e mensuração da EIM em pacientes com diabetes melito tipo1 (DM 1), correlacionando tais achados com parâmetros metabólicos. Ca-suística e métodos: Foram estudados 60 indivíduos, 32 pacientes portadores de DM1 (20 Mulheres – 12 Homens) do ambulatório de Diabetes da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP) com tempo médio de diagnóstico de 4,1 anos e 28 voluntários controles (GC) (20 mulheres – 8 homens). Os grupos (DM1 e GC) foram submetidos a avaliações de função endotelial e de EIM da artéria carótida, utilizando-se aparelho de ultrassom bidimensional de alta resolução e a análise automatizada off-line por programa computadorizado (Metris-France, M’ATH). Utilizou-se teste t para a análise estatística, valores expressos em média ± DP e análise multivariada, considerando P < 0,05. Resultados: Pacien-tes portadores de DM 1 apresentaram valores significantemente reduzidos de vasodilatação mediada pelo fluxo (8,9 ± 3,2%) com-parado ao GC (13,3 ± 4,3%, P < 0,0001). A análise da espessura íntima-média não diferiu entre pacientes (0,52 ± 0,03mm) e con-troles (0,51 ± 0,03mm, P = 0,07). Os grupos mostraram-se se-melhantes quanto a idade, índice de massa corpórea e valores de perfil lipídico. Conclusão: Este estudo demonstrou que, em pacien-tes com DM1, disfunção endotelial caracterizada por alteração da VMF, já nos primeiros anos de manifestação da doença, destaca-se como marcador precoce para aterosclerose e antecede o aumento da espessura íntima-média da artéria carótida comum. Referências: 1. Jarvisalo MJ, et al. Diabetes. 2002;51(2):493-8. 2. Larsen JR, et al. Diabetologia. 2005;48(4):776-9. 3. Abdelghaffar S, et al. J Trop Pediatr. 2006;2(1):39-45. 4. Djaberi R, et al. Am J Cardiol. 2009;104(8):1041-6.
014AUMenTO dA ATiVidAde LiPOLÍTicA nO TecidO AdiPOSO BRAncO PeLO eXTRATO de GARCINIA CAMBOGIA eM cAMUndOnGOS cOM OBeSidAde indUZidA POR dieTASilva AP1, nakutis FA1, Melo AM2, Santos GA1, Torsoni AS3, Torsoni MA3
1 Universidade Braz Cubas (UBC), Saúde. 2 UBC, Ciências Biológicas. 3 UBC; Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), SP, Brasil
Introdução: Em virtude do aumento do consumo de dietas ricas em gorduras e do sedentarismo, a prevalência de obesidade tem au-mentado consideravelmente nas últimas décadas. O ganho de peso excessivo leva ao desenvolvimento de doenças cardíacas, hipertensão e diabetes tipo II. Enzimas lipogênicas podem ser alvos para o trata-mento de redução do ganho de peso mediante a inibição da biossín-tese de ácidos graxos. Nesse sentido, o hidroxicitrato, um inibidor farmacológico da ATP-citrato liase, que hidrolisa citrato dando ori-
gem a acetil-CoA para síntese de ácidos graxos, poderia apresentar um efeito antiobesogênico. O hidroxicitrato é naturalmente encon-trado em grande quantidade no fruto de Garcinia cambogia (GC), vegetal comumente utilizado na culinária asiática com a finalidade de promover redução de peso. Objetivos: Neste estudo, foi de nosso interesse avaliar os efeitos do uso do extrato da GC em animais com obesidade induzida por dieta hiperlipídica. Para isso foram avaliados o ganho de peso, a massa de tecido adiposo epididimal, os ácidos graxos livres e a fosforilação da lipase hormônio sensível (HSL). Mé-todos: Foram utilizados 15 camundongos com cerca de 8 semanas de vida, separados em três grupos. Um grupo com dieta-padrão (C), um grupo com dieta rica em gordura (H) e um grupo com uma dieta rica em gordura associada com 3% de GC desidratada (grupo HG). As dietas foram oferecidas durante dois meses ad libitum, e durante esse período os animais foram pesados semanalmente. No término do tratamento as animais foram colocados em jejum de 14 horas anestesiados e foram coletados sangue e o tecido adiposo epi-didimal para análise da proteína HSL por Western Blot. Resultados: Como esperado, o grupo H apresentou quatro vezes mais ganho de peso comparado com o grupo C. A presença de 3% de GC na dieta hiperlipídica (grupo HC) preveniu o ganho de peso em cer-ca de 35%, comparado ao grupo H. Tais resultados são reforçados pela adiposidade reduzida nos animais do grupo HG, comparado aos animais do grupo H. A fosforilação da HSL na Ser565 (resíduo inibitório) no tecido adiposo foi maior no grupo H que nos animais do grupo HG. De maneira similar, o nível de ácidos graxos livres no soro foi cerca de 20% no grupo HG que no grupo H Discussão: Esses resultados sugerem que o tratamento com extrato de GC pode levar a aumento da atividade lipolítica no tecido adiposo branco, possivelmente pela inativação da AMPK nesse tecido, já que essa enzima é responsável pela fosforilação e inibição da HSL na Ser565. Esse efeito poderia aumentar o catabolismo de triglicérides, levando à redução da massa adiposa nesses animais. Apoio: Fapesp e CNPq.
015cARdiOMeTABOLic BeneFiTS indUced BY LiFeSTYLe cHAnGeS ARe MediATed BY inFLAMMATiOn in A BRAZiLiAn PReVenTiOn PROGRAM Siqueira-catania A1, Barros cR1, Salvador eP1, Pires MM1, Folchetti Ld1, Ferreira SRG1
1 Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo (FSP/USP), Nutrição, SP, Brasil
Cardiometabolic benefits of lifestyle changes were rarely investigat-ed in developing countries populations. Inflammation may mediate these benefits. Intervention programs on lifestyle were developed to reduce cardiometabolic risk of patients from the Brazilian public health system. 177 individuals (33.9% men, 54.7 ± 12.1 yrs) with prediabetes or metabolic syndrome were allocated to two 9-month programs: the “traditional” group (TG: n = 80) was submitted to a medical visit every trimester and “intensive” group (IG: n = 97) also to 16 multiprofessional group sessions. Clinical, nutritional (24-h food records), behavioral, physical activity and laboratory data were collected at baseline and after follow-up. Baseline characteris-tics did not differ between groups. Both reduced energy intake. In IG, but not in TG, percent of total fat intake reduced (IG: 32.6 ± 6.0% to 30.8 ± 5.3%, p = 0.033; TG: 30.6 ± 5.9% to 29.7 ± 4.8%, p = 0.452) and fiber consumption increased (IG: 9.6 ± 3.7 to 10.8 ± 4.4 g/1000 kcal, p = 0.014; TG: 9.8 ± 4.5 to 9.7 ± 3.2 g/1000 kcal, p = 0.851). Frequency of binge eating behavior decreased in IG (28% to 4%, p = 0.001) but not in TG. The proportions of physically active individuals differed between the groups only after follow-up (IG: 86.9 vs. TG: 67.6%, p = 0.029). Blood pressure, fasting (99 ± 12 to 95 ± 12 mg/dL, p = 0.024) and 2-h glycemia (123 ± 28 to 114 ± 28 mg/dL, p = 0.006) reduced only in IG. HDL-c and
S98
ReSUMOS de PÔSTeReS
adiponectin increased and fasting insulin decreased significantly in both. IG weight loss was inversely correlated to baseline HOMA-IR (r = -0.241, p = 0.039). Reductions in energy (r = 0.273; p = 0.004) and total fat intake (r = 0.225, p = 0.019) were correlated to reductions in CRP concentrations. Total fiber intake changes were inversely correlated to waist circumference (r = -0.215, p = 0.023) and IL-6 concentration changes (r = -0.194, p = 0.039). Cardio-metabolic benefits occurred in both interventions; more favorable results in IG may be attributed to the multiprofessional approach. Insulin-resistant individuals seem to be more resistant to weight loss. We suggest that reduced total fat plus enhanced fiber intakes may contribute to decrease adiposity and attenuate inflammation. Enti-dade financiadora: Fapesp.
016iMPAcTO de inTeRVenÇÃO inTeRdiSciPLinAR nÃO FARMAcOLÓGicA nA FReQUÊnciA de cOMPULSÃO ALiMenTAR PeRiÓdicA e SUA ReLAÇÃO cOM PARÂMeTROS dieTÉTicOS e cLÍnicO-LABORATORiAiS eM indiVÍdUOS de ALTO RiScO PARA diABeTeS MeLiTO TiPO 2 Siqueira-catania A1, cezaretto A1, Barros cR1, Pires MM1, Folchetti Ld1, Ferreira SRG1
1 Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo (FSP/USP), Nutrição, SP, Brasil
Introdução: Compulsão alimentar periódica (CAP) está associa-da à obesidade e descreve-se relação desse transtorno com diabe-tes melito (DM). A CAP pode comprometer a adesão do paciente a mudanças nos hábitos alimentares e consequente perda de peso. Apesar disso, pouco se investigou sobre o impacto de intervenções sobre a frequência de CAP e sua relação com o perfil dietético e clínico-laboratorial de pacientes de risco para DM. Objetivos: (1) Verificar se intervenção interdisciplinar não farmacológica diminui a frequência de CAP em indivíduos de alto risco para DM tipo 2; (2) analisar a relação da possível redução de CAP com variáveis dietéticas e clínicas dessa população. Métodos: Indivíduos pré-diabéticos e/ou portadores de síndrome metabólica, atendidos pelo SUS, foram alocados aleatoriamente para grupo de intervenção Tradicional (T) ou Intensiva (I) em hábitos de vida, por nove meses. O grupo T (n = 45) foi submetido às consultas médicas trimestrais de rotina. O grupo I (n = 71), além das consultas trimestrais, participou de grupos psicoeducativos com sessões semanais no primeiro bimestre e, a seguir, mensais, recebendo orientações para redução do con-sumo de gordura e aumento de fibras, estímulo à atividade física e manejo de estresse com equipe multiprofissional. A equipe inter-mediava a discussão de temas, buscando estratégias para mudanças dos hábitos. As variáveis foram obtidas no basal e após nove meses. A frequência de CAP (comparada por qui-quadrado) foi baseada na Escala de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP) – escore > 17 indica presença de CAP, enquanto abaixo desse valor, ausência. Da-dos dietéticos (três recordatórios de 24h), clínicos e bioquímicos foram comparados por teste t de Student e coeficiente de Pearson empregado para avaliar correlações entre as mudanças na frequência de CAP e demais variáveis. Os grupos foram comparáveis quanto à distribuição dos sexos, média de idade e frequência de CAP. Resul-tados: A amostra foi composta por 169 indivíduos (34% homens, idade 55,1 ± 12,4 anos, IMC 30,1 ± 5,8 kg/m²). No basal, os indiví-duos com CAP (24,7%) apresentaram maiores valores de IMC (34,6 ± 6,4 vs. 29,8 ± 5,1 kg/m²; p < 0,001), circunferência de cintura (104,6 ± 13,6 vs. 98,4 ± 10,9 cm; p < 0,005), ingestão de açúcar total (85,7 ± 35,0 vs. 72,7 ± 26,7 g; p < 0,05) e carga glicêmica (174,5 ± 33,7 vs. 162,9 ± 30,7; p < 0,05) em comparação com indi-víduos sem CAP. Após nove meses de intervenção, apenas o grupo I apresentou diminuição da frequência de CAP (I: 28,2 para 4,2%; p < 0,001 e T: 15,6 para 8,9%; p = 0,522). A diminuição no escore
da ECAP correlacionou-se com redução do consumo de ácidos graxos trans (r = 0,190; p = 0,041), IMC (r = 0,218; p = 0,018), circunferên-cia de cintura marginalmente (r = 0,184; p = 0,052) e glicemia pós-sobrecarga (r = 0,180; p = 0,053). Conclusão: Nossos achados sugerem que intervenção interdisciplinar intensiva reduz a frequência de CAP em indivíduos de risco para DM2, os quais apresentam pior perfil dietético, antropométrico e bioquímico que aqueles sem CAP. O encontro de cor-relação entre a diminuição no escore da ECAP e a melhora dos parâme-tros dietéticos e clínico-laboratoriais indica papel relevante do controle desses sintomas para melhor adesão a mudanças em hábitos de vida.
017O eXTRATO HidROALcOÓLicO de SOLIDAGO CHILENSIS MeLHORA A SinALiZAÇÃO dA inSULinA e A TOLeRÂnciA A GLicOSe eM cAMUndOnGOS cOM OBeSidAde indUZidA POR dieTAMelo AM1, Leal PB1, Santos GA1, Torsoni AS2, Torsoni MA2
1 Universidade Braz Cubas (UBC). 2 Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), Clínica Médica, SP, Brasil
Introdução: A obesidade atualmente é um dos maiores problemas de saúde e atinge indivíduos de todas as classes sociais. O estilo de vida sedentário e o tipo de dieta constituem os principais fatores que contribuem para o desenvolvimento da obesidade. Atualmen-te, é conhecido que citocinas pró-inflamatórias (TNF-alfa, IL-1b) ativam serinas quinases (JNK, IKK), que danificam a sinalização da insulina, levando à resistência a insulina. Fármacos com atividade anti-inflamatória podem diminuir os efeitos deletérios do aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias observado em indivíduos obesos. O extrato de Solidago chilensis (ESch) apresenta ação anti-inflamatória e analgésica conhecida e, portanto, pode reduzir os da-nos induzidos pelo uso de uma dieta hiperlipídica. O presente estudo teve como objetivo avaliar a sinalização da insulina em camundongos com obesidade induzida pela dieta e tratados com ESch. Métodos: Foram utilizados 30 camundongos Swiss, que foram separados em três grupos: grupo alimentado com dieta-padrão (C), grupo alimen-tado com dieta hiperlipídica (H) e o grupo alimentado com dieta hiperlipídica + ESch (3 mg/kg de peso) por via intraperitoneal (HS). Inicialmente, foram avaliados o peso corpóreo, a tolerância a glicose intraperitoneal (GTT), o nível de triglicérides no fígado, o nível de glicogênio no fígado e o peso do adiposo branco. A fosforilação e o conteúdo da AKT no tecido muscular, hepático e hipotalâmico fo-ram realizados no final do período experimental (6 semanas). Resul-tados: Os animais do grupo H apresentaram maior ganho de peso corpóreo (2,9 vezes) e peso do tecido adiposo epididimal (2,5 vezes) comparado ao grupo C. No entanto, a associação do ESch com dieta hiperlipídica reduziu o ganho de peso (58%) e o peso do tecido adi-poso (66%) no grupo HS em comparação ao grupo H. A tolerância a glicose foi reduzida pelo uso da dieta (grupo H), mas foi recuperada pelo tratamento com ESch (grupo HS). O uso da dieta rica em gor-dura aumentou (3,2 vezes) o nível de triglicérides hepático no grupo H se comparado ao grupo C e foi reduzido (48%) pelo tratamento com ESch em animais alimentados com dieta hiperlipídica. O grupo HS apresentou cerca de três vezes mais glicogênio no fígado se com-parado aos grupos H e C. A fosforilação da proteína AKT estimulada pela insulina foi menor no grupo H comparado ao grupo C, mas o tratamento com ESch recuperou parcialmente a capacidade da insu-lina de fosforilar a AKT nos três tecidos avaliados (tecido muscular, hepático e hipotalâmico). Em animais db/dB, o tratamento com ESch também resultou em menor ativação hepática da JNK e maior fosforilação da AKT estimulada pela insulina. Discussão: Os resul-tados obtidos no presente estudo sugerem que o ESch foi capaz de melhorar a homeostase da glicose. Esse efeito pode ser decorrente da capacidade do ESch de diminuir os níveis circulantes de citocinas pró-inflamatórias, como demonstrado por alguns autores e de redu-zir a ativação de serina-quinases. Apoio: Fapesp, CNPq.
S99
ReSUMOS de PÔSTeReS
018O PAPeL dA PROTeÍnA AceTiL-cOA cARBOXiLASe (Acc) HiPOTALÂMicA nA MOdULAÇÃO dO MeTABOLiSMO e SenSiBiLidAde MUScULAR A inSULinA eM RATOS Santos GA1, candido JF1, Melo AM1, Martins Jc1, nakutis FS1, Leal PB1, Silva AP1, Ashino nG1, Torsoni AS2, Torsoni MA2
1 Universidade Braz Cubas (UBC), Saúde. 2 Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), Clínica Médica, SP, Brasil
A obesidade é uma doença que apresenta elevada prevalência na população mundial e está associada a outras patologias tais como a hipertensão arterial, aterosclerose, dislipidemias e diabetes tipo II. É conhecido que células localizadas no núcleo arqueado (ARC) expressam as proteínas, proteinocinase ativada por AMP (AMPK) e acetil-CoA carboxilase (ACC), que integram sinais hormonais e nutricionais e modulam o gasto energético e a homeostase da gli-cose. O desequilíbrio na produção hepática de glicose e na captação muscular estimulada pela insulina é um fator complicador para o indivíduo diabético. Neste estudo o objetivo foi avaliar o efeito do bloqueio da expressão da ACC hipotalâmica na expressão e fosforila-ção de proteínas relacionadas com o metabolismo muscular. Meto-dologia: Para realização do estudo foram utilizados ratos Wistar de 12 semanas, com peso médio de 300 g, tratados via intracerebroven-tricular (ICV) com oligonucleotídeo antisense da ACC durante três dias. Após três dias, os animais foram sacrificados e o tecido muscular foi extraído. Para análise da expressão e fosforilação das proteínas, foi realizada Western Blot do extrato total do tecido muscular (soleus). Resultados: No estudo se observa que a inibição da ACC hipotalâ-mica promoveu no músculo soleus a diminuição (30%) da expressão da PGC-1a e o aumento da expressão da ACCa e GLUT4 compara-do ao grupo controle. A expressão da ACCb não foi modulada e a fosforilação basal da proteinocinase B (AKT) e da AMPK aumentou cerca de 50% comparada ao grupo controle. Conclusão: No presen-te estudo verificou-se que a inibição da ACC no hipotálamo é capaz de modular a expressão de proteínas relacionadas ao metabolismo de lipídios e carboidrato no músculo, tais como a ACCa, AMPK e PGC1a e AKT. Esses resultados indicam que a modulação da ativi-dade da proteína ACC hipotalâmica pode participar da modulação do metabolismo periférico.
019idenTiFicATiOn OF A neW ALLeLic VARiAnT in THe 5´PROXiMAL ReGiOn OF THe iL-27 Gene (P28 SUBUniT) in PATienTS WiTH TYPe 1 diABeTeS MeLiTO (dM1A) Santos AS1, crisostomo LG1, Melo Me1, Fukui RT1, Santos RF1, Pinto eM2, Silva MeR1
1 Hospital das Clínicas, Laboratório de Investigação Médica (LIM 18), Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Endocrinologia. 2 Hospital das Clínicas e LIM 22, FMUSP, Patologia Cardiovascular, SP, Brasil
Introduction: DM1A results from the autoimmune destruction of insulin-secreting pancreatic beta-cells, elicited by lymphocytes and inflammatory cytokines. Besides Th1 and Th2 cells, the newly discovered Th17 lymphocytes have been implicated in autoim-mune diabetes. The cytokine IL-27 acts at the initial stages of lym-phocyte differentiation to drive naive cells into the Th1 subset. The blockade of IL-27 delayed the onset of diabetes while IL-27 promoted the onset of the disease in IL-27-treated diabetic NOD mice. However, it also acts to suppress Th17 differentiation and IL-17 production. IL-27 is a heterodimeric cytokine composed of EBI 3 and p28 subunits. We previously analyzed the 5 coding regions of IL-27p28 and found only one allelic variant in exon 5, Glu166Asp (GAG > GAC) in 9 of 112 DM1A patients (8.0%) and 8 of 96 control subjects (8.3%). There is no study consider-ing the 5’ proximal region of IL-27 gene in autoimmune diabetes
in humans. Objective: To search for mutations or polymorphisms in 5´proximal region of the IL-27 p28 subunit in patients with DM1A. Patients and methods: Genomic DNA was extracted from 110 patients with DM1A (aged 15.3 ± 9.2 years, 53M/57F) and 96 healthy controls (57F/39M). The 5´proximal region of the IL-27 p28 subunit encompassing 571 nucleotides was ampli-fied by PCR, and submitted to direct sequencing. Results: We observed a substitution -324 C > T (in heterozygosis) in two pa-tients. This alteration wasn’t observed in 192 alleles belonging to the control subjects. Computational analysis showed that the -324 C > T alteration does not compromise transcription factor binding (http://www.cbil.upenn.edu/cgi-bin/tess). Conclusion: We ob-served a variant in the 5´proximal region of the IL-27 p28 subunit in patients with DM1A not previously described in any database. Additional studies are needed to clarify the participation of this variant in DM1A pathology. Reference: Wang R, Han G, Wang J, Chen G, Xu L, Wang L, et al. The pathogenic role of interleu-kin-27 in autoimmune diabetes. Cell Mol Life Sci. 2008;65:3851-60. Supported by Fapesp.
020nÍVeiS de iL-17A eM PAcienTeS PORTAdOReS de diABeTeS MeLiTO TiPO 1 AUTOiMUneFores JP1, Santos AS1, crisostomo LG1, Onii n2, Vasconcelos dM2, Silva MeR1 1 Hospital das Clínicas e Laboratório de Investigação Médica (LIM 18), Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Endocrinologia. 2 Hospital das Clínicas e LIM 56, FMUSP, Laboratório de Alergia e Imunodeficiências, SP, Brasil
Introdução: Diabetes melito tipo 1A (DM1A) é uma doença autoimune clássica, com quebra de tolerância imune por fatores am-bientais em indivíduos geneticamente predispostos. A identificação de antígenos das células β do pâncreas pelas células T-helper ativa células efetoras, responsáveis pela destruição celular e produção de autoanticorpos. Células T-helper 17 representam um novo subtipo de células T CD4+. São células potentes, altamente inflamatórias, que iniciam a inflamação tecidual e induzem infiltração de outras células inflamatórias em órgãos-alvo. À semelhança das células Th1 e Th2, têm forte atuação na defesa de organismos. A IL-17 é hoje também considerada uma mediadora de várias desordens imunoló-gicas, estando com níveis elevados em algumas doenças autoimunes, tais como artrite reumatoide, esclerose múltipla, encefalite experi-mental autoimune, psoríase e asma e, em animais, o diabetes autoi-mune. Objetivo e métodos: Quantificar níveis séricos de IL-17A e correlacioná-la com expressão do receptor da IL-17A (IL-17RA) em linfócitos T periféricos em pacientes com diabetes melito tipo 1 A (DM1A) recente. As determinações da IL-17A no soro (ELISA) e da expressão do IL-17RA em linfócitos T (CD3+ e CD4+) peri-féricos (citometria de fluxo) foram realizadas em 37 pacientes com DM1A recente (duração inferior a 9 meses, idade média 9 ± 4 anos, 17M/20H), e os resultados comparados com 35 controles normais (idade média 9 ± 5 anos, 12M/23H). Resultados: Os níveis de IL-17A no soro não diferiram entre dos pacientes diabéticos com controles normais (p = 0,12), a despeito de apresentarem menor expressão do IL-17RA em células linfócitos periféricos TCD3+ (p = 0,02) e TCD4+ (p = 0,002). Os níveis de IL-17A não se correlacio-naram nem com a resposta humoral (níveis de autoanticorpos anti-GAD e anti-IA2) nem tampouco com valores metabólicos (glicemia e HbA1c), com idade de diagnóstico e tempo de duração da doença ou expressão de IL-17RA. Conclusão: Pacientes com DM1A re-cente não apresentam elevação dos níveis séricos de IL-17A, dife-rindo do observado em outras desordens autoimunes e também em camundongos NOD, que apresentaram elevação de IL-17A após insulite e também nas ilhotas pancreáticas. Não se descarta a possibi-
S100
ReSUMOS de PÔSTeReS
lidade de que, ao estudar células da periferia, e não do local de agres-são imune (as ilhotas pancreáticas), tenham sido obtidos valores que não expressem o processo adequadamente. Um eventual mecanismo de regulação negativa de receptores, na tentativa de proteção do or-ganismo contra o processo inflamatório autoimune poderia explicar a diminuição de expressão de IL-17RA nos linfócitos periféricos. Referências: 1. Martin-Orozco N, Chung Y, Chang SH, Wang YH, Dong C. Th17 cells promote pancreatic inflammation but only in-duce diabetes efficiently in lymphopenic hosts after conversion into Th1 cells. Eur J Immunol. 2009 Jan;39(1):216-24. 2. Spolski R, Kashyap M, Robinson C, Yu Z, Leonard WJ. IL-21 signaling is criti-cal for the development of type I diabetes in the NOD mouse. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 Sep 16;105(37):14028-33. Epub 2008 Sep 8. Apoio: Fapesp.
021PRedicTiVe FAcTORS OF nOn-deTeRiORATiOn OF GLUcOSe TOLeRAnce FOLLOWinG A 2-YeAR BeHAViORAL inTeRVenTiOnAlmeida-Pititto B1, Hirai AT2, Sartorelli dS3, Harima HA4, Gimeno SGA2, Ferreira SRG2
1 Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo (FSP/USP), Departamento de Nutrição. 2 Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp/EPM), Medicina Preventiva. 3 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP/USP), Medicina Social. 4 Unifesp/EPM, SP, Brasil
Aim: To identify predictive factors associated with non-deterioration of glucose metabolism following a 2-year behavioral intervention in Japanese-Brazilians. Methods: 295 adults (59.7% women) without diabetes completed 2-year intervention program. Characteristics of those who maintained/improved glucose tolerance status (non-progressors) were compared with those who worsened (progressors) after the intervention. In logistic regression analysis, the condition of non-progressor was used as dependent variable. Results: Baseli-ne characteristics of non-progressors (71.7%) and progressors were similar, except for the former being younger and having higher fre-quency of disturbed glucose tolerance and lower C-reactive protein (CRP). In logistic regression, non-deterioration of glucose meta-bolism was associated with disturbed glucose tolerance - impaired fasting glucose or impaired glucose tolerance - (p < 0.001) and CRP levels £ 0.04 mg/dL (p = 0.01), adjusted for age and anthropome-tric variables. Changes in anthropometry and physical activity and achievement of weight and dietary goals after intervention were si-milar in subsets that worsened or not the glucose tolerance status. Conclusion: The whole sample presented a homogeneous behavior during the intervention. Lower CRP levels and diagnosis of glucose intolerance at baseline were predictors of non-deterioration of the glucose metabolism after a relatively simple intervention, indepen-dent of body adiposity.
022THe eFFecTS OF A BeHAViOURAL inTeRVenTiOn in A cOHORT OF JAPAneSe-BRAZiLiAnS AT HiGH cARdiOMeTABOLic RiSKAlmeida-Pititto B1, Griffin S2, Sharp S2, Hirai AT3, Gimeno SGA3, Ferreira SRG1
1 Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo (FSP/USP), Nutrição. 2 University of Cambridge, MRC Epidemiology Unit. 3 Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp/EPM), Medicina Preventiva, SP, Brasil
Aims: To evaluate the effectiveness of community-based health pro-motion interventions to prevent diabetes and control other cardio-vascular risk factors. Methods: 653 participants in a cross-sectional study of the prevalence of diabetes conducted in 2000 were enrol-
led in 2005 in a 1-year intervention program based on counseling about healthy diet and physical activity. 466 completed the program and follow-up measurements. A pre- and post-intervention cohort study analysis was performed. Change in blood pressure, anthropo-metric and metabolic parameters between 2005-2006 were com-pared with annual change in same variables between 2000-2005. Results: Significant reductions in the prevalence of impaired fas-ting glucose/impaired glucose tolerance (from 58.4% to 35.4%, p < 0.001) and diabetes (from 30.1% to 21.7%, p = 0.004) were seen during the intervention. Greater annual decreases in mean (SD) waist circumference [-0.5(3.8) vs. 1.2(1.2) cm per year, p < 0.001], systolic blood pressure [-4.6(17.9) vs. 1.8(4.3) mmHg per year, p < 0.001], 2-hr plasma glucose [-1.2(2.1) vs. -0.2(0.6) mmol/L per year, p < 0.001], LDL-cholesterol [-0.3(0.9) vs. -0.1(0.2) mmol/L per year, p < 0.001] and Framingham risk [-0.25(3.03) vs. 0.11(0.66) per year, p = 0.02] were observed compared with the pre-intervention period. Conclusions: A community-based health promotion program had benefits in cardiometabolic risk compared with the observed period over the preceding five years in this high risk population.
023OBeSidAde indUZidA POR dieTA de cAFeTeRiA PROMOVe diScReTO QUAdRO inFLAMATÓRiO SeM ALTeRAR A TRAnScRiÇÃO dO Gene dO GLUT4 eM MÚScULO eSQUeLÉTicO OXidATiVO de RATOSBrandão BB1, Pinto Junior1, Panveloski Ac1, Seraphim PM1 1 Universidade Estadual Paulista (Unesp), Fisioterapia, SP, Brasil
Introdução: O excesso de tecido adiposo está intimamente rela-cionado com a resistência à insulina e diabetes melito tipo 2, esta-dos muito relacionados à inflamação subclínica. Com a mudança no estilo de vida e a prática de exercício, essas alterações metabó-licas podem ser prevenidas e/ou amenizadas. O presente estudo teve como objetivo verificar o efeito da obesidade induzida por dieta e do exercício aeróbio sobre a expressão de RNAm de trans-portador de glicose GLUT4 e supressor de sinalização de citocinas SOCS3 na musculatura oxidativa solear de ratos. Metodologia: Foram avaliados ratos machos Wistar divididos em: Controle Se-dentário (CS); Controle Exercício (CE); Obeso Sedentário (OS); Obeso Exercício (OE). Os obesos receberam dieta contendo pão, bolacha recheada, bacon e ração. O treinamento aeróbio foi inicia-do no quarto mês de vida, em esteira rolante, 1 x/dia, 5 x/semana, 45 min/dia, durante oito semanas, após a qual os animais foram anestesiados para retirada do músculo esquelético sóleo. Para a ava-liação do grau da sensibilidade à insulina dos animais, foi realizado um teste de tolerância à insulina in vivo (ITT). Para a quantifica-ção dos genes do GLUT4 e do SOCS3, utilizou-se a técnica de RT-PCR. Resultados: Foi verificada diferença entre o peso corpó-reo (CS = 429,25 ± 11,5; CE = 417,87 ± 10,06; OS = 515,57 ± 19,09*; OE = 520,14 ± 14,70*, *P < 0,001 vs. CS e CE, n = 7) e o peso do tecido adiposo (CS = 3,70 ± 0,58; CE = 3,09 ± 0,34; OS = 11,23 ± 1,06 *; OE = 10,19 ± 0,54 *; *P < 0,001 vs. CS e CE, n = 7) nos grupos de obesos comparados aos controles. Os valores de kITT estavam reduzidos no grupo OS quando comparados aos CE e OE (CS = 59,89 ± 6,6; CE = 73,71 ± 7,61*; OS = 40,25 ± 8,31; OE = 78,07 ± 5,12*; *P < 0,01 vs. OS, n = 7). O conteúdo de RNAm de GLUT4 não variou entre os grupos (CS = 81,62 ± 9,43; CE = 70,88 ± 3,905; OS = 75,45 ± 5,903; OE = 67,01 ± 3,022UA; n = 6). O conteúdo de RNAm de SOCS3 estava aumen-tado em 33% no grupo OS comparado ao CS, e o exercício físico não alterou esse quadro (CS = 103,45 ± 5,38, CE = 108,54 ± 6,60, OS = 137,39 ± 19,63, OE = 126,17 ± 21,97UA; n = 6). Discus-são: Observou-se que a dieta de cafeteria foi eficiente em aumentar
S101
ReSUMOS de PÔSTeReS
o peso corpóreo dos animais em função de aumento de incorpora-ção da massa adiposa, sem alteração na massa magra. Houve queda na sensibilidade à insulina nos animais obesos sedentários (OS), o que foi revertida pelo exercício físico (OE). Parece que nem a obe-sidade nem o exercício físico alteraram a transcrição do GLUT4 no músculo oxidativo estudado. Para avaliação do grau de inflamação foi analisada a expressão de SOCS3. Embora não se tenha observa-do diferença estatística entre os grupos, o grupo OS apresentou um aumento considerável de SOCS3, sugerindo discreta inflamação com a obesidade. Assim, pode-se concluir que, na obesidade indu-zida por dieta de cafeteria em ratos ocorre: 1) resistência à insulina sistêmica; 2) discreto quadro inflamatório no músculo oxidativo; 3) sem alteração de transcrição do gene do GLUT4. O exercício físico nesse modelo de obesidade causou melhora da sensibilidade à insulina, sem envolver alteração na expressão dos genes estudados, indicando que provavelmente outro tecido pode estar participando desse efeito.Fapesp 2004/10130-0; 2008/11263-4.
024eFeiTO dOS iniBidOReS dA enZiMA cOnVeRSORA de AnGiOTenSinA SOBRe OBeSidAde indUZidA POR dieTAPerrella BP1, Amaya Sc2, cintra de2, Ropelle eR2, Saad MJA2
1 Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas (FCM/Unicamp). 2 Unicamp, Clínica Médica, SP, Brasil
O sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) é regulador da pressão arterial e do equilíbrio de eletrólitos, sendo a angiotensina II um potente hormônio hipertensivo. Há evidências de que o SRAA e a via de sinalização intracelular da insulina possuem diversos efetores comuns, e assim um hormônio é capaz de modular a resposta celular do outro. Dessa, forma, nosso trabalho teve o objetivo de investigar o efeito de drogas inibidoras da enzima conversora de angiotensina (iECA), captopril e ramipril, nos níveis de proteínas da via de trans-missão do sinal de insulina, da lipogênese e de algumas adipocito-cinas em tecido adiposo, bem como no desenvolvimento e diferen-ciação desse tecido em camundongos com obesidade induzida por dieta. Foram utilizados camundongos machos, da linhagem Swiss. Os animais foram divididos em 4 grupos: 18 animais que receberam dieta-padrão usada em biotérios, 18 receberam dieta hiperlipídica, 18 receberam dieta hiperlipídica e tratamento com captopril na dose de 100 mg/kg/dia dissolvido em água e protegido da luz e 18 re-ceberam dieta hiperlipídica e tratamento com ramipril na dose de 10 mg/kg/dia dissolvido em água e protegido da luz. Houve acompa-nhamento semanal do ganho ponderal, realizada análise proteica por Western Blotting, teste de tolerância à glicose (GTT) e de tolerância à insulina (ITT) e estudo anatomopatológico. O uso de iECA em animais em dieta hiperlipídica induziu menor ganho de peso, e a droga não modificou a ingestão alimentar, sugerindo que os efei-tos encontrados não devem ser atribuídos a esse fator. As proteínas da via de sinalização da insulina mantiveram a atividade encontrada no grupo que recebe dieta-padrão nos tecidos muscular, hepático e adiposo. Dessa forma, tem-se uma correlação bioquímica com a melhora da sensibilidade à insulina observada nos testes in vivo GTT e ITT. Captopril e ramipril promoveram uma diminuição na quanti-dade tecidual de proteínas lipogênicas, nos tecidos hepático e adipo-so. Observou-se uma diminuição da resposta inflamatória no tecido adiposo dos animais que receberam dieta hiperlipídica suplementada com as drogas, com menor área média dos adipócitos, infiltração de macrófagos e expressão de citocinas inflamatórias. Nosso trabalho foi capaz de concluir que os iECA possuem, além dos já estabele-cidos efeitos anti-hipertensivos, efeitos sobre a via de sinalização de insulina, a lipogênese e a inflamação subclínica associada à obesidade abdominal. Assim, fica demonstrado um possível mecanismo pelo qual essas drogas podem melhorar a sensibilidade à insulina.
025PÉ diABÉTicO VERSUS PeRFiL MeTABÓLicO de PAcienTeS diABÉTicOSOliveira Ac1, Teixeira cJ1, Stefanello TF1, Takaki i1, carrara M1, Rocha n1, Aleixo n1, Oliveira J1, Batista MR1
1 Universidade Estadual de Maringá (UEM), Análises Clínicas, PR, Brasil
Introdução: O diabetes melito (DM) tem se destacado como um im-portante problema de saúde pública, em que a hiperglicemia prolon-gada desencadeia lesões micro e macrovasculares, levando a complica-ções crônicas (American Diabetes Association, Diabetes Care, v. 24, p. 21, 2001; Gomes MB, Diabetes, p. 795, 2005). Dentre essas com-plicações, o pé diabético é o mais frequente, estando associado a inter-nações prolongadas, custos hospitalares elevados e altas taxas de ampu-tações (Milman MHSA. Arq Bras Endocrinol Metab. 2001;45:447). O objetivo deste trabalho foi avaliar o nível de conhecimento de cui-dados com os pés e o perfil metabólico (glicêmico e lipídico) de pa-cientes diabéticos atendidos pelo Laboratório de Ensino e Pesquisa da UEM (LEPAC). Métodos: Foram avaliados 54 pacientes portadores de DM 2 atendidos pelo LEPAC no período de fevereiro a novem-bro/2009. Esses pacientes foram submetidos a um questionário sobre dados sociodemográficos (sexo, idade, profissão, escolaridade), estilo de vida (atividade física, etilismo, tabagismo), doença (tempo de do-ença, tratamento) e cuidados com os pés (feridas, sensibilidade e am-putações). Foi realizada coleta de sangue para dosagens de glicose de jejum (GJ), glicose pós-prandial (PP), hemoglobina glicada (HbA1C) e lipidograma completo. Este estudo foi realizado mediante parecer favorável nº 304/2007 do Comitê Permanente de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UEM (CONEP). Resultados: Dos pacientes avaliados, 41 (76%) eram do sexo feminino e 13 (24%) do sexo masculino, sendo 20 (37%) pertencentes à faixa etária de 61 a 70 anos e 28 (51%) possuíam até o ensino fundamental completo; 32 (59%) praticavam atividades físicas, 47 (87%) não fumavam e nem con-sumiam bebidas alcoólicas. Quanto ao tempo de conhecimento da do-ença, 37 (68%) são diabéticos há pelo menos 10 anos, e 32 (60%) pos-suem histórico familiar e 50 (93%) possuem alguma doença associada, correspondendo a hipertensão em 35 (64%) pacientes. Em relação ao pé diabético, 24 (44%) pacientes desconheciam as complicações, e 8 (15%) apresentaram calos, 5 (9%) feridas, 12 (22%) problemas nas unhas e 1 (2%) problemas interdigitais. Os níveis de GJ, PP e HbA1C encontravam-se aumentados em 33 (61%), 36 (67%) e 20 (37%), res-pectivamente. Os níveis de colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos encontravam-se na faixa desejável em 37 (68%), 43 (79%), 32 (59%) e 35 (65%), respectivamente. Discussão: Os resultados demonstraram que 68% dos pacientes são diabéticos há pelo menos 10 anos, e 60% tinham histórico familiar e 44% desconheciam os cuidados com os pés. Tanto o perfil glicêmico quanto o lipídico mostraram alterações con-sideráveis. O descontrole do perfil metabólico pode ser justificado em parte pela faixa etária prevalente (61 a 70 anos), baixa escolaridade e falta de cuidado com a doença e suas complicações (Pace AE. Rev Bras Enferm. 2002;55:514). Demonstrou-se que esses pacientes co-nhecem a doença, mas não dão à devida importância, necessitando, então, de acompanhamento regular por uma equipe especializada de saúde. Agência financiadora: Não houve. Agradecimentos: Ao LEPAC e à UEM por permitir a realização deste trabalho.
026PROFiSSiOnAiS de SAÚde: PeRSPecTiVA de indiVÍdUOS cOM diABeTeS MeLiTO TiPO 2Ribas cRP1, Zanetti ML1
1 Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP/USP), SP, Brasil
Introdução: No tratamento dos indivíduos com diabetes melito, a função dos profissionais de saúde é de suma importância. Suas práti-cas educativas em saúde exercem fundamental valor quanto à condu-
S102
ReSUMOS de PÔSTeReS
ção do tratamento desses indivíduos. As orientações ao tratamento devem sempre almejar às necessidades individuais de cada um. As-sim, de acordo com o contexto peculiar a cada indivíduo, cabe ao profissional de saúde discernimento para adequar metas e estratégias relativas ao tratamento da doença. Parte dos profissionais de saúde quase não considera a questão condizente à liberdade dos indivíduos que estão em tratamento e acredita manejar um conhecimento su-perior em torno do cuidado à saúde. A partir dessa perspectiva, os profissionais de saúde colocam-se convictos acerca dos cuidados em saúde que avaliam mais adequados, de modo a cercearem a liberdade dos indivíduos e seus direitos de escolha no tratamento. A restrita comunicação entre o profissional de saúde e o indivíduo está pautada em fatores que exercem influência à dificuldade de seguimento ao tratamento. Os indivíduos em tratamento almejam que os profis-sionais de saúde não apenas decidam em relação ao que não podem mais fazer, mas que, juntos, seja possível decidir sobre o que podem fazer. Em virtude disso, as pessoas podem aprender que ser saudável não implica se isentar de restrições e sofrer consequências prejudi-ciais à saúde, mas sim cultivar uma conduta de cuidado que permita viver com qualidade. O presente trabalho teve como objetivo identi-ficar as representações sociais dos profissionais de saúde na perspecti-va de indivíduos com diabetes melito tipo 2. Métodos: Consiste em um estudo exploratório, descritivo, de abordagem qualitativa, cujo referencial teórico adotado foi a teoria das representações sociais. Foram entrevistados 14 participantes com diabetes melito tipo 2, em seus próprios domicílios. Foi utilizada a análise temática de con-teúdo para fins de análise dos dados. Resultados e discussão: Os resultados demonstraram que, de acordo com os relatos dos partici-pantes do presente trabalho, as representações sociais dos alimentos estão pautadas na descrença à orientação dos profissionais de saúde. Segundo essa perspectiva, para os participantes, a orientação desses profissionais não funciona, ou seja, não acrescenta benefícios ao seu tratamento e às suas vidas. O diálogo pouco frequente e a maneira com que a relação entre o profissional de saúde e o indivíduo com diabetes melito tipo 2 está sendo constituída pouco consideram a particularidade peculiar a cada indivíduo. Portanto, a dificuldade de relacionamento entre o indivíduo com diabetes melito tipo 2 e o profissional de saúde implica o modo como esse profissional perce-be a pessoa, extraindo-a da sua integralidade e desvalorizando seu contexto físico, cultural, psicológico e social. Conclui-se ser funda-mental que os profissionais de saúde promovam o desenvolvimento de atitudes que avigorem a valorização tanto do contexto subjetivo quanto social dos indivíduos, que incitem sua capacidade de enfren-tamento e os motivem a buscar seu empoderamento.
027GRUPO edUcATiVO nO ÂMBiTO dA dOenÇA cRÔnicA nÃO TRAnSMiSSÍVeLRibas cRP1, Santos MA2, caliri MHL1, Zanetti ML1
1 Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (EERP/USP). 2 Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, USP, Psicologia e Educação, SP, Brasil
Introdução: A percepção dos indivíduos que convivem com uma condição crônica envolve a percepção de algo ameaçador, visto que as condições crônicas modificam a qualidade de vida, as relações, comportamentos, além de abarcarem consequências econômicas, sociais e custos elevados com complicações no tratamento. É fun-damental que os indivíduos com doenças crônicas apropriem-se de ferramentas de autocuidado para as decisões diárias no seu cotidiano. Muitos estudos têm demonstrado o efeito benéfico da educação em relação aos indivíduos com doenças crônicas, por exemplo, o diabe-tes melito. O intuito da ação educativa consiste no desenvolvimento do indivíduo e do grupo, na capacidade de analisar criticamente a sua realidade, de decidir ações conjuntas, de modo a almejar a re-
solução de problemas e a alteração de situações. O presente estudo consiste em um relato de experiência e teve como objetivo descre-ver a intervenção educativa realizada com um grupo de indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis, no qual o diabetes melito manifestou expressiva presença entre o grupo. Métodos: A inter-venção educativa, com o grupo de indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis, realizou-se em um Centro Comunitário do inte-rior do estado de São Paulo e desenvolveu-se com o auxílio de uma equipe multiprofissional. Resultados e discussão: A intervenção educativa desenvolveu-se com frequência semanal, durante quatro encontros, com duração de 1 hora e auxílio de uma coordenadora psicóloga. Por meio da intervenção educativa, percebeu-se a possi-bilidade de o indivíduo com doença crônica não transmissível anali-sar criticamente suas expectativas e medo. O compartilhamento das experiências de todos favoreceu os indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis quanto à busca de soluções reais para problemas de saúde similares aos seus. Os indivíduos valorizaram a importância da mudança de seus estilos de vida, a fim de diminuir as complica-ções advindas da enfermidade. A intervenção educativa estimulou a responsabilidade de cada indivíduo quanto ao seu próprio trata-mento, incitando sua autonomia e independência no condizente à tomada de decisões referentes ao seu autocuidado. Em virtude da intervenção educativa, o uso ininterrupto dos medicamentos tam-bém foi incentivado, quando necessário, propiciando-se estímulos ao aumento da adesão do tratamento.
028LeUcine indUced incReASe in inSULin SecReTiOn BY PAncReATic iSLeT OF MALnOURiSHed Mice iS ReLATed WiTH An iMPROVed inTRAceLLULAR cALciUM HAndLinGOliveira cAM1, Silva PMR1, Batista TM1, Vanzela ec1, Ribeiro RA1, Bermudo FM2, carneiro eM1
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Anatomia, Biologia Celular, Fisiologia e Biofísica. 2 CIBERDEM, CABIMER-UPO, Spain
Introduction: We had previously shown the leucine (Leu) impro-ves insulin secretion in low protein fed animals. Now we investi-gated the effects of Leu supplementation on calcium handling by different secretagogues in pancreatic islets from malnourished mice. Methods: Swiss mice (21 days-old) received isocaloric normopro-teic-17% (NP) or hipoproteic diet-6% (LP) for 90 days. Part of the NP and LP mice received Leu 1.5% into the water in the last 30 days (NPL and LPL, respectively). Islets were evaluated for insulin secretion (RIA), glucose oxidation (D-[U-14C]) and cytosolic cal-cium levels (Fura-2AM). Data were analyzed by Two-way ANOVA and Newman-Keuls post hoc test if necessary. A < .05 was adop-ted as significant. Results: In response to glucose (11.1, 16.7, 22.2 mM), carbachol (100 µM) and KCl (30 mM), the islets of the LP group secreted less insulin compared to the NP group, and glucose oxidation (at 16.7 mM glucose) was reduced in islets of both LP and LPL mice. Leu supplementation increased insulin secretion in the LPL group at all glucose concentrations to values similar to the NP group. Intracellular calcium concentration was reduced during glucose (11.1 and 16.7 mM), tolbutamide (100 µM) and carbachol (100 µM) stimulation in LP islet. Except for carbachol, Leu impro-ved calcium response in LPL group. Discussion: Protein restriction during early stages of life caused important modifications in calcium handling which play a role in the reduced insulin secretion. Besides inducing insulin granule exocytose, Ca2+ stimulates transcription of genes essential for beta cell function and maintenance, including the insulin gene itself. Thus, the partly restoration of calcium handling by Leu supplementation, besides improving insulin secretion, may contribute to improve beta cell function in low protein-fed mice. Financial support: CNPq, Fapesp, Grupos PAI (Junta de Andalucía).
S103
ReSUMOS de PÔSTeReS
029eFFecTS OF ReSiSTAnce TRAininG in THe GLUcOSe UPTAKe BY SKeLeTAL MUScLe in neOnATAL ALLOXAn-AdMiniSTeRed RATS Ribeiro c1, cambri LT1, Ghezzi Ac1, Voltarelli FA2, dalia RA1, Moura RF1, Moura LP1, Almeida Leme JA1, Mello MAR1
1 Universidade Estadual Paulista (Unesp), Educação Física, SP. 2 Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), Departamento de Educação Física, MT, Brasil
Introduction: Resistance training has recently been recognized as a useful therapeutic tool for the treatment of a number of chronic diseases, and was reported to improve insulin sensitivity, daily energy expenditure and glycemic control. However reports on the effects of resistance training in the non-insulin dependent diabetes mellitus (NI-DDM) picture are still scarce. Purpose: Thus, the present study was designed to investigate whether resistance training is an effective form of exercise for managing insulin sensitivity, glucose tolerance and glu-cose uptake by the isolated soleus muscle of rats after neonatal alloxan administration. Methods: Forty newly born (6 days old) Wistar rats were used. Half of them received intraperitoneal alloxan injection (A = 250 mg/kg of body weight).The other half was injected with citrate buffer and used as controls(C). From the 28th day of age on, part of the rats from both groups were submitted to resistance train-ing (T), during 12 weeks, 5 days a week, composing the subgroup-sTC [n = 10] and TA [n = 10]. The remaining, were kept sedentary (S), composing the subgroups SC [n = 10] and SA [n = 10]. Training consisted of four series of 10 jumps in the water, with a one min in-terval between them, while supporting a load of 50% of body weight. The animals were subjected to glucose tolerance tests (GTTo), ana-lyzed by the total area under the serum glucose curve (mg/dL x 120 min) and insulin tolerance tests (ITT), analyzed by the glucose dis-appearance rate (Kitt, in %/min). After 48 hs of the last test, all ani-mals were killed for analysis of glucose uptake in the isolated soleus. Results: The total area under the serum glucose (mg/dL x 120 min) curve was higher (ANOVA two-way, p < 0.05) in the TA group when compared with other groups (TA = 15480 ± 993 > TC = 14181 ± 478; SA = 13873 ± 866; SC = 13308 ± 949). No differences between the groups was found in the peripheral insulin sensitivity (Kitt%/min TC = 0.68 ± 0.39; TA = 0.51 ± 0.25; SC = 0.55 ± 0.39; SA = 0.43 ± 0.22).On the other hand, glucose uptake (µmol/g.h) by the isolated soleus muscle was higher (ANOVA two-way p < 0.05) in the trained groups when compared with corresponding sedentary groups (TC = 4.96 ± 0.56 > SC = 3.17 ± 0.76;TA = 5.44 ± 0.48 > SA = 2.64 ± 0.55). Conclusion: Resistance exercise was effective in enhancement in glucose uptake by the skeletal muscle, but it did not improved glucose tolerance of neonatal alloxan treated rats. Suporte financeiro: Fapesp (09/51538-5) e Capes.
030eFeiTOS dO TReinAMenTO FÍSicO MOdeRAdO nAS cOncenTRAÇÕeS de GReLinA SÉRicA de AniMAiS diABÉTicOS ALOXÂnicOS Almeida Leme JA1, Ribeiro c1, Gomes RJ2, Moura LP1, dalia RA1, Araujo MB1, Kokubun e1, Mello MAR1, Luciano e1
1 Universidade Estadual Paulista (Unesp), Educação Física. 2 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), campus Baixada Santista, Departamento de Educação Física, SP, Brasil
Introdução: A grelina é um hormônio que, em sua maior parte, é produzida na mucosa oxíntica do estômago. Estudos têm rela-cionado alterações nas concentrações desse hormônio à hiperfagia diabética. O exercício físico pode amenizar alguns efeitos deletérios do diabetes, entre os quais está a hiperfagia. Dessa forma, o objeti-vo deste estudo piloto foi investigar os efeitos do treinamento físico nas concentrações séricas de grelina em animais diabéticos aloxâni-cos. Metodologia: Para tanto, ratos Wistar (70 dias de idade) foram
distribuídos em quatro grupos: controle sedentário (CS), controle treinado (CT), diabético sedentário (DS) e diabético treinado (DT). Para indução do diabetes experimental, os animais receberam aloxana monoidratada Sigma (32 mg/kg de peso corporal i.v.). O programa de treinamento físico consistiu em natação por 60 minutos diários, cinco dias por semana, durante oito semanas, com cargas equivalen-tes a 90% da máxima fase estável do lactato (mfel). Ao final do perío-do experimental, os ratos foram sacrificados e o sangue foi utilizado para dosagem de glicose, insulina, albumina e grelina. Os dados fo-ram analisados pela análise de variância (ANOVA) e teste de Bonfer-roni, com nível de significância de 5%. Resultados: Não ocorreram diferenças significativas com relação à albumina sérica, porém houve aumento significativo das concentrações de glicose nos animais dia-béticos sedentários em relação aos demais grupos. Os valores de insu-lina foram aumentados nos grupos diabéticos (DS e DT) comparados aos grupos controles (CS e CT). As concentrações de grelina sérica foram aumentadas nos animais diabéticos sedentários e reduzidas nos animais diabéticos treinados. Discussão: Esses dados que pertencem a um estudo piloto poderão contribuir na direção de futuros estu-dos e demonstram que a hipergrelinemia diabética encontrada em animais diabéticos aloxânicos pode ser amenizada pelo treinamento físico realizado na intensidade de 90% da mfel. Apoio: CNPq.
031A S-niTROSAÇÃO nO deSenVOLViMenTO dA ReSiSTÊnciA À inSULinA HiPOTALÂMicA: iMPLicAÇÕeS PARA O deSenVOLViMenTO dA OBeSidAdeKatashima cK1, Ropelle eR1, cintra de1, dias MM1, Rocha GZ1, Saad MJA1, carvalheira JBc1
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Clínica Médica, SP, Brasil
Introdução: O aumento da prevalência de obesidade vem se revelan-do como um dos mais importantes fenômenos clínico-epidemiológi-cos da atualidade. Fatores como a mudança do hábito alimentar e o estilo de vida sedentário desempenham papel relevante na patogênese dessa doença. A resistência à ação da insulina no sistema nervoso cen-tral contribui diretamente para hiperfagia e para o desenvolvimento da obesidade. Atualmente, o fenômeno da S-nitrosação de proteínas vem sendo valorizada como um importante mecanismo pós-transcri-cional envolvido na insulinorresistência. Acredita-se que o processo inflamatório esteja diretamente relacionado a S-nitrosação da via IR/IRS-1/Akt, mediante o aumento da atividade da óxido nítrico sintase induzível (iNOS), como demonstrado em modelos experimentais de obesidade e diabetes. No entanto, o papel da S-nitrosação das proteí-nas envolvidas na transmissão do sinal insulínico, associada ao contro-le da ingestão alimentar, é completamente desconhecido. Objetivo: Caracterizar a S-nitrosação das proteínas envolvidas na transmissão do sinal da insulina no sistema nervoso central de roedores obesos, bem como avaliar os efeitos da atividade física sobre esse fenômeno. Méto-dos: Ratos Wistar controle e obesos induzidos por dieta hiperlipídica foram canulados no 3º ventrículo hipotalâmico, submetidos a uma única sessão de atividade física e infundidos com insulina via intrace-rebroventricular. Fragmentos hipotalâmicos foram coletados 2 horas após o exercício físico. A análise de Western Blott avaliou a expressão, fosforilação e S-nitrosação das proteínas envolvidas na via de sinaliza-ção da insulina. Resultados: A dieta hiperlipídica induziu hiperfagia, obesidade e reduziu a sensibilidade à insulina no tecido hipotalâmico de ratos, reduzindo fosforilação em tirosina do receptor de insulina (IRβ) e do substrato do receptor da insulina (IRS-1) e da Akt. Ob-servou-se aumento da expressão da iNOS e em paralelo foi observado aumento da S-nitrosação do IRS-1 no hipotálamo de ratos obesos quando comparados aos animais magros. Por outro lado, observou-se que uma única sessão de exercício físico foi capaz de atenuar a hi-perfagia nos animais obesos, sem alteração da ingestão alimentar nos
S104
ReSUMOS de PÔSTeReS
animais magros. Amostras do tecido hipotalâmico revelaram que a ati-vidade física restabeleceu à ação anorexigênica da insulina, aumentan-do a fosforilação em tirosina do IRS-1 em animais obesos. Contraria-mente, observou-se redução da S-nitrosação do IRS-1 em paralelo à redução significativa da expressão da iNOS no hipotálamo dos animais obesos. Conclusão: Os resultados apontam que a S-nitrosação é um fenômeno intracelular importante no desenvolvimento da resistência à insulina no sistema nervoso central, contribuindo para a hiperfagia e a perpetuação da obesidade. Evidenciou-se ainda que a atividade física reduziu a expressão da iNOS, a S-nitrosação do IRS-1 e aumentou a sensibilidade à insulina em neurônios hipotalâmicos, atenuando a hi-perfagia em roedores obesos. Coletivamente esses dados demonstram que a resistência à insulina mediada pela S-nitrosação no sistema ner-voso central pode ser um potencial alvo terapêutico para o tratamento da obesidade e doenças associadas. Apoio financeiro: CNPq.
032ReLATiOnSHiP BeTWeen GLYcATed HeMOGLOBin And MeTABOLic SYndROMe OF TYPe 1 And TYPe 2 diABeTeS: A FAcTOR AnALYSiS STUdYGiuffrida FMA1, Sallum cFc1, Gabbay M1, Gomes MB2, Pires Ac3, dib SA1
1 Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp/EPM), Endocrinologia, SP. 2 Universidade do Estado do Rio Janeiro (UERJ), Endocrinologia, RJ. 3 Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp), Endocrinologia e Metabologia, SP, Brasil
Objective: Factor analyses have evaluated insulin resistance (IR) traits role on Metabolic Syndrome (MS) in type 2 diabetes (T2D), but didn’t assess glycemic control. No factor analyses of MS in type 1 diabetes (T1D) have been conducted. Research design and me-thods: Exploratory factor analysis (EFA) of MS components and glycated hemoglobin (GHb) was performed in 520 individuals with type 1 diabetes (51,8% female; 8,6% with MS; mean A1c[%] 9,1) and 870 with type 2 diabetes (52,8% female; 83,2% MS; mean A1c[%] 8,2) patients. The associations found were replicated in backward logistic regression (LR) models. Diagnosis of MS was made accor-ding to NCEP criteria in T2D and the same adapted to children and adolescents in T1D. Results: EFA of MS components showed high loadings of GHb (0,77 females; 0,82 males) and triglycerides (0,67 females; 0,73 males) on a common factor in type 1 diabetes. In type 2 diabetes, GHb loaded (0,85 females; 0,77 males) on the same factor as HDL (-0,46 females; -0,86 males). GHb increased the probability of MS in LR with odds-ratios (OR) of 1,27 (p 0,01) per 1% increase in GHb in type 1 and 1,29 (p 0,001) in type 2 diabetes, after correc-tion for confounders. GHb levels were independently associated to hypertriglyceridemia (OR 1,23; p 0,001 in T1D and 1,19; p 0,001 in T2D) and on low-HDL levels (OR 1,52; p 0,001 only in type 2). Conclusions: GHb levels are associated to MS in both major types of diabetes, although through triglycerides in type 1 and HDL in type 2 diabetes. These findings suggest insulin deficiency as measured by GHb may play a role in traits associated to IR, contradicting hypothe-ses of a single factor linked to IR being responsible for MS in diabetes.
033TRATAMenTO cLÍnicO cOM SUceSSO eM PAcienTe cOM AcidOSe LÁTicA GRAVe cAUSAdA POR inTOXicAÇÃO POR MeTFORMinA: ReLATO de cASO Sallum cFc1, Sulzbach ML1, Vidotto TM1, dib SA1, Sa JR1
1 Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp/EPM), Endocrinologia, SP, Brasil
Metformina é o antidiabético oral de primeira escolha no tratamento dos pacientes portadores de diabetes melito tipo 2 (DM2). Uma com-plicação temível, embora rara, a acidose lática por metformina apresenta
elevada taxa de mortalidade. Sua ocorrência é maior em pacientes que tentam suicídio e nos portadores de DM2 com doença renal terminal que inadvertidamente fazem uso dessa medicação. Será relatado o aten-dimento de uma paciente de 71 anos, portadora de DM2 e doença renal terminal, que fez uso de metformina por mais de seis meses, mesmo após contraindicação da droga por causa de seu baixo clearance de creatini-na. Foi admitida com rebaixamento do nível de consciência, pH: 6,57, HCO3: 1,4 mmol/l e lactato: 180 mg/dl (4,5 a 14,4) pela gasometria arterial com ânion gap: 33,6 mmol/L (8 a 16), glicemia: 102 mg/dl; K: 8,6 mmol/L (3,5 a 5,0), e ritmo idioventricular no eletrocardiograma. Tratada com sucesso com correção da acidose metabólica com bolus de bicarbonato de sódio endovenoso e hemodiálise duas vezes ao dia por três dias consecutivos, por dificuldade no controle da acidose recorrente. A intoxicação por metformina deve ser suspeitada em todos os pacien-tes que apresentam acidose metabólica com elevado ânion gap. Nos pacientes portadores de doença renal terminal e falência circulatória, o baixo clearence de creatinina e a hipóxia tecidual contribuem para a acidose lática severa. O rápido diagnóstico, aliado ao suporte cardio-vascular e ventilatório, faz parte do manejo inicial da toxicidade por metformina. Para correção da acidose metabólica, bicarbonato de só-dio pode ser infundido em pacientes bem ventilados com pH < 7,0. Hemodiálise é recomendada para tratamento da acidose e remoção da circulação da metformina.
034eFeiTOS dA deSnUTRiÇÃO PROTeicA nA cAPAcidAde MiTOcOndRiAL MUScULAR e SenSiBiLidAde PeRiFÉRicA A inSULinAZoppi cc1, Silveira LR2, Silva PMR1, Trevisan A1, Boschero Ac1,carneiro eM1
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Fisiologia e Biofísica, SP. 2 Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (EEFERP/USP), SP, Brasil
Introdução: A desnutrição proteica induz aumento da sensibilidade periférica à insulina. Evidências demonstram uma possível correlação entre sensibilidade periférica à insulina e metabolismo mitocondrial em animais não desnutridos. No entanto, essa correlação em animais desnutridos ainda não foi investigada. O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito da desnutrição proteica na capacidade mitocondrial em músculo esquelético e sua relação com a sensibilidade à insuli-na. Métodos: Ratos Wistar foram tratados com dieta normoproteica (NP - 17%) e hipoproteica (LP - 6%) por 60 dias. Os animais foram submetidos a teste de tolerância a glicose intraperitoneal (ipGTT) e teste de tolerância a insulina intraperitoneal (ipITT) aliados a dosa-gem de insulina plasmática por RIE. Foram isoladas mitocôndrias da musculatura da pata traseira dos animais por centrifugação dife-rencial para medida do controle respiratório. Em adição, a atividade da enzima citrato sintase (CS) e a análise da expressão proteica da enzima anaplerótica piruvato carboxilase (PC) utilizando espectro-fotometria e Western Blotting, respectivamente, foram medidas em homogenato de músculo sóleo. Os resultados foram analisados pelo teste t-student adotando p < 0.05 como significativos. Resultados: A tolerância à glicose foi similar entre os grupos, no entanto os valo-res da área abaixo da curva da concentração de insulina plasmática do grupo LP foram significativamente menores (NP: 389.1 ± 35/LP: 279.8 ± 38, n = 10), bem como o valor da constante de decaimento da glicose plasmática (kITT), evidenciando maior sensibilidade a in-sulina no grupo LP. Os parâmetros mitocondriais mostraram valores significativamente menores (p < 0.05) do controle respiratório mito-condrial (NP: 5.8 ± 0.9/LP: 2.7 ± 0.6, n = 5) e atividade da CS (NP: 15 ± 3/LP: 8 ± 3 µmol/min/mg prot, n = 5), além de uma redu-ção de 20% na expressão da PC no grupo LP. Discussão: Os dados sugerem que a maior sensibilidade periférica observada em animais submetidos à restrição proteica não está relacionada ao metabolismo mitocondrial. Apoio financeiro: CNPq e Fapesp.
S105
ReSUMOS de PÔSTeReS
035eXPReSSÃO de MiOSTATinA e AcTRiiB eM RATOS diABÉTicOS SUBMeTidOS A eXeRcÍciO Bassi daniela1, Bueno PG2, Selistre-de-Araujo HS2, nonaka KO2, Leal AMO3
1 Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Departamento de Fisioterapia. 2
UFSCar, Ciências Fisiológicas. 3 UFSCar, Departamento de Medicina, SP, Brasil
A miostatina (MST) é uma proteína da superfamília da TGF-β, en-volvida na regulação muscular. As evidências indicam a existência de funções regulatórias da MST sobre o metabolismo energético e um possível papel benéfico da supressão da MST em doenças metabólicas. Embora a expressa principalmente no músculo também e expressa em menor quantidade no tecido adiposo. O objetivo deste estudo foi ve-rificar o efeito do exercício físico na expressão da MST e do ActRIIB no músculo esquelético e tecido adiposo, em modelo de diabetes me-lito (DM) induzido por estreptozotocina. Ratos Wistar adultos foram mantidos sob condições controladas (20-22ºC, 10-12h ciclo de cla-ro/escuro), com livre acesso à água e à dieta-padrão. DM foi induzido pela administração de dose única de estreptozotocina (60 mg/kg) via intraperitoneal. A glicemia foi determinada em sangue da cauda por glicosímetro portátil e, logo após, os animais diabéticos receberam in-jeções de insulina em dias alternados. Após duas semanas, os animais do Grupo Controle (GC) e do Grupo Diabético (GD) foram aleato-riamente distribuídos nos grupos: Controle Sedentário (CS), Contro-le Exercício (CE), Diabético Sedentário (DS) e Diabético Exercício (DE). CE e DE foram submetidos a exercício de natação em tanques individuais (50 x 30 cm) a 34ºC, por 45 minutos, às 9h e 17h, cinco dias por semana, durante quatro semanas. Após esse período, os ratos foram decapitados e os tecidos foram coletados. Músculo gastrocnê-mio branco, gordura mesentérica, gordura subcutânea e tecido adi-poso marrom (TAM) foram dissecados, pesados, imediatamente con-gelados e estocados a -80ºC para posterior análise. RNAm da MST e ActRIIB foram quantificados por RT-PCR. P < 0.05 foi considerado estatisticamente significante. A glicemia dos animais dos grupos CE e DE foi significativamente menor do que a glicemia dos animais dos grupos CS e DS, respectivamente. No grupo DS, a expressão da MST aumentou significativamente no músculo e na gordura subcutânea e diminuiu significativamente no TAM, comparado ao grupo CS. Nos animais submetidos ao exercício, houve redução significativa da ex-pressão da MST no TAM do grupo CE comparado ao grupo CS. No grupo DE, ocorreu diminuição significativa da MST na gordu-ra subcutânea e aumentou significativamente a gordura mesentérica. A expressão de ActRIIB no grupo DS foi significativamente maior no músculo, TAM e gordura mesentérica, comparado ao grupo CS. A expressão do ActRIIB diminuiu significativamente no músculo e TAM do grupo DE comparado ao grupo DS. Houve também dimi-nuição da expressão do ActRIIB no TAM do grupo CE comparado ao CS. Em conclusão, os resultados originalmente indicam que a expres-são da MST e ActRIIB modifica-se no músculo e tecidos adiposos em animais diabéticos submetidos a exercício e sugere a influência da MST sobre o metabolismo energético. Apoio financeiro: Fapesp, CNPq.
036SUPLeMenTAÇÃO cOM TAURinA PReVine AUMenTO dA SecReÇÃO de inSULinA POR iLHOTAS iSOLAdAS e MeLHORA A TOLeRÂnciA À GLicOSe eM cAMUndOnGOS ALiMenTAdOS cOM dieTA HiPeRLiPÍdicARibeiro RA1, Mobiolli ddM1, Vanzela ec1, Souza Jc1, Boschero Ac1, carneiro eM1
1 Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Anatomia, Biologia Celular, Fisiologia e Biofísica, SP, Brasil
Estudos demonstram que a suplementação com taurina tem efeito benéfico em animais com intolerância a glicose. Nesse sentido, o
objetivo foi avaliar a secreção de insulina e a homeostase glicêmica em camundongos submetidos a dieta hiperlipídica e suplementados com taurina (5%). Aos 30 dias de vida, camundongos Swiss foram divididos em quatro grupos, sendo eles: Controle (CTL), tratado com dieta com 16,6% de lipídeos e com ingestão de água; Controle Taurina (CTAU), tratado com dieta com 16,6% de lipídeos e suple-mentada com Tau dissolvida em água; Hiperlipídico (HFD), tratado com dieta hiperlipídica com 60% de lipídeos com ingestão de água; Hiperlipídico Taurina (HTAU), tratado com dieta hiperlipídica com 60% de lipídeos e suplementada com Tau dissolvida em água. Ao final dos cinco meses de tratamento, investigaram-se a glicose san-guínea e a insulina plasmática de jejum e alimentado, a tolerância a glicose (ipGTT), a secreção de insulina por ilhotas isoladas (secreção estática) e a ativação da AKT no fígado (Western Blot). Os resul-tados foram analisados por ANOVA; p < 0,05 foi adotado como critério de significância. Os camundongos alimentados com dieta hi-perlipídica, suplementada com taurina ou não, apresentaram maior peso corporal (64 ± 2 g e 62 ± 2 g, respectivamente, vs. 47 ± 1 g) e depósito de gordura retroperitonal (732 ± 44 mg e 720 ± 41 mg, respectivamente, vs. 459 ± 41 mg), quando comparados com o gru-po que recebeu apenas dieta com 16,6% de lipídeos. Também se ob-servaram aumento na glicemia e insulinemia de jejum e alimentado no grupo HFD em relação ao grupo CTL. Além disso, camundon-gos HFD apresentaram intolerância a glicose, que foi parcialmente reduzida no grupo HTAU, quando comparado com o grupo CTL (AUC 56064 ± 4677 e 48276 ± 4683, respectivamente, vs. 32788 ± 3417; mg/dl. min.-1). Adicionalmente, observou-se aumento da fosforilação em resíduos serina da AKT, em resposta a estímulo com insulina exógena, no fígado de camundongos HTAU, em relação aos grupos CTL (56%) e HFD (82%). As ilhotas dos camundongos HFD secretaram mais insulina em resposta à glicose (16,7 mmol/l), quando comparadas com as do grupo CTL (9,3 ± 0,8; 4,7 ± 0,6 ng/ml.h, respectivamente). No entanto, houve redução na secreção no grupo HTAU (4,5 ± 0,5 ng/ml.h) em relação ao grupo HFD, a qual foi similar à do grupo CTL. A alimentação com dieta hi-perlipídica causou intolerância a glicose e aumento da secreção de insulina em camundongos. A suplementação com taurina melhorou a tolerância à glicose e preveniu o aumento da secreção de insulina, provavelmente por preservar o controle da produção hepática da gli-cose via ativação da AKT. Apoio financeiro: Fapesp, CNPq e Capes.
037MOdULATiOn OF GLUcOSe TRAnSPORTeR GLUT4 eXPReSSiOn BY cAnnABinOid RecePTOR cB1 in AdiPOcYTeSFuruya dT1, Poletto Ac1, Oliveira MAn1, Freitas HSde1, Machado UF1
1 Universidade de São Paulo (USP), Fisiologia e Biofísica, SP, Brasil
Introduction: Evidences have suggested that the endocannabinoid system is overactive in obesity, resulting in enhanced endocannabi-noid levels in both circulation and visceral adipose tissue. The can-nabinoid CB1 receptor is expressed in the adipose tissue besides the brain. Few studies in vitro suggest that CB1 activation increases glucose uptake in adipocytes. However, there is no data about CB1 receptor modulation on glucose transporter GLUT4 expression and the related mechanisms in adipocytes. Methods: 3T3-L1 adipocytes were incubated in the presence of a selective agonist of CB1 recep-tor (1 micromolar ACEA) or a selective antagonist of CB1 receptor (0.1, 0.5 or 1 micromolar AM251) or both. After 24 hours, cells were harvest to evaluate GLUT4 protein (Western Blotting) and NFkappaB activation specifically in two different sites of GLUT4 promotor (gel shift). Results: The stimulation of CB1 recep-tor by ACEA resulted in a reduction of GLUT4 protein content (65%, p < 0.05). On the other hand, treatment with both ACEA
S106
ReSUMOS de PÔSTeReS
and AM251 showed an enhancement in protein content in a dose-dependent way. Besides, AM251 treatment alone resulted in an ex-pressive dose-dependent increase of GLUT4 content (from 150 to 200%, p < 0.001). Furthermore, the treatment with ACEA increased NFkappaB activation, and the treatment with ACEA and AM251 or AM251 alone reduced NFkappaB activation. Discussion: The pres-ent data shows that the blockade of CB1 receptor markedly increases GLUT4 expression in adipocytes and provides further evidence that NFkappaB may be involved in the modulation of GLUT4 by CB1 receptor signaling. Research relating to this abstract was funding by Fapesp 08/09194-4.
038ÁcidOS GRAXOS inSATURAdOS OLeicO e LinOLeicO RedUZeM A eXPReSSÃO dO GLUT4: PARTiciPAÇÃO dOS FATOReS TRAnScRiciOnAiS nFKAPPAB, SReBP-1c e HiF-1A nO cOnTROLe deSSe MecAniSMO Poletto Ac1, Furuya dT1, Santos RA2, Anhe GF3, david-Silva A1, campello RS1
1 Universidade de São Paulo (USP), Fisiologia e Biofísica. 2 Instituto de Ciências Biológicas, USP, Farmacologia. 3 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Farmacologia, SP, Brasil
Introdução: Ácidos graxos são nutrientes essenciais para o cres-cimento e o desenvolvimento do organismo. Além de importante substrato energético para o trabalho celular, essas biomoléculas atuam na composição estrutural da membrana plasmática e no fornecimen-to de sinalizadores intracelulares que regulam a atividade de prote-ínas pertencentes às diferentes vias de sinalização intracelular, bem como a expressão de genes como o SLC2A4. Os mecanismos pelos quais essas biomoléculas controlam a expressão de genes necessitam ser esclarecidos, todavia o controle da atividade e/ou expressão de fatores transcricionais, como NFkappaB, SREBP-1c e HIF-1a, des-critos como reguladores do SLC2A4, são sugeridos. Fatores como aumento nos níveis circulantes de alguns ácidos graxos e alterações na expressão e/ou translocação da proteína GLUT4 à membrana plasmática estão associados com o quadro de resistência à insulina na obesidade e no diabetes melito. Dessa forma, considerando os aspectos sobreditos, o objetivo deste trabalho é avaliar o efeito dos ácidos graxos, monoinsaturado oleico e poli-insaturado linoleico na expressão do GLUT4, e a participação dos fatores transcricionais NFkappaB, SREBP-1c e HIF-1a no controle desse mecanismo. Mé-todos: Células musculares diferenciadas pertencentes à linhagem L6 foram mantidas em meio DMEM suplementado com BSA a 1% e expostas a diferentes concentrações dos ácidos graxos, oleico – OFA (12,5-400 uM) e linoleico – LFA (50-400 uM), por 16 horas. Fo-ram realizados: 1) Western Blotting para avaliar a expressão da pro-teína GLUT4, 2) PCR em tempo real para avaliar a expressão do mRNA do GLUT4, SREBP-1c, NFkappaB e HIF-1a e 3) ensaio de mobilidade eletroforética (Gel shift – EMSA) para verificar a ativida-de de ligação do NFkappaB à região promotora do GLUT4. Resul-tados: Redução no conteúdo da proteína GLUT4 foi verificada na presença de OFA (50-400 uM) e LFA (300 e 400 uM). A expressão do mRNA foi analisada nas concentrações 25, 50 e 200 uM para OFA e 50, 200 e 300 uM para LFA. O conteúdo de mRNA do GLUT4 e SREBP-1c reduziu em todas as concentrações analisadas de ambos AG. Contrariamente, aumento na expressão de mRNA do HIF-1a e do NFkappaB foi observado na presença de 200 uM para OFA e 200 e 300 uM para LFA. Quanto à atividade de ligação, foi detectado aumento na atividade de ligação do NFkappaB ao DNA na presença de 200 uM para OFA e em todas as concentrações para LFA. Discussão: Em suma, até o momento, sugere-se que tanto o OFA quanto o LFA reprimem a expressão do GLUT4 em células musculares L6. A participação do NFkB é indicada no controle desse mecanismo. Ensaios adicionais são necessários para esclarecer a atu-
ação de SREBP-1c e HIF-1a na regulação da expressão do GLUT4 na presença de ambos AG insaturados. O esclarecimento dos meca-nismos pelos quais os AG regulam a expressão do GLUT4 auxiliará na prevenção e tratamento nutricional da resistência à insulina, co-mum no diabetes melito e na obesidade. Fapesp 07/56091-3.
039O eXeRcÍciO cOnTRARReSiSTidO MeLHORA SenSiBiLidAde À inSULinA eM RATOS OBeSOS POR AUMenTO de eXPReSSÃO dA PROTeÍnA TRAnSPORTAdORA de GLicOSe GLUT4 e de RedUÇÃO dA inFLAMAÇÃO nO MÚScULO GLicOLÍTicOPinto Júnior dAc1, Brandão BB1, Panveloski Ac1, Seraphim PM1
1 Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Fisioterapia, SP, Brasil
Tem-se demonstrado que a obesidade é uma doença que tem cau-sas multifatoriais. O grande problema da população obesa é que, com o aumento da adiposidade, aumenta o número de patologias associadas, das quais se destacam o aumento da pressão arterial, aumento de atividade pró-inflamatória e diminuição da sensibilidade insulínica. Um dos marcadores da atividade inflamatória é o aumen-to de expressão da proteína supressora de sinalização de citocinas 3 (SOCS3), cuja função é diminuir inflamação causada pelas citoci-nas. Quando há inflamação crônica, pode ocorrer falha na cascata de reações intracelulares ativadas pela insulina, provocando resistência insulínica, que culmina em falha entre o sinal dado pela insulina e o transportador de glicose GLUT4 dos tecidos muscular e adiposo. O exercício físico tem efeito benéfico tanto para reduzir a ativida-de inflamatória como a expressão de GLUT4. Este estudo avaliou o efeito do exercício contrarresistido sobre a expressão de RNAm SOCS3 e GLUT4 em ratos obesos. Ratos Wistar machos foram di-vididos em: Controle Sedentário (CS), Controle Exercício (CE), Obeso Sedentário (OS) e Obeso Exercício (OE). Aos animais dos grupos OS e OE, foi ofertada uma dieta de cafeteria: bolacha, bacon, mortadela. Os grupos CE e OE foram submetidos ao exercício físico contrarresistido em um aparelho para realização de movimento de squat jump. Foram aplicadas eletroestimulações na cauda do animal (10 V, 0,3 ms de duração e 2 s de intervalo) para o salto. A intensi-dade utilizada foi de 65% a 75% PC, sendo executadas 3 séries, 12 repetições, com intervalo de 1 min entre as séries. O treinamento foi realizado por 45 dias 3x/semana. Foi realizado teste de tolerância à insulina (50 U/kg PC) para avaliação da sensibilidade à insulina. Após anestesia, foi removido o músculo glicolítico extensor longo dos dígitos para quantificação de RNAm do GLUT4 e de SOCS3 por meio de RT-PCR. A constante de decaimento da glicose sérica durante o ITT mostrou que os animais que fizeram a atividade física obtiveram valor maior do que os sedentários (CS = 1,82 ± 0,51; CE = 3,72 ± 0,48; OS = 2,81 ± 1,41; OE = 3,9 ± 0,8 UA, n = 7). O grupo OS apresentou menor conteúdo de RNAm do GLUT4 comparado ao CS (CS = 100 ± 7 UA e OS = 82 ± 2 UA P < 0,05, n = 7), e o exercício contrarresistido melhorou esse quadro (OE = 134 ± 16 UA e OS = 82 ± 2 UA, P < 0,02, n = 7). A obesidade causou au-mento (32%) no conteúdo de RNAm de SOCS3, e o exercício físico reduziu esse valor em 28% (CS = 103,45 ± 5,38; CE = 109,63 ± 12 UA; OS = 137,39 ± 19,63 UA; OE = 98,89 ± 9 UA, n = 7). Parece que a obesidade induzida por dieta de cafeteria piora a sensibilidade à insulina por causa de redução do conteúdo de RNAm de GLUT4 na musculatura glicolítica, o que pode estar associado a aumento de inflamação local. O exercício contrarresistido beneficia os animais até mesmo com um quadro de obesidade. Conclui-se, então, que o exercício aparece como uma importante ferramenta para auxiliar tanto na prevenção quanto na melhora de complicações associadas à obesidade.
S107
ReSUMOS de PÔSTeReS
040eFeiTOS dO FenOFiBRATO SOBRe A cicATRiZAÇÃO de LeSÕeS ePiTeLiAiS eM RATOS diABÉTicOS Trevisan dd1, Abreu LLF1, caricilli AM2, Araujo eP1, Saad MJA3, Lima MHM1
1 Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas (FCM/Unicamp), Enfermagem. 2 FCM/Unicamp, Fisiopatologia. 3 Unicamp, Clínica Médica, SP, Brasil
Introdução: O reparo tissular é dividido em três fases: inflamação, granulação e remodelação do epitélio. O aumento da proliferação e migração de queratinócitos na fase de reepitelização é fundamen-tal para a cicatrização. Os PPARa, PPARβ e PPARδ participam de vários desses processos metabólicos e celulares. Estudos revelaram que o tratamento com fenofibrato diminui o índice de amputações em pacientes com DM 2 e que há envolvimento dos PPAR. Objeti-vo: Avaliar a expressão dos PPAR no processo cicatricial de pele de animais diabéticos submetidos à administração oral de fenofibrato. Métodos: Ratos Wistar machos foram divididos em quatro grupos; o grupo com DM induzido por streptozotocina (58 mg/kg, via endovenosa) e tratado com fenofibrato (20,55 mg/kg, via oral); o grupo com DM e tratado com placebo; o grupo Wild type tratado com fenofibrato e o grupo Wild type tratado com placebo. A lesão foi realizada na região dorsal dos animais, e no terceiro, quinto e nono dias após tratamento o tecido cicatricial foi extraído para avaliação da expressão dos PPAR mediante imunoistoquímica e immunoblotting. Resultados preliminares: Foi observado aumento significativo da expressão de PPAR a e δ na região cicatricial da pele de ratos dia-béticos tratados com fenofibrato. Os grupos usados como controles permaneceram sem alterações significativas. Conclusões: Com esses dados preliminares, pode-se dizer que o tratamento com fenofibrato melhora a expressão dessas proteínas no tecido cicatricial dos animais diabéticos e que isso pode induzir melhora do processo cicatricial de lesões epiteliais em animais diabéticos.
041PAPeL dO SiSTeMA neRVOSO SiMPÁTicO nO cOnTROLe dAS VIAS de GeRAÇÃO de GLiceROL-3-FOSFATO nO TecidO AdiPOSO ePididiMAL de RATOS diABÉTicOS Frasson d1, chaves Ve1, Garofalo MAR1, Migliorini RH2, Kettelhut ic2
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Fisiologia. 2 FMRP-USP, Bioquímica e Imunologia, SP, Brasil
Introdução: Entre as inúmeras alterações metabólicas decorrentes da deficiência insulínica que caracteriza o DM tipo 1 está a signifi-cativa redução da massa do tecido adiposo (TA), decorrente da alta lipólise e reduzida síntese de ácidos graxos (AG). Nos animais dia-béticos é também conhecido que a captação de glicose está inibida, bem como a atividade da gliceroquinase (GyK) no TA retroperi-tonial, comprometendo, assim, a formação de G3P por essas duas vias e, consequentemente, a formação do TAG. Entretanto, essa queda no conteúdo de gordura não é ainda mais evidente por causa do aumento da gliceroneogênese (G3Pneo), que converte amino-ácidos, lactato e piruvato em glicerol-3-fosfato (G3P), permitindo a esterificação de AG oriundos da própria lipólise no TA e a for-mação de TAG. Nada, entretanto, é conhecido sobre o papel do sistema nervoso simpático (SNS) no controle das vias de geração de G3P no TA epididimal (EPI) de ratos diabéticos. Para isso foi investigado o efeito da desnervação nas vias de geração de G3P: a) glicolítica; b) gliceroneogênica; c) fosforilação direta do glicerol, em ratos diabéticos. Métodos: Os experimentos foram realizados sete dias após a desnervação simpática química unilateral (DS) do EPI, usando como controle o lado contralateral inervado. O dia-betes foi induzido por injeção i.v. de estreptozotocina (45 mg/kg
de rato), 72 horas antes dos experimentos. O conteúdo de nora-drenalina (NOR) (ng. tecido total-1) foi determinado por HPLC (J Auton Nerv Syst. 1996;60(3):206). A via glicolítica foi avaliada pela captação de 2-desoxi-1-14C-glicose in vitro (nmol de glicose. 106 de cél-1.min-1) em adipócitos isolados do EPI. Foram avaliadas as atividades da GyK (Biochim Biophys Acta. 1967;132(2):338) e da PEPCK (Biochem J. 1967;104:866), ambas expressas por nmol. mg de prot-1.min.-1. O fluxo da G3Pneo foi estimado pela incorporação de 1-14C-piruvato em glicerol-TAG (nmol.106cél-1.h-1). Resultados: A DS causou uma redução de 88% no conteúdo de NOR no EPI. O diabetes reduziu a captação de glicose em 50% no EPI. A DS não alterou esse parâmetro no grupo dos animais controles, porém cau-sou uma redução adicional na captação da hexose nos adipócitos do grupo diabético (0,52 ± 0,1 vs. inervado 1,0 ± 0,1). A incorporação de piruvato em glicerol-TAG mostrou-se aumentada nos adipócitos do EPI dos animais diabéticos (14,2 ± 0,5 vs. controle 10,2 ± 0,8); o mesmo aumento foi observado na atividade da PEPCK (12,9 ± 1,1 vs. controle 2,6 ± 0,2). A DS reduziu a G3Pneo, tanto na in-corporação de piruvato em glicerol-TAG (redução de 23% no grupo controle e de 14% no grupo diabético) como na atividade da PEPCK (redução de 35% no EPI de ratos controles e de 69% no EPI de ratos diabéticos). O diabetes não alterou a atividade da GyK no EPI. A DS reduziu esse parâmetro no EPI dos animais controles (0,53 ± 0,06 vs. inervado 1,32 ± 0,15) e dos animais diabéticos (0,65 ± 0,05 vs. inervado 1,28 ± 0,13). Discussão: Embora não se possa excluir a importância de outros fatores metabólicos e hormonais no controle das vias de geração de G3P, os dados sugerem que o SNS estimula a captação da hexose, a G3Pneo e a atividade da GyK no EPI de ani-mais diabéticos, aumentando a formação de G3P em uma situação em que há deficiência de insulina. Apoio financeiro: Fapesp e CNPq.
042AcUTe TeMPORAL cHAnGeS indUced BY β2-AdReneRGic AGOniSTS in eRK1/2 And AKT SiGnALinG PATHWAYS in ATROPHied SKeLeTAL MUScLeS FROM FASTed MiceGonçalves dAP1, Lira ec1, Paula-Gomes S2, Zanon nM3, Kettelhut ic4, navegantes Lcc1
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Fisiologia. 2 FMRP-USP, Bioquímica. 3 FMRP-USP, Fisiologia e Bioquímica. 4 FMRP-USP, Bioquímica e Imunologia, SP, Brasil
Introduction: Although β2-adrenergic agonists are known by their ability to promote muscle growth and inhibit muscle atrophy, the molecular underlying mechanism and the signaling pathways in-volved are largely unknown. Two classical signaling pathways of in-sulin, ERK1/2 and Akt, have been shown to mediate the anabolic effects of this hormone on muscle protein metabolism. Therefore, this study was undertaken to verify if a single injection of selective β2-adrenergic agonists is able to modulate ERK1/2 and Akt signal-ing in skeletal muscles from fasted mice. Methods: Gastrocnemius and tibial anterior muscles from fed and 2-days fasted C57Bl6/J mice (3-4 months-old) were analyzed after 1, 4 and 12 h of a single subcutaneous injection with β2-adrenergic agonists, Clenbuterol (CB; 3.000 µg/kg) or Formoterol (FOR; 30 µg/kg). The gene ex-pression of muscle-specific Ubiquitin (Ub)-ligases (Atrogin-1 and MuRF1), the key Ub-protein ligases involved in muscle atrophy, was quantified by RT-qPCR. The phosphorylation status of protein quinases ERK1/2 and Akt was assessed by Western Blotting. The cAMP levels were measured by immunoenzymatic assay (ELISA). Results: Food deprivation reduced body mass (17%) and skeletal muscle mass (10%) in mice. The phosphorylation/activation levels of ERK1/2 and Akt in muscles from fasted mice were ~ 40% and ~ 80% lower, respectively, than in fed mice. Moreover, the mRNA expression of Atrogin-1 and MuRF1 was upregulated (10- and 30-fold, respectively) in the same muscles. The treatment with CB
S108
ReSUMOS de PÔSTeReS
reestablished the phosphorylation status of ERK1/2 and increased (~ 4-fold) the phosphorylation levels of Akt in atrophied muscles 1 h after the injection. Similar effects were observed after FOR in a dose 100-fold lower than CB. The stimulatory effect of CB on protein kinases was over at 12 h. interestingly, the most powerful β2-adrenergic agonist, FOR, had already lost its capability to reac-tivate ERK1/2 and Akt at 4 h after injection. Atrogin-1 expression was suppressed by ~ 70% within 1 h after CB and remained low until 12 h. MuRF1 expression reduced by ~ 55% only at 12 h af-ter CB treatment. cAMP levels were decreased by 36% in muscles from fasted mice and returned to basal values 1h after CB injection. Conclusion: Taken together, these data indicate that β2-adrenergic agonists are able to reactivate ERK1/2 and Akt signaling, possibly through the cAMP pathway, in a short period of time and down-regulate the gene expression of Ub-ligases involved in muscle atro-phy during fasting. Financial support: CNPq (04/02674-0), Fapesp (08/06694-6 & 2009/07584-2).
043AVALiAÇÃO dOS dAnOS OXidATiVOS eM PROTeÍnAS e LiPÍdiOS decORRenTeS dO diABeTeS de inTenSidAde MOdeRAdAdamasceno dc1, Lima PHO1, Sinzato YK1, Spada APM2, Rodrigues T3, Rudge MVc1
1 Faculdade de Medicina, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Botucatu, Ginecologia e Obstetrícia. 2 Unesp, Botucatu, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). 3 Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), Universidade Federal do ABC (UFABC), SP, Brasil
Introdução: A hiperglicemia, manifestação clínica principal do diabetes melito, não gera somente espécies reativas de oxigênio (ROS), mas também diminui os mecanismos antioxidantes (Hi-nokio et al. Diabetologia. 1999;42:995). A gestação por si só é um estado de estresse oxidativo que leva à atividade metabólica aumentada na mitocôndria placentária e diminui o sistema antioxi-dante (Kim et al. Reprod Toxicol. 2005;19:487). O estresse oxida-tivo afeta biomoléculas, como lípides, proteínas e DNA (Brownlee. Nature. 2001;414:813). Objetivo: Investigar os danos oxidativos em proteínas (determinação da concentração de proteína carbonil) e em lipídios [determinação da concentração de 8-isoprostaglan-dina F2a (8-iso PGF2a)] no plasma de ratas prenhes com diabetes de intensidade moderada. Métodos: O diabetes foi induzido no primeiro dia de vida de ratas fêmeas Wistar pela injeção subcutâ-nea de streptozotocin (STZ – 100 mg/kg de peso corporal (Grupo Diabético – D). As ratas do grupo não diabético (Grupo Controle – C) receberam somente tampão citrato com volume similar ao do grupo D. O critério de inclusão estabelecido para compor o grupo de ratas com diabetes de intensidade moderada foi ratas que apresentassem glicemia entre 120 mg/dL e 300 mg/dL. No 21º dia de prenhez, as ratas foram anestesiadas com tiopental sódico e mortas para coleta das amostras de sangue para análise dos danos oxidativos em proteínas e lipídios. Resultados: Não houve dife-renças significativas (p > 0,05) nos níveis plasmáticos de proteína carbonil (C = 0,18 +/- 0,03; D = 0,17 +/- 0,02 nmol/mg) e 8-iso PGF2a (C = 100,2 +/- 95,4; D = 117,3 +/- 124,4 pg/mL). Discussão: No presente estudo, ratas com diabetes moderado não mostraram níveis alterados de proteína carbonil. Não há relatos na literatura sobre os danos oxidativos em proteínas de ratas com diabetes moderado (glicemia entre 120 e 300 mg/dL) induzido por streptozotocin. As ratas diabéticas também não apresentaram danos oxidativos em lipídios com a utilização da 8-iso PGF2a como marcador. Dessa forma, a intensidade glicêmica atingida, ao final da prenhez, não foi suficiente para exacerbar o quadro de estres-se oxidativo e afetar proteínas e lipídeos. Agradecimentos: Fapesp (2006/06056-4) e Capes.
044ÁcidOS GRAXOS W-3 e W-9 ReVeRTeM A inFLAMAÇÃO e APOPTOSe nO HiPOTÁLAMO de AniMAiS OBeSOS e diABÉTicOS, indUZidOS POR dieTA RicA eM GORdURAcintra de1, Ropelle eR1, contin Moraes J1, Pauli JR1, Morarij J1, Souza cT1, Saad MJA1, Velloso LA1
1 Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Clínica Médica, SP, Brasil
Introdução e objetivos: A compreensão sobre a ação de nutrientes no controle hipotalâmico da fome e termogênese emergiu a nutri-ção como protagonista das ações genômicas nas doenças metabólicas. O objetivo deste trabalho é avaliar o papel dos ácidos alfalinolênico w-3 e do oleico w-9 na modulação hipotalâmica da fome e termogê-nese em animais obesos e diabéticos induzidos por dieta rica em gor-dura. Material e métodos: Separados em gaiolas individuais e man-tidos em ambientes com água e ração ad libitum, luz e temperatura controladas, ratos Wistar (N = 60) e camundongos Swiss (N = 60) foram induzidos ao desenvolvimento de obesidade e DM2, ao serem submetidos durante 60 dias a uma dieta rica em gordura (35%). Am-bas as espécies tiveram suas dietas suplementadas com diferentes con-centrações de w-3 (óleo de linhaça – 58% C18:3) ou w-9 (azeite de oliva – 85% C18:1). Outros grupos experimentais foram submetidos à cirurgia de estereotaxia para implantação de uma cânula no hipotála-mo lateral, por onde receberam diretamente os mesmos ácidos graxos (AG) purificados (Sigma-Aldrich) em concentrações preestabelecidas. Avaliou-se diariamente a evolução ponderal e consumo dietético. No hipotálamo e nos tecidos adiposos marrom e branco foram avaliados os neurotransmissores orexigênicos e anorexigênicos, as proteínas da via da insulina, leptina, biogênese energética, oxidação, inflamação e apoptose pelas técnicas de RT-PCR, Western Blot e imunoistoquími-ca em confocal. Testes de tolerância à insulina e glicose foram reali-zados. Resultados: Houve redução do ganho de peso (P < 0,05) em animais que receberam os AG via oral e nos tratados via hipotalâmica (P < 0,001). A sensibilidade à insulina e à glicose foi restabelecida em ambos os grupos tratados com os diferentes AG. Ambas as formas de administração dos AG testados reverteram o processo inflamatório hipotalâmico marcado pelas proteínas TNF-a, IL-1b, P-JNK, P-IkB-a, bem como o processo apoptótico marcado pela proteína Bax, em relação aos seus grupos controle. Ambos AG aumentaram a expressão das proteínas anti-inflamatória IL-10 e antiapoptótica BCL-2. A ativi-dade das proteínas da via da insulina (IR, IRS-1/2, p-Akt, p-FoXO) e leptina (Ob-r, Jak-2 e STAT-3) foi restaurada com os tratamentos. As proteínas marcadoras de biogênese mitocondrial e oxidativas (UCP-1/2, citocromo C, PGC-1a e CPT-1) apresentaram atividade aumen-tada. Conclusão: Os AG w-3 e w-9 contribuíram preponderantemen-te para a reversão do processo de obesidade e diabetes ao reduzirem o ganho de peso, a inflamação e a apoptose, instalados pela dieta hiper-lipídica. Ainda aumentaram o gasto energético, a sensibilidade à in-sulina e à glicose, além de restabelecerem o controle central da fome. Tais ácidos graxos sobressaem-se como importantes instrumentos nas ações nutricionais, sob a perspectiva da nutrigenômica.
045Gene eXPReSSiOn PROFiLinG MeTA-AnALYSiS OF Tcd4+, Tcd8+ OR cd14+ ceLLS OF RecenTLY diAGnOSed TYPe 1 DIABETES MELLITUS PATienTS iS inFLUenced BY MHc ii SUScePTiBiLiTY/PROTecTiOn ALLeLeSRassi dM1, Junta cM2, Feijó Ae2, Silva GL2, Wastowski iJ3, Palomino GM3, crispim JO1, Melo-Lima B3, deghaide nnHS1, Fernandes APM4, Foss-Freitas Mc1, Foss Mc1, Sakamoto-Hojo eT2, Passos GAS2, donadi eA5
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Clínica Médica. 2 FMRP-USP, Genética. 3 FMRP-USP, Imunologia e Bioquímica. 4 FMRP-USP, Enfermagem. 5 FMRP-USP, SP, Brasil
Type 1 diabetes mellitus (T1D) is an organ-specific auto-immune disease caused by the selective destruction of the pancreatic b cells by
S109
ReSUMOS de PÔSTeReS
inflammatory and immune cells. The etiology of T1D is considered to be multifactorial, involving the participation of genetic, immuno-logic and environmental factors. In this study we evaluated the diffe-rential large scale gene expression profiling using cDNA microarrays of T (CD4+ and CD8+) and monocyte (CD14+) cells. In addition, considering that HLA class II profile may influence the expression of these molecules on the surface of peripheral blood cells, and con-sidering that the mechanisms by which HLA class II susceptibility alleles drive the auto-immune response have not been elucidated, we intend to further stratify T1D patients according to the HLA class II profile. 20 pre-pubertal recently diagnosed T1D patients were selec-ted, HLA-DRB1/DQB1 allele typing and separated in two groups. The group 1 had patients with susceptibility alleles and group 2 with at least one protection allele. Consensus gene expression by meta-analysis of 4.500 cDNA sequences microarray data obtained and sys-tematically analyzed. The normalized data were statistically analyzed by the significance analysis of microarray SAM program. Patient data input was realized together, in the cluster and tree-view program, using the unsupervised function. Individual expression signatures permitted a hierarchical clustering of samples and the transcriptome profiling featured modules of the specifically induced or repressed and the co-modulated genes. Gene expression profiling meta-analy-sis showed dendrograms grouped patients according to susceptibi-lity or protection regardless the cell type analyzed, demonstrating that MHC class II alleles interfere on differential gene expression of peripheral blood immune cells of T1D patients, as shown previously by our group (NYAS 1079: 305-309, 2006). Financial support from CNPq, Fapesp and Capes.
046ReGULATORY neTWORKS AS A MOLecULAR STRATiFicATiOn OF Tcd4+, Tcd8+ And cd14+ ceLLS OF RecenTLY diAGnOSed TYPe 1 DIABETES MELLITUSRassi dM1, Junta cM2, Feijó Ae2, Silva GL2, Palomino GM3, Wastowski iJ3, crispim JO1, Melo-Lima B3, deghaide nnHS1, Fernandes APM4, Foss-Freitas Mc1, Foss Mc1, Sakamoto-Hojo eT2, Passos GAS2, donadi eA5
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Clínica Médica. 2 FMRP-USP, Genética. 3 FMRP-USP, Imunologia e Bioquímica. 4 FMRP-USP, Enfermagem. 5 FMRP-USP, SP, Brasil
Insulin-dependent diabetes mellitus (T1D) is an organ-specific auto-immune disease caused by the selective destruction of the pancreatic b cells by inflammatory cells, especially auto-reactive CD8+ T lym-phocytes. In this study we evaluated the differential large scale gene expression profiling using cDNA microarrays of T (CD4+ and CD8+) and monocyte (CD14+) cells. In addition, considering that HLA class II profile may influence the expression of these molecules on the sur-face of peripheral blood cells, and considering that the mechanisms by which HLA class II susceptibility alleles drive the auto-immune response have not been elucidated, we intend to further stratify T1D patients according to the HLA class II profile. 20 pre-pubertal re-cently diagnosed T1D patients were selected, HLA-DRB1/DQB1 allele typing and separated in two groups. The group 1(G1) had patients with susceptibility alleles and group 2 (G2) with at least one protection allele. To established relationships between genes, the GeneNetwork 1.2 algorithm was used, 6 grade network was obtain, TCD4+ G1 patients X controls, TCD4+ G2 patients X controls, and same situation to TCD8+ and CD14+. The output result of Gene Ne-twork program is a very complex graph with difficult interpretation. Different genes were show in grades with different interactions and characteristic gene nodes, variation of the 5-30 genes for each node. Patient transcriptional networks compared to controls featured gene nodes, whose expression profiling was shared by CD4+, CD8+ and CD14+ cells of T1D presenting DQB1 susceptibility alleles. The set
of genes includes FAS (TNF receptor superfamily), BAT (HLA-B as-sociated transcript 3), GABRA (gamma-aminobutyric acid-GABA-A receptor), IL1RAP (interleukin 1 receptor accessory protein), and CD93 (C1q receptor 1). In patients presenting protection alleles, ubitiquitin (UBC, UBE2Z, UBR4, UBAP), BCAP29 (B-cell recep-tor-associated protein 29), IK cytokine (HLA II down-regulator) and INSR (insulin receptor) genes were shared by CD4+, CD8+ and CD14+ populations. Taken together, these results pointed several genes whose expression was co-modulated in several lymphomono-nuclear cells obtained from T1D patients with evidence for a role of DQB1 alleles in T1D susceptibility or protection. Financial support from CNPq, Fapesp and Capes.
047AVALiAÇÃO dA ViA iniBiTÓRiA dO SinAL inSULÍnicO eM MÚScULO de RATOS TRATAdOS cROnicAMenTe cOM FLUOReTO de SÓdiOchiba FY1, Gallinari MO1, Gomes WdS1, colombo nH1, Shirakashi dJ1, Garbin cAS2, Sumida dH1
1 Universidade Estadual Paulista (Unesp), Departamento de Ciências Básicas. 2 Unesp, Departamento de Odontologia Infantil e Social, SP, Brasil
Introdução: Nos últimos anos, tem havido uma redução acentuada nos índices de cárie dentária em diversas regiões do mundo, fato que se tem atribuído à ingestão de produtos fluoretados, como o denti-frício. Entretanto, o flúor, quando ingerido em excesso, causa intoxi-cação crônica ou aguda, como a fluorose dentária e distúrbios na ho-meostase da glicose. Estudo realizado em 25 pacientes (15 a 30 anos de idade) com fluorose endêmica mostrou que 40% deles tinham a tolerância à glicose prejudicada; porém essa anomalia foi revertida com a remoção do excesso do flúor na água consumida (Trivedi et al., 1993). As crianças se tornam foco de preocupação, principal-mente as portadoras de diabetes melito, pois geralmente ingerem grandes quantidades de dentifrício fluoretado durante a escovação, ultrapassando a dose preconizada como limite de ingestão diária de flúor, que é de 0,05 a 0,07 mg de F/kg de peso corpóreo (Burt, 1992). Sabendo-se que o F pode alterar o metabolismo de carboi-dratos, o objetivo deste trabalho foi caracterizar o efeito crônico do NaF sobre: 1) o grau de fosforilação em serina do IRS-1, em tecido adiposo branco (TAB); 2) glicemia e insulinemia de ratos. Méto-dos: Foram utilizados 20 ratos Wistar (1 mês de idade) castrados. Após 30 dias, os animais foram divididos em dois grupos: 1) grupo controle (CN); 2) grupo fluoreto de sódio (FN), que foi submetido ao tratamento com NaF administrado na água de beber e F contido na ração comercial (total de F inferido: 4,0 mg de F/kg p.c./dia na forma de NaF) durante 42 dias. Após seis semanas, os animais em jejum (por 14h) foram anestesiados para: 1) quantificação do grau de fosforilação em serina do IRS-1, após estímulo insulínico, em TAB pelo método de Western Blotting; 2) avaliação de insuli-nemia e glicemia. Resultados: Os resultados obtidos demonstraram que o grupo FN apresentou aumento significativo (p < 0,05): 1) no índice de HOMA-IR, calculado a partir dos valores de glicemia e insulinemia de jejum (HOMA-IR: CN = 1,526 + 0,154 vs. FN = 2,908 ± 0,2613; n = 10); 2) no grau de fosforilação em serina do IRS-1, após o estímulo insulínico, em relação ao grupo CN (CN = 105,5 + 6,039 vs. FN = 138,8 + 10,92; n = 5). Discussão: Sabe-se que a fosforilação do IRS-1 em serina, torna essa molécula inibitória para a capacidade sinalizadora do receptor de insulina. E também um aumento valor de HOMA-IR está relacionado com resistência à insulina. Como o tratamento crônico com NaF ocasionou tanto au-mento no grau de fosforilação em serina desse substrato, em tecido sensível à insulina, como na resistência à insulina, é recomendável diminuir a concentração (1.100 ug F/g) de fluoreto nos dentifrícios utilizados principalmente por crianças diabéticas, pois a ingestão de
S110
ReSUMOS de PÔSTeReS
pasta dental com flúor pode levar à piora na situação de saúde des-sas crianças. Referências: 1. Trivedi N. Diabetologia. 1993;36:826. 2. Burt BA. J Dent Res. 1992;7:1228. Apoio financeiro: Fapesp, CNPq e Fundunesp.
048AVALiAÇÃO dA ReSiSTÊnciA inSULÍnicA e dO SinAL inSULÍnicO eM TecidO HePÁTicO de RATOS AdULTOS, PROLeS de RATAS cOM dOenÇA PeRiOdOnTAL Shirakashi dJ1, colombo nH1, chiba FY1, Moimaz SAS2, Sumida dH1
1 Universidade Estadual Paulista (Unesp), Departamento de Ciências Básicas. 2 Unesp, Departamento de Odontologia Infantil e Social, SP, Brasil
Introdução: O ambiente fetal tem sido apontado como possível fator causal de diabetes melito, uma vez que há um fenômeno conhecido como programming, que sugere que um estímulo ou agressão durante um período crítico da vida intrauterina resulte em alterações na fisiologia e no metabolismo também durante a vida adulta. A doença periodontal (DP) é um fator de risco para o desenvolvimento de várias doenças, como o diabetes melito (DM). Estudos demonstraram que a doença periodontal (DP) eleva o nível de citocinas plasmáticas, e as citocinas, como o TNF-alfa, ocasionam resistência à insulina. Sabendo-se que citocinas infla-matórias podem ocasionar alteração no sinal insulínico, tornou-se fundamental averiguar se essas citocinas liberadas durante a pre-nhez são capazes de promover alterações na vida adulta dessa pro-le. O objetivo deste trabalho foi avaliar: 1) o grau de fosforilação em tirosina da pp185 (IRS-1/IRS-2), após o estímulo insulínico, em tecido hepático; 2) glicemia e insulinemia de ratos adultos, proles de ratas com doença periodontal. Métodos: Foram utili-zados ratas e ratos Wistar (200 g). As ratas foram divididas em dois grupos: 1) com DP, no qual essa doença foi induzida por uma ligadura colocada ao redor do 1º molar inferior; 2) controle (SHAM). Após sete dias da colocação da ligadura, as ratas de am-bos os grupos foram colocadas para acasalamento. Quando a prole completou 75 dias de idade, esses animais (prole SHAM e prole DP), mantidos em jejum (por 14h), foram anestesiados para: 1) quantificação do grau de fosforilação em tirosina da pp185 (IRS-1/IRS-2), após estímulo insulínico, em fígado pelo método de Western Blotting; 2) avaliação de insulinemia e glicemia (que fo-ram utilizados para calcular o índice de HOMA-IR). Resultados: Os resultados obtidos demonstraram que o grupo prole DP não apresentou alteração no grau de fosforilação em tirosina da pp 185 no fígado, após o estímulo insulínico, em relação ao grupo prole SHAM, mas apresentou aumento significativo (p < 0,05) no valor de HOMA-IR (prole SHAM = 1,92 ± 0,30 vs. prole DP = 3,32 ± 0,38; n = 10). Discussão: Estudos anteriores demonstraram que ratos adultos, prole de ratas com doença periodontal apresentam diminuição no sinal insulínico em tecido muscular (G) e tecido adiposo (TAB). Entretanto, no presente estudo não foi observa-da alteração no sinal insulínico no tecido hepático. Esse resultado pode ser uma resposta do tecido hepático para compensar a re-sistência à insulina encontrada em G e TAB. Cho et al. (2006) também observaram em modelos de ratos com resistência à in-sulina a ocorrência de diferenças no sinal insulínico entre tecidos sensíveis à insulina (músculo e tecido adiposo) e hepático, no qual foi encontrada diminuição do sinal insulínico apenas nos tecidos sensíveis à insulina. Os resultados também demonstraram que os ratos prole DP apresentam resistência à insulina, visto pelo valor de HOMA-IR. Pode-se inferir que a doença periodontal materna (ratas) promove alterações durante a vida fetal de seus filhotes, o que ocasiona repercussões na vida adulta dessa prole. Mecanismos envolvidos nessas respostas serão investigados. Referência: 1. Cho Y. Endocrinology. 2006;147:5374. Apoio financeiro: Fapesp.
049ROLiPRAM, A SeLecTiVe Pde4 inHiBiTOR, SUPPReSSeS THe AUTOPHAGY And ATROPHY ReLATed-GeneS indUced BY SePSiSLira ec1, Zanon nM1, Kettelhut ic2, navegantes Lcc1
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Fisiologia. 2 FMRP-USP, Bioquímica e Imunologia, SP, Brasil
Introduction: We have previously demonstrated that drugs that in-duce an increase in muscle cAMP levels, such as the non-selective cAMP-PDE inhibitors, reduce the accelerated muscle protein de-gradation in septic rats (Lira EC. Shock. 2007;27:687). However, the molecular mechanisms controlling the cAMP-induced anti-pro-teolytic effects on muscles are not well known. Thus, this study was undertaken to investigate the in vitro effect of rolipram, a selective inhibitor of PDE4, the major PDE isoform expressed in skeletal muscle, in modulating muscle protein degradation and autophagy/atrophy related-genes induced by sepsis. Materials and methods: Sepsis was induced by cecal and ligation pucture (CLP). Rates of proteolysis were determined by measuring the tyrosine release from extensor digital longus (EDL) from sham and septic rats (~ 70 g) at 16 hours of sepsis. For measuring PDE4 inhibition on lysossomal, Ca2+-dependent and ubiquitin-proteasome system (UPS), muscles were incubated in presence, or absence, of rolipram (1 mM). Intra-cellular cAMP was estimated by ELISA, and gene expression was quantified by Real Time PCR. All animals protocols were approved by FMRP Animal Care and Use Committee (108/2006). Results: The overall proteolysis was higher in skeletal muscle from septic rats (0.436 ± 0.017 vs. 0.234 ± 0.007 nmol.mg musc-1 .2h-1 in sham group) at 16 hours of CLP. Consistent with these data, the prote-olytic activities of Ca2+-dependent (~ 220%), lysosomal (120%), and UPS (~ 100%) were increased by sepsis in EDL. This effect was ac-companied by an increase in the gene expression of atrogin-1 (~ 9X) and MuRF (50X), the key ubiquitin-protein ligases involved in mus-cle atrophy, and in both autophagic genes LC3 (9X) and GABARAP (2X). Rolipram in vitro increased cAMP levels (90%), and decreased overall proteolysis (57%) and the UPS (47%) proteolytic activity in the sham group. In septic rats, the PDE 4 inhibitor suppressed par-tially the increase of overall proteolysis (40%), the activities of UPS (32%) and lysosomal (50%), the gene expression of MuRF (~ 60%) and LC3 (45%), and completely abolished the GABARAP mRNA. Conclusions: These findings identify new mechanisms by which se-lective PDE4 inhibitors reduce protein degradation in septic rats, su-ggesting that the cAMP-increase induced by rolipram in vitro leads to the suppression of UPS by inhibiting the expression of atrogin-1 and MuRF in parallel with the inhibition of autophagic/lysosomal pathways. Financial support: CNPq and Fapesp (08/06694-6).
050iL-6 e iL-10 PROMOVeM ReSPOSTA AnTi-inFLAMATÓRiA nO TecidO HiPOTALÂMicO e AUMenTAM OS SinAiS de SAciedAde eM ROedOReS OBeSOS: O PAPeL dO eXeRcÍciO FÍSicORopelle eR1, Flores MBS1, cintra de1, Pauli JR2, Rocha GZ1, Morarij J1, Souza cT3, Augusto TM4, Oliveira AG1, contin Moraes J1, Guadagnini d1, Marin RM1, carvalho HF4, Velloso LA1, Saad MJA1
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Clínica Médica. 2 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Biociências. 3 Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), Fisiologia do Exercício. 4 Unicamp, Instituto de Biologia, SP, Brasil
O aumento da prevalência de obesidade vem se revelando como um dos mais importantes fenômenos clínico-epidemiológicos da atuali-dade. Fatores como a mudança do hábito alimentar e o estilo de vida sedentário desempenham papel relevante na patogênese dessa doença.
S111
ReSUMOS de PÔSTeReS
A ingestão alimentar e o gasto energético são minuciosamente regu-lados por neurônios específicos localizados no hipotálamo. Recen-temente, estudos apontam que o processo inflamatório subclínico e o estresse de retículo endoplasmático (RE) observados em modelos de obesidade estão diretamente associados ao fenômeno de resis-tência à insulina e leptina no hipotálamo e resultam em aumento da ingestão alimentar e ganho de peso. Dessa forma, estratégias para reduzir a sinalização inflamatória e melhorar a ação da insulina e leptina no hipotálamo são de grande interesse para prevenir e tratar a obesidade. Objetivo: Investigar os efeitos do exercício físico e da interleucina-6 (IL-6) sobre o processo inflamatório, o estresse de RE e a sensibilidade à insulina e leptina no tecido hipotalâmico e re-lacionar esses efeitos com a ingestão alimentar em roedores obesos. Materiais e métodos: Western Blot, microscopia confocal, hibridi-zação in situ, RT-PCR, camundongos transgênicos e animais obesos foram utilizados para avaliar os efeitos do exercício sobre os sinais anorexígenos no tecido hipotalâmico. Resultados: Demonstrou-se que o exercício físico atenuou a hiperfagia em ratos e camundon-gos obesos, reduzindo a ingestão alimentar em 35%, sem alterar a ingestão em roedores magros. Essa redução da ingestão alimentar foi acompanhada pela redução da fosforilação do IKKb e do estresse de RE em neurônios hipotalâmicos, melhorando a ação da insulina e leptina. Esse fenômeno foi mediado pelo aumento da expressão da IL-6 no hipotálamo após o exercício. O bloqueio da ação da IL-6 no terceiro ventrículo hipotalâmico, por meio da infusão intracerebro-ventricular do anticorpo anti-IL-6, bloqueou os efeitos do exercício sobre a ingestão alimentar. Além disso, o exercício físico e a infusão do recombinante da IL-6 em ratos obesos promoveram uma res-posta anti-inflamatória no tecido hipotalâmico mediante a expressão da citocina anti-inflamatória, IL-10. A infusão isolada de IL-10 no hipotálamo foi capaz de bloquear a via IKK/NFkappa-B e o estresse de RE em neurônios, melhorar a sensibilidade a insulina e leptina no hipotálamo, normalizando a ingestão alimentar em ratos obesos. Por fim, a atividade física não conseguiu atenuar a inflamação e o estresse de RE no hipotálamo em camundongos transgênicos com deficiên-cia na produção de IL-6 e IL-10. Conclusão: Assim, demonstrou-se que a IL-6 e a IL-10 são importantes contribuintes fisiológicos responsáveis pela melhora da ação central da insulina e da leptina mediada pelo exercício. A restauração da sensibilidade de neurônios envolvidos no controle da saciedade promovida pela atividade física representa uma importante estratégia terapêutica no combate à obe-sidade e doenças associadas. Acredita-se que estes resultados mudam o paradigma da interação entre o exercício, a ingestão alimentar e a obesidade.
051eSTUdO dA eXPReSSÃO dO MRnA de RecePTOReS de incReTinAS e AVALiAÇÃO dO Índice de APOPTOSe de iLHOTAS de RATO eXPOSTAS À AMiLinA HUMAnA e À LiPOTOXicidAdeOliveira eR1, costal FSL1, Raposo ASA1, Giannella-neto d2, correa-Giannella MLc1
1 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Laboratório de Endocrinologia Celular e Molecular (LIM 25). 2 FMUSP, Laboratório de Investigação Médica (LIM 07), SP, Brasil
Introdução: O depósito de amilina é um achado histopatológico frequente em pacientes portadores de diabetes melito tipo 2 (DM 2) e parece estar relacionado à disfunção da célula-b pancreática carac-terística dessa doença. Os mecanismos que explicam a citotoxicidade da amilina estão apenas parcialmente compreendidos, assim como sua relação com outros fatores deletérios para a ilhota pancreática, tais como a lipo e a glicotoxicidade. O objetivo deste trabalho é es-tudar o efeito dos oligômeros de amilina sobre a expressão dos genes que codificam os receptores de GIP (glucose-dependent insulinotropic
polypeptide – Gipr) e GLP-1 (glucagon-like peptide-1 – Glp1r) e sobre o índice de apoptose de ilhotas pancreáticas de rato mantidas em cultura expostas ou não à lipotoxicidade. Métodos: Ilhotas de ratos Wistar foram mantidas em cultura por 24 horas após o isolamento e, a seguir, tratadas com 10 µM de oligômeros de amilina humana com ou sem 0,5 mM de palmitato, por 48 horas, em condição fisiológica de glicose (5,6 mM). Para os experimentos de análise de expressão gênica, o RNA foi isolado e procedeu-se à quantificação do mRNA de Gipr e Glp1r por RT-qPCR utilizando o sistema Taqman. O índi-ce de apoptose das ilhotas foi avaliado pela quantificação da atividade proteolítica da caspase-3. Resultados: A avaliação da expressão dos níveis de mRNA de Gipr e Glp1r em ilhotas expostas à amilina hu-mana e à lipotoxicidade revelou que o tratamento com oligômeros de amilina foi capaz de modular positivamente a expressão de ambos os receptores, enquanto o palmitato não provocou alterações na ex-pressão desses genes em relação ao grupo controle. A avaliação do índice de apoptose dessas ilhotas demonstrou que a taxa de apoptose celular aumentou quando as ilhotas foram expostas aos oligômeros de amilina, e o índice da apoptose parece ter sido ainda maior após o tratamento simultâneo com palmitato e amilina no período de tem-po avaliado. Discussão: O aumento da expressão do mRNA dos receptores de incretinas em ilhotas tratadas com amilina sugere que este seja um mecanismo de compensação da célula perante os efei-tos deletérios da amilina, uma vez que a ativação desses receptores está relacionada à ativação de vias que estimulam a sobrevivência e a proliferação das células beta. O aumento do índice de apoptose ob-servado em ilhotas expostas à amilina humana e ao palmitato sugere que os ácidos graxos modulem a resposta celular à amilina, poten-cializando seus efeitos deletérios sobre as ilhotas. Apoio financeiro: Bolsa Fapesp 09/03775-8.
052LePTinA inTRAceReBROVenTRicULAR AUMenTA A ATiVidAde dA ciTRATO SinTASe, O nÍVeL de ciTOcROMO c, A ReSPiRAÇÃO MiTOcOndRiAL e A FOSFORiLAÇÃO dA AKT eM MÚScULO eSQUeLÉTicO: A iMPORTÂnciA dO SinAL AdRenÉRGicO e dA ATiVAÇÃO dA JAK2Roman eA1, Arruda AP2, Romanatto T2, Santos GA3, Solon c2, Morarij J2, nuñez ce2, Velloso LA2, Torsoni MA3
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Fisiologia. 2 Unicamp, Fisiopatologia. 3 Universidade Braz Cubas (UBC), Área da Saúde, SP, Brasil
Introdução: A obesidade é o maior problema atual de saúde pú-blica e está associada com o aumentado risco de doenças cardíacas, diabetes melito do tipo II e certos tipos de cânceres. Recentes evi-dências sugerem importante função do hipotálamo no controle da adiposidade, metabolismo da glicose, saciedade e gasto energético. Estudos demonstraram que a injeção de baixas doses de leptina, no hipotálamo, aumenta a captação de glicose e a sensibilidade à in-sulina em músculo esquelético. Entretanto, os mecanismos centrais relacionados à melhora na captação de glicose, induzida pela ação hi-potalâmica da leptina, e as proteínas ativadas no músculo esquelético ainda não são completamente entendidos. O objetivo deste estudo foi investigar os mecanismos pelos quais a leptina (icv) aumenta a captação de glicose e melhora sua homeostase em músculo esque-lético. Métodos: Ratos canulados (250-300 g) foram divididos em três grupos: Controle; Leptina (icv) e Ly294002 + Leptina (icv). Foi realizado ipGTT para determinação da glicose sanguínea, e a insulinemia e a glicemia foram determinadas por meio de kit dispo-nível comercialmente. As proteínas estudadas foram avaliadas pelo método de immunoblot, usando anticorpos específicos. A respiração mitocondrial foi avaliada em fibra de músculo solear, permeabilizada com saponina, em respirômetro de alta resolução (OROBORUS). A atividade da citrato sintase foi avaliada por método espectrofo-tométrico. Resultados: A leptina aumentou em 15% a respiração
S112
ReSUMOS de PÔSTeReS
mitocondrial, em músculo soleus, se comparado ao controle. Tal tratamento aumentou também, no mesmo tecido, a atividade da citrato sintase (80%) e a quantidade de citocromo c (> 50%). A lep-tina também aumentou a fosforilação hipotalâmica da JAK2 (80%), STAT3 (160%) e AKT (300%), e a administração prévia de Ly re-duziu a fosforilação hipotalâmica de AKT, induzida por leptina. A administração de leptina melhorou o clearance da glucose (GTT) em 50%, mas a administração prévia de propranolol (10 mg/kg bw-IP) ou Ly (icv) reduziu esse efeito. Em músculo soleus a fosforilação da AKT, estimulada pela insulina, foi maior (400%) no grupo tra-tado com leptina, mas a administração prévia de propranolol (ip) reduziu (62%) o efeito da leptina sobre a fosforilação dessa proteína. Da mesma maneira que o propranolol, a administração prévia de Ly (icv) reduziu (66%) o efeito da leptina também icv sobre a fosfori-lação da AKT em músculo esquelético. A fosforilação da JAK2, em músculo esquelético, foi maior no grupo tratado com leptina do que no grupo controle. Discussão: Os resultados sugerem que a leptina, agindo centralmente e de maneira aguda, é capaz de estimular o metabolismo oxidativo em músculo esquelético e aumentar o gasto energético. Esse efeito parece ser dependente da ativação de sinais adrenérgicos desencadeados pela leptina, icv, que levam à ativação da AKT, em músculo esquelético. Ainda, acredita-se que a JAK2, em músculo esquelético, seja uma potencial candidata a estimular a ativação da AKT nesse tecido. Financiamento: Fapesp e CNPq.
053inFLUÊnciA dA OBeSidAde e dA ReSiSTÊnciA À inSULinA SOBRe O deSenVOLViMenTO TUMORAL: eFeiTO dA MeTFORMinAFonseca eAi1, Oliveira MA1, carvalho MHc1, Tostes RcA1, Zyngier SZ1, Fortes ZB1
1 Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo (ICB/USP), Farmacologia, SP, Brasil
Introdução: Estudos epidemiológicos têm associado obesidade com uma grande variedade de cânceres. A resistência à insulina e a hi-perinsulinemia podem ser os mecanismos pelos quais a obesidade induz ou promove a carcinogênese. Metformina, uma droga antidia-bética, pode exercer efeito antitumoral importante com a melhora da sensibilidade à insulina ou atuando diretamente sobre uma célula tumoral. Assim, o objetivo desse estudo foi analisar a influência da obesidade e da resistência à insulina sobre o desenvolvimento tu-moral e o efeito da metformina sobre essa condição. Métodos: Para indução da obesidade, ratos Wistar neonatos receberam glutamato monossódico (MSG 4 g/kg) nos dias 2, 3, 4, 5 e 6 após o nasci-mento. Ratos controle receberam o veículo do MSG. Após 16 se-manas, 5 x 105 células provenientes do tumor de Walker-256 foram injetadas subcutaneamente no flanco direito desses ratos e iniciou-se o tratamento com metformina (300 mg/kg, via gavagem, por 15 dias). Os ratos foram divididos em quatro grupos: Controle tumor (CT), Controle tumor tratado com metformina (CTM), Obeso tu-mor (OT) e Obeso tumor tratado com metformina (OTM). Na 18ª semana caracterizou-se a obesidade calculando-se o índice de Lee (peso corporal1/3 (g)/comprimento nasoanal (cm) x 100) e o peso relativo das gorduras periepididimal e retroperitonial e analisando-se o perfil lipídico. A sensibilidade à insulina foi avaliada pelo Kitt (%/min), e a peroxidação lipídica, pela técnica de TBARS. O desen-volvimento tumoral foi avaliado com dados do valor do peso e do volume relativo do tumor. Tanto a pega do tumor como a incidência de caquexia foram avaliadas em porcentagem. O tecido tumoral foi analisado por técnica histológica por meio da coloração com hema-toxilina e eosina. Resultados: A porcentagem de pega (OT 82 vs. CT 54, CTM 56 e OTM 59%, n = 15) e o peso relativo do tumor foram significativamente maiores no grupo OT quando comparado ao grupo CT (OT 8,6 ± 0,8* vs. CT 6,6 ± 0,7, CTM 4,3 ± 0,7 e
OTM 4,9 ± 0,7 g/100 g peso, n = 12). Ambos os parâmetros foram reduzidos pela metformina. A incidência de caquexia foi maior no grupo OT quando comparado aos outros grupos, e a metformina não corrigiu esse parâmetro (OT 73* vs. CT 53, CTM 53 e OTM 71%, n = 15). A metformina não corrigiu a resistência à insulina no grupo OT (Kitt OT 2,39 ± 0,14*, OTM 2,79 ± 0,23*, CT 3,13 ± 0,21, CTM 3,19 ± 0,38%/min, n = 6), entretanto ela corrigiu a dis-lipidemia, reduziu o acúmulo de gorduras periepididimal e retrope-ritonial (OT 2,4 ± 0,11*, OTM 2,15 ± 0,08#, CT 1,32 ± 0,05, CTM 1,00 ± 0,05 g/100 g peso, n = 10 e OT 2,67 ± 0,11*, OTM 2,14 ± 0,13#, CT 1,17 ± 0,08, CTM 0,58 ± 0,065 g/100 g peso, n = 10, respectivamente) e diminuiu a taxa de peroxidação lipídica. Pela aná-lise histológica, observou-se que os tecidos tumorais dos quatro gru-pos analisados foram qualitativamente semelhantes. Como esperado, foram observados adipócitos apenas no tecido tumoral dos ratos dos grupos OT e OTM. Discussão: Pode-se concluir que a metformina foi eficaz em reduzir a porcentagem de pega e o desenvolvimento tumoral, mas não a caquexia presente no grupo obeso. O efeito pa-rece ocorrer independentemente da correção da resistência à insu-lina, uma vez que a sensibilidade à insulina não foi melhorada pelo tratamento com metformina. Apoio: CNPq, Fapesp.
054AVALiAÇÃO de AnOMALiAS FeTAiS eM RATAS cOM diABeTeS GRAVe e MOdeRAdO dURAnTe A PRenHeZSaito FH1, Bueno A1, iessi iL1, dallaqua B1, netto AO1, corvino SB1, Sinzato YK1, Volpato GT1, Rudge MVc1, damasceno dc1
1 Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, Laboratório de Pesquisa Experimental de Ginecologia e Obstetrícia, SP, Brasil
Introdução: Diabetes melito é caracterizada pela presença de hi-perglicemia crônica com distúrbios do metabolismo de carboidra-tos, lipídios e proteínas, que resulta em defeitos na secreção e/ou ação da insulina (ADA. Diabetes Care. 2009;32:S622009). Estudos em humanos que exploram o mecanismo responsável por alterações causadas pelo diabetes são limitados não somente por razões éti-cas, mas também pela multiplicidade de variáveis não controladas que podem modificar o ambiente intrauterino e causar efeitos nas malformações congênitas (López-Soldado & Herrera. Exp Diabesity Res. 2003;4:107). Assim, há necessidade da elaboração de mode-los animais apropriados para melhor entendimento do diagnóstico, patologia e tratamento do diabetes. O objetivo foi avaliar as reper-cussões de diferentes modelos de diabetes induzido por streptozo-tocin (diabetes grave x diabetes moderado) em ratas prenhes e no desenvolvimento de seus descendentes (estudo de anomalias fetais). Método: Ratas Wistar foram distribuídas aleatoriamente em três grupos experimentais: Não diabético (C, n = 13), Diabetes grave (DG, n = 52) e Diabetes moderado (DM, n = 67). Ratas adultas foram acasaladas com ratos não diabéticos. Confirmada a prenhez, as glicemias foram mensuradas nos dias 0, 14 e 21 de prenhez. No 21º dia, as ratas foram mortas para contagem de corpos lúteos, im-plantação e fetos vivos para determinação da taxa de fetos vivos por sítios de implantação. Os fetos foram pesados e analisados para ano-malias externas e internas (esqueléticas e viscerais). Foi adotado p < 0,05 como limite de significância estatística. Resultados: Ratas DG e DM tiveram glicemias elevadas no 0 e 14º dia de prenhez e ratas DG também tiveram hiperglicemia no 21º dia comparadas ao grupo C. O grupo DM apresentou redução no número médio de corpos lúteos, implantação e fetos vivos, e o grupo DG teve número médio reduzido de fetos vivos em relação ao C. Fetos de ratas DG tiveram maior porcentagem de alterações externas, números médios meno-res de pontos de ossificação e maior frequência de anomalias esquelé-ticas e viscerais (hidroureter e hidronefrose) em relação aos grupos C e DM. Fetos de ratas DM também apresentaram maior frequência de
S113
ReSUMOS de PÔSTeReS
anomalias esqueléticas (núcleo cervical com ossificação incompleta e costela supranumerária) e viscerais (ectopia renal e traqueia e tronco pulmonares dilatados) comparados aos fetos C. Discussão: Ratas DG tiveram hiperglicemia em toda a prenhez, reproduzindo a hi-perglicemia presente em algumas mulheres com diabetes clínico não controlado, corroborando com outros estudos realizados em nos-so laboratório (Kiss et al. Diabetol Metab Syndr. 2009;1:21). Essa hiperglicemia promove alterações no meio ambiente intrauterino, levando a um ambiente impróprio para desenvolvimento placentá-rio e embriofetal. Hiperglicemia causa alterações no fluxo sanguíneo placentário e consequente hipóxia fetal, relacionada à inviabilidade de desenvolvimento dos fetos. Isso foi confirmado neste estudo pela presença de recém-nascidos com restrição de crescimento, eviden-ciado por número de pontos de ossificação reduzido. Além disso, alterações no controle glicêmico causaram o aparecimento de ano-malias congênitas esqueléticas e viscerais nos fetos. Agradecimento: Fapesp e Capes.
055ATiVAÇÃO dA MTOR HiPOTALÂMicA e RedUÇÃO de GAnHO de PeSO PeLO USO de eXTRATO de GARCINIA CAMBOGIA eM AniMAiS cOM OBeSidAde indUZidA POR dieTA HiPeRLiPÍdicAnakutis FA1, Silva AP1, Ashino nG1, Leal PB1, Torsoni AS2, Torsoni MA1
1 Universidade Braz Cubas (UBC), Saúde, SP. 2 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Clínica Médica, SP, Brasil
Introdução: A obesidade é uma doença de alta prevalência na so-ciedade moderna e apresenta estreita relação com a hipertensão, do-enças cardiovasculares e diabetes melito do tipo II. Medicamentos tradicionais possuem efeitos colaterais e alto custo; como forma al-ternativa de tratamento, o uso de plantas medicinais tem tido grande aceitação. Nesse sentido, a infusão de Garcinia cambogia (GC), tem sido utilizada há muitos anos para promover a perda de peso. Seu principal componente é o ácido hidroxicítrico, um inibidor da ATP-citrato liase, uma enzima lipogênica. Com base nessas informações, o presente estudo avaliou o efeito do uso do extrato de GC sobre a ingestão de ração, fosforilação e ativação da mTOR e AKT no hi-potálamo e teste de tolerância a glicose. Métodos: Foram utilizados 15 camundongos com cerca de 8 semanas de vida, separados em três grupos. Um grupo com dieta-padrão (C), um grupo com dieta rica em gordura (H) e um grupo com uma dieta rica em gordura asso-ciada com 3% de GC desidratada (HG). As dietas foram oferecidas durante dois meses ad libitum e durante esse período os animais foram pesados semanalmente. No final do tratamento foi realizado o teste de tolerância a glicose intraperitoneal (GTTip), com jejum prévio de 14 horas. A análise das proteínas foi realizada por meio de Western Blot após a extração do tecido de interesse. Resultados: O uso da dieta rica em gordura promoveu um aumento do ganho de peso dos animais do grupo H equivalente a quatro vezes o valor en-contrado no grupo C. A associação da dieta rica em gordura com 3% de GC promoveu redução (35%) no ganho de peso promovido pela dieta hiperlipídica quando comparado ao grupo H. A ingestão de ração não foi diferente entre o grupo H e GG. O teste de tolerância a glicose indicou que os animais tratados com dieta rica em gordura apresentaram significativa intolerância à glicose, que foi prevenida pela dieta complementada com GC. A fosforilação e a ativação da proteína mTOR e AKT no hipotálamo dos animais do grupo HG foram maior que a observada nos animais do grupo C e do grupo H. Discussão: Os resultados indicam que o a Garcinia cambogia possui efeito antiobesidade e melhora a homeostase da glicose. Seu efeito sobre a mTOR e AKT hipotalâmica sugere um papel importante da via AMPK/mTOR desse tecido no controle do gasto energéti-co e do metabolismo periférico exercido pela GC. Apoio: Fapesp e CNPq.
056cOMPARAÇÃO dA SecReÇÃO ReSidUAL de inSULinA enTRe indiVÍdUOS cOM diABeTeS dO TiPO 1 cLÁSSicO e UM cASO de diABeTeS dUPLOValente F1
1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Endocrinologia, SP, Brasil
Introdução: O diabetes duplo (DMD) é caracterizado por hipergli-cemia desencadeada pela coexistência de um processo autoimune e da resistência periférica à insulina, ou seja, uma sobreposição de fenótipos dos diabetes do tipo 1 (DM1) e do tipo 2 (DM2). Mais de 90% dos pacientes com DM1 clássico perdem a secreção residual de insulina em três anos, demonstrada pela queda progressiva dos níveis de peptídeo C para valores muito baixos. Não existem dados na literatura sobre a evolução dessa secreção no DMD. Nesse sentido, são apresentadas a evolução clínica e a função residual da célula b, avaliada pelos níveis séricos de peptídeo C, em 10 anos de seguimento de um paciente com DMD e comparadas com a evolução de um grupo de pacientes com DM1 clássico. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 24 anos, com DM diagnosticado há 10 anos durante episódio de cetoacidose, na época com IMC de 43 kg/m2 (atualmente IMC = 25,4), anticor-pos anti-insulina, antiGAD e anti-IA2 positivos, presença de acantose nigricans cervical e axilar. Manteve bom controle nos cinco primeiros anos com metformina e com insulina em baixas doses após dois anos do diagnóstico. Evoluiu com piora progressiva dos níveis de HbA1c após esse período, sendo necessária insulinização plena apesar de ainda manter secreção residual de insulina. Pacientes e métodos: Foi realiza-da a avaliação retrospectiva de um grupo de oito pacientes com DM1 (cinco do sexo masculino), acompanhados por cinco anos, com média de idade ao diagnóstico de 12,25 ± 4,6 anos e tempo de DM de 8,8 ± 2,8 anos, todos com positividade de anticorpos antiGAD e/ou anti-IA2, porém com média de IMC = 19,75, notadamente inferior ao do caso em questão. Resultados: Enquanto o caso relatado evoluiu com manutenção de reserva pancreática mesmo após 10 anos do diagnósti-co (peptídeo C = 0,5 ng/mL), os pacientes portadores de DM1 apre-sentaram peptídeo C < 0,1 após cinco anos de doença. Além disso, o paciente com DMD evoluiu com hipertensão arterial sistêmica (HAS) em sete anos e seu perfil lipídico mostrou hipertrigliceridemia e HDL baixo (colesterol total = 184; HDL = 28; triglicérides = 152; LDL = 126), semelhante ao perfil de um paciente com DM2, enquanto o grupo de pacientes com DM1 se apresentou com perfil lipídico normal (média dos valores ± DP: colesterol total = 167,5 ± 17; HDL = 53,3 ± 11; triglicérides = 78 ± 17; LDL = 96,25 ± 18). Discussão: Apesar de o paciente com DMD ter manifestado a doença com característi-cas sugestivas de DM1 (cetoacidose, início na adolescência, presença de autoimunidade pancreática), apresentava também sinais comuns aos pacientes com DM2 (obesidade e acantose nigricans). Evoluiu de maneira semelhante ao que ocorre no DM2, com HAS, dislipidemia (aumento de triglicérides e diminuição de HDL), e preservação da fun-ção do pâncreas endócrino. Essa permanência da secreção residual de insulina ao longo de 10 anos de seguimento do paciente com DMD sinaliza para uma lentificação do processo imunológico quando com-parado ao grupo de pacientes com DM1 clássico. Por outro lado, o paciente com DMD apresenta antecipação do aparecimento de fatores de risco para doenças cardiovasculares, como HAS e dislipidemia.
057MOdULAÇÃO de PeROXiRRedOXinAS eM LinHAGenS de cÉLULAS BeTA PROdUTORAS de inSULinA eXPOSTAS A ciTOcinASPaula FMM1, Boschero Ac1, Souza KL2
1 Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Anatomia, Biologia Celular e Fisiologia e Biofísica, Campinas, SP. 2 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, RJ, Brasil
Introdução: As células betapancreáticas são particularmente sen-síveis à ação das citocinas. Sabe-se que o estresse oxidativo e o
S114
ReSUMOS de PÔSTeReS
nitrosativo contribuem para a perda da função e morte celular. As células beta são sabidamente deficientes em enzimas antioxidan-tes, em particular catalase e glutationa peroxidase. Por isso, sis-temas antioxidantes adicionais podem ser de grande importância para sobrevivência dessas células. As peroxirredoxinas são sistemas antioxidantes celulares envolvidos no catabolismo do peróxido de hidrogênio e eliminação de ROS (espécies reativas de oxigênio), podendo, dessa maneira, ser uma alternativa para a célula beta su-prir a deficiência em outras enzimas antioxidantes. O objetivo desse trabalho foi avaliar em nível proteico e gênico a expressão de algu-mas isoformas da família das peroxirredoxinas em linhagem per-manente de células betapancreáticas RINm5F após incubação com citocinas potencialmente semelhantes àquelas encontradas na des-truição dessas células no diabetes (IL-1beta, IFN-gamma e TNF-alfa) separadamente ou em conjunto. Métodos: PCR em tempo real e Western Blot foram utilizados para análises de expressão gê-nica e proteica respectivamente. p < 0.05 foi considerado estatisti-camente significativo. ANOVA seguido de post test de Bonferroni. Resultados: As incubações com IL-1beta e IFN-gamma não mo-dularam a expressão proteica da PRDX1 e PRDX3. Já a expressão proteica da PRDX1 sofreu aumento de 51% ± 21% e 49% ± 14% após a incubação com 185 e 1.850 unidades de TNF-alfa respec-tivamente, por seis horas, na ausência de soro. A expressão gênica da PRDX1 também sofreu aumento de 41% ± 0.1% após incubação com MIX de citocinas pró-inflamatórias, por 24 horas, na presença de soro. Separadamente, as citocinas não provocaram modulações na expressão gênica das isoformas de peroxirredoxinas (PRDX1-6). Discussão: Esses resultados sugerem que a sinalização intracelular desencadeada pelas citocinas IFN-gamma e IL1-beta nas células beta não ocorre por meio da ativação da PRDX1 e PRDX3. Já o TNF-alfa provocou um aumento na expressão proteica, e a com-binação das três citocinas provocou aumento na expressão gênica da PRDX1 nas células beta. Esses resultados são extremamente im-portantes, visto que a PRDX1 em especial, além de possuir ativi-dade antioxidante-peroxidase, também participa na manutenção da sobrevivência celular, sendo inibidor fisiológico da atividade cinase da c-Abl e, dessa maneira, regulando proliferação, diferenciação, adesão celular e apoptose. Assim, é possível sugerir que, além das enzimas antioxidantes catalase, glutationa peroxidase e superóxido dismutase, a nova família de enzimas antioxidantes PRDX, além de participar do balanço redox necessário para sobrevivência celular, também desencadeia possíveis mecanismos de sinalização, regulan-do outros processos celulares. Apoio financeiro: Fapesp.
058denSidAde MineRAL ÓSSeA (dMO) e SÍndROMe MeTABÓLicA eM MULHeReS cOM LiPOdiSTROFiA PARciAL FAMiLiAR TiPO dUnniGAn Pereira FA1, Monteiro LZ1, Foss-Freitas Mc1, Montenegro JR RM2, Foss Mc1
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Clínica Médica, SP. 2 Hospital Universitário, Universidade Federal do Ceará (UFC), Endocrinologia e Metabologia, CE, Brasil
Introdução: A lipodistrofia parcial familiar tipo Dunnigan (LPFD) é caracterizada pela diminuição progressiva do tecido adiposo nas extremidades e tronco e acúmulo de gordura na cabeça, pescoço e tecido adiposo visceral e está associada com diabetes, dislipidemia e doenças cardiovasculares, compondo a síndrome metabólica (SM). A diminuição da densidade mineral óssea (DMO) é um fator de risco para fraturas. A associação entre a lipodistrofia e alterações no metabolismo ósseo não são completamente compreendidas. Assim, nosso estudo teve como objetivo comparar a síndrome metabólica com relação às variáveis da DMO em mulheres com lipodistrofia
parcial familiar tipo Dunnigan. Métodos: Estudo de abordagem quantitativa, descritivo e transversal, com 18 mulheres diagnosti-cadas com lipodistrofia parcial familiar tipo Dunnigan, sendo 12 mulheres com SM e 6 sem SM, em que foram verificadas as vari-áveis antropométricas (peso, altura, IMC e circunferência abdo-minal), pressão arterial e exames laboratoriais (glicemia em jejum, HDL e triglicérides). Foram avaliadas a DMO de coluna total (L1-L4), colo femoral, quadril total e antebraço e composição corporal (CC), porcentagem de gordura por meio de DXA (Hologic 4500 W). Resultados: As mulheres com LPFD e com SM apresentaram idade = 38,9 ± 11 anos, peso = 64,2 ± 11,5 kg, altura = 1,61 ± 0,08 m, IMC = 25,5 ± 3,6 kg/m2, circunferência abdominal = 84,0 ± 11,0 cm, PAS = 133 ± 14 mmHg/PAD = 87 ± 90 mmHg, glice-mia = 157,7 ± 72,50 mg/dl, HDL = 39,5 ± 5,47 mg/dl e triglicé-rides = 352,1 ± 182,9 mg/dl e as com LPFD sem SM apresentaram idade = 29,1 ± 13 anos, peso = 62,4 ± 19,2 kg, altura = 1,62 ± 0,05 m, IMC = 23,4 ± 5,3 kg/m2, circunferência abdominal = 77,3 ± 10,6 cm, PAS = 116 ± 13 mmHg/PAD = 72 ± 07 mmHg, glicemia = 79,3 ± 4,63 mg/dl, HDL = 39,8 ± 12,19 mg/dl e triglicérides = 146,6 ± 64,7 mg/dl. Observou-se que, quando se comparam DMO de quadril total (LPFD com SM = 0,865 ± 0,11 g/cm2 vs. LPFD sem SM = 0,897 ± 0,08 g/cm2 p = 0,55), antebraço (LPFD com SM = 0,602 ± 0,05 g/cm2 vs. LPFD sem SM = 0,646 ± 0,06 g/cm2 < 0,04 p = 0,22), coluna total (LPFD com SM = 0,984 ± 0,15 g/cm2 vs. LPFD sem SM = 1,013 ± 0,16 g/cm2 p = 0,75), colo femoral (LPFD com SM = 0,771 ± 0,13 g/cm2 vs. LPFD sem SM = 0,844 ± 0,11 g/cm2 p = 0,24), BMD subtotal (LPFD com SM = 0,860 ± 0,07 g/cm2 vs. LPFD sem SM = 0,894 ± 0,12 g/cm2
p = 0,64), a porcentagem de gordura também não revelou diferen-ça significativa. Discussão: Neste estudo procurou-se comparar a DMO em mulheres com LPFD com SM e sem SM e verificou-se que a presença ou não da SM não influencia na DMO. Em outros estudos observou-se que indivíduos com SM têm DMO mais alta na região lombar e colo femoral. Estudos reportam que a SM tem efeito positivo na DMO.
059AVALiAÇÃO dA denSidAde MineRAL ÓSSeA (dMO) e A inGeSTÃO de cÁLciO e FÓSFORO eM MULHeReS cOM LiPOdiSTROFiA TiPO dUnniGAn Pereira FA1, Monteiro LZ1, navarro, AM1, Foss-Freitas Mc1, Montenegro JR RM2, Foss Mc1
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Clínica Médica, SP. 2 Hospital Universitário, Universidade Federal do Ceará (UFC), Endocrinologia e Metabologia, CE, Brasil
Introdução: A lipodistrofia parcial familiar tipo Dunnigan (LPFD) é caracterizada pela diminuição progressiva do tecido adiposo nas extremidades e tronco e acúmulo de gordura na cabeça, pescoço e tecido adiposo visceral e está associada com diabetes, dislipide-mia e doenças cardiovasculares. A mineralização óssea é de extre-ma importância por ser responsável pela integridade estrutural do esqueleto, que, por sua vez, é o maior reservatório do íon cálcio e fosfato, na ordem de 99% e 90%, respectivamente. O objetivo foi verificar a correlação entre densidade mineral óssea (DMO) e a ingestão de cálcio e fósforo em mulheres com lipodistrofia parcial familiar tipo Dunnigan. Métodos: Estudo de abordagem quantita-tiva, descritivo e transversal, com 18 mulheres diagnosticadas com lipodistrofia parcial familiar tipo Dunnigan e 18 mulheres controles (GC), em que foram verificadas as variáveis antropométricas (peso, altura, IMC e circunferência abdominal). Foram avaliadas a DMO de coluna total (L1-L4), colo femoral, quadril total e antebraço. A ingestão de cálcio e fósforo foi avaliada por recordatório alimen-tar de três dias. Resultados: As mulheres com LPFD apresentaram
S115
ReSUMOS de PÔSTeReS
(idade = 35,6 ± 13 anos, peso = 64,7 ± 14,1 kg, altura = 1,61 ± 0,07 m, IMC = 24,8 ± 4,2 kg/m2, circunferência abdominal = 81,8 ± 11,1 cm vs. GC idade = 35,6 ± 13 anos, peso = 63,9 ± 12,4 kg, altura = 1,62 ± 0,07 m, IMC = 24,4 ± 4,8 kg/m2, circunferência abdominal = 78,5 ± 12,5 cm). A DMO de quadril total (LPFD = 0,875 ± 0,10 g/cm2 vs. GC = 0,894 ± 0,09 g/cm2), antebraço (LPFD = 0,616 ± 0,06 g/cm2 vs. GC = 0,650 ± 0,04 g/cm2), co-luna total (LPFD = 0,994 ± 0,14 g/cm2 vs. GC = 1,011 ± 0,12 g/cm2) e colo femoral (LPFD = 0,795 ± 0,18 g/cm2 vs. GC = 0,810 ± 0,83 g/cm2), BMD subtotal (LPFD = 0,872 ± 0,08 g/cm2 vs. GC = 0,889 ± 0,78 g/cm2) e porcentagem de gordura (LPFD = 23,51 ± 9,5% vs. GC = 36,02 ± 6,1%). As mulheres com LPFD apresen-taram (ingestão de cálcio = 510 mg vs. GC = 721 mg/ingestão de fósforo = 1.086 mg vs. GC = 1.142 mg). A associação entre o con-sumo de cálcio e fósforo com as variáveis da DMO não apresenta significância estatística (p > 0,05). Discussão: Neste estudo obser-vou-se que as mulheres LPFD apresentaram ingestão diminuída de cálcio e fósforo dietética quando comparadas ao GC. Os resultados enfatizam a necessidade de reforçar uma adequada ingestão dieté-tica de cálcio e adotar hábitos comportamentais saudáveis, como a prática de exercício físico, a fim de prevenir ou minimizar os efeitos espoliantes da massa óssea com a idade. O consumo habitual de cálcio e fósforo nas mulheres pesquisadas revelou-se insuficiente na totalidade delas, o que refletirá na baixa densidade do mineral na dieta diária. Os resultados permitem depreender que o padrão de consumo alimentar relativo a cálcio e fósforo na população es-tudada é um dado importante para consolidar a propensão à osteo-porose em idosos.
060eFFecTS OF diABeTeS And PReGnAncY in UReTHRAL STRiATed MUScLe OF RATSMarini G1, Barbosa AMP1, damasceno dc1, Matheus SMM2, castro RA3, Souza ccc3, Haddad JM4, Rudge MVc1
1 Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Ginecologia e Obstetrícia. 2 Unesp, Instituto de Biociências, Botucatu. 3 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Ginecologia. 4 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Uroginecologia, SP, Brasil
Introduction: Diabetes melito during pregnancy was associated with high levels of urinary incontinence (UI) and pelvic floor mus-cle dysfunction two years after cesarean section (Barbosa, 2006) and the UI is a debilitating disorder caused by malfunctioning of the urethral sphincter (Morgan J Urol, v. 182, p. 213, 2009). Therefore the aim of this study was to evaluate the morphologi-cal alterations of the urethral striated muscle in diabetic pregnant rats that were underwent cesarean section to better understand the influences of diabetes and pregnancy. Methods: Twenty female Wistar rats were distributed in four experimental groups (n = 5/group): virgin (control), pregnant (control), diabetic virgin (con-trol), and diabetic pregnant. Diabetes was induced by streptozoto-cin administration. The rats were lethally anesthetized and the ure-thra and vagina were extracted as a unit. Cryostat sections of 6-µm thickness were cut and stained with hematoxilin-eosin (H&E) for morphological analysis. Results: In comparison with muscle from the three control groups, urethral striated muscle from diabetic pregnant rats presented with the following variations: thinning and atrophy, disorganization and disruption. Discussion: This specific loss of skeletal muscle mass is referred to as diabetic myopathy (Krause J Appl Physiol v. 106, p. 1650, 2009). This study confirms previous findings that diabetic myopathy and pregnancy may be involved in the pathogenesis of UI and pelvic floor muscle dysfunc-tion in women with previous gestational diabetes mellitus. Financial support: Fapesp (2008/00989-4).
061cOMPOSiÇÃO BiOQUÍMicA e iMUnOLÓGicA dO cOLOSTRO eM MULHeReS cOM diABeTe GeSTAciOnALMorceli G1, França eL2, Magalhães VB1, damasceno dc1, calderon iMP1, Honorio AcF1
1 Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Programa de Pós-graduação em Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia, Botucatu. 2 Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Barra do Garças, Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde/CUA, MT, Brasil
Introdução: O aleitamento materno protege a criança contra várias infecções e muitos outros tipos de doenças, entre elas o diabetes. As mulheres diabéticas têm sido estimuladas a amamentar (Schmi-dt, Arq Bras Endocrinol Metab. 1999;43:14) pela possibilidade de redução do risco de diabetes em seus filhos (Ryan, Med Clin North AM. 1998;82:823). As mudanças que ocorrem nos componentes do colostro dessas mulheres ainda não estão definidas na literatura. Propõe-se avaliar a composição bioquímica e imunológica do co-lostro de mulheres diabéticas. Método: Amostras de colostro e de sangue foram coletados de 30 puérperas com diagnóstico de dia-betes gestacional, confirmado pelo GTT100g (teste de tolerância à glicose com 100 g de glicose) (ADA, Diabetes Care. 2009;32:S-62) associado ao perfil glicêmico (PG) (Rudge. Braz J Med Biol Res. 1990;23:1079), e de 15 puérperas normoglicêmicas. Foram avaliados no colostro e no soro das 45 mulheres incluídas: glicose (glicose oxidase), proteínas totais (espectrofotometria a 545 nm), imunoglobulinas A, G e M (IgA, IgG e IgM) (imunodifusão ra-dial quantitativa/RID), proteínas do sistema complemento (C3 e C4) (método de turbimetria), porcentagem (%) de gorduras e calorias (kcal) (método do crematócrito) e amilase e lipase (mé-todo colorimétrico). Na análise estatística empregou-se Two-Way ANOVA (análise de variância), com p < 0,05. Resultados: Foram estatisticamente significativos: (1) os níveis de glicose, maiores no colostro (147 vs. 69 mg/dl) e no soro (122 vs. 76 mg/dl) das mães diabéticas; (2) as concentrações de IgA (298,6 vs. 397,8 mg/dl) e IgG (71 vs. 169,8 mg/dl), menores no colostro, e de IgM (34,5 vs. 35,7 mg/dl), menor no soro das mães diabéticas; (3) os níveis de C3, menores no colostro de mães diabéticas (142,5 vs. 164,2 mg/dl); (4) a concentração de gordura (1,43 vs. 6,17%), menor no colostro de mães diabéticas, sem diferenciação no valor calórico; (5) a concentração de lipase, maior no colostro (8,5 vs. 5,8 UI) e soro (9,3 vs. 4,8 UI) de mães diabéticas. Discussão: A composição do colostro de mães diabéticas foi diferente da observada em mães normoglicêmicas e se relacionou às avaliações séricas. A glicose ele-vada no colostro dessas mães determinou alterações bioquímicas e imunológicas, em especial, relacionadas à menor proporção de gorduras e níveis inferiores de IgA, IgG e C3. Esses resultados, inéditos em mães diabéticas, sinalizam a menor proteção imuno-lógica aos recém-nascidos de mães diabéticas e valorizam o aleita-mento nessas condições. As mulheres portadoras de diabetes devem ser fortemente incentivadas a amamentarApoio financeiro: Fapesp (2008/09187-8) e FAPEMAT (735593/2008; 453387/2009)/Bolsa de doutorado Fapesp (2009/01188-8).
062OBeSiTY indUced ABnORMAL inFLAMMATORY ReSPOnSe dRiVeS AcceLeRATed GROWTH in PROSTATe cAnceR XenOGRAFTSRocha GZ1, dias MM1, Ropelle eR1, costa FO1
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Clínica Médica, SP, Brasil
Obesity is associated with increased predisposition to some can-cers, aggressiveness of others, insulin resistance/hyperinsulinemia
S116
ReSUMOS de PÔSTeReS
as well as a state of abnormal inflammatory response. Recent study focusing on prostate cancer has shown that obesity is an important adverse prognostic factor. However, the molecular mechanisms in-volved in the increased aggressiveness of prostate cancer in obese individuals are still unknown. In order to investigate the effects of inflammation and hyperinsulinemia induced by high-fat diet (HFD) on prostate cancer growth, severe combined immunode-ficiency (SCID) mice fed a control or HFD for eight weeks were injected subcutaneously with PTEN positive (DU145) and PTEN negative (PC-3) prostate cancer cell lines. Here, we show that obese mice experienced a higher tumor growth of both DU145 and PC-3 xenografts compared to the control group. Xenografts of mice fed a HFD show an increase in IkB kinase complex and c-Jun NH2 terminal kinase activity, which is prevented by blocking TNF-alfa. Interestingly, pharmacological blockade of TNF-alfa in HFD mice was effective to reduce tumor growth induced by HFD to control levels of both DU145 and PC-3 xenografts. In addition, we show that DU145, when grown as tumor xenografts in mice, are sensitive to the reduction of hyperinsulinemia induced by octre-otide treatment, whereas PC-3 cells, that presents a constitutive ac-tivation of PI3K, are resistant. Thus, the present study documents that low grade inflammatory response observed in obesity, in an insulin sensitivity independent manner, drives the growth of pros-tate cancer xenografts.
063AGinG iS ASSOciATed TO cALciUM SiGnALinG ALTeRATiOnS And MiTOcHOndRiAL dYSFUncTiOn in iSLeTS OF LAnGeRHAnS OF SeneScenT RATScoelho FM1, Machado SM1, Tufik S2, Smaili SS1, Lopes GS1
1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Departamento de Farmacologia. 2 Unifesp, Psicobiologia, SP, Brasil
Introduction: Aging is associated to pancreatic β-cell dysfunction with a decreased of insulin secretion that might help explain the high prevalence of diabetes in the elderly. Cumulative damaging effects of reactive oxygen species (ROS), altered Ca2+ regulation and mitochondrial dysfunction can contribute to changes in insulin secretion observed with aging. Objective: The aim of the present study was to reveal the possible interaction of Ca2+ signaling altera-tion, ROS production and mitochondrial alterations in pancreatic islets of senescent rats. Methodology: Pancreatic islet of senes-cent rats (24 month) was isolated, incubated with fura-2 AM to measure the changes in cytosolic Ca2+ by fluorescence microscopy in response to glucose, ACh and FCCP. To assess mitochondrial metabolic activity and ROS production it was acquired NAD(P)H autofluorescence and H2DCFDA fluorescence using the confo-cal microscope. The qualitative variations in islet mitochondrial membrane potential gradient were estimated using the indicator TMRE. Ultrastructure of mitochondria was evaluated by electron microscopy. Results: Ca2+ transient in response to ACh (100 μΜ) and FCCP (5 μM) were reduced in senescent islet. These results suggest that Ca2+ store is altered by aging, indicating a reduced mitochondrial Ca2+ buffering capacity. It was observed a smaller amplitude of NAD(P)H autofluorescence and a greater production of ROS in senescent islets. The electron microscopy showed mor-phological mitochondria changes with appearance of degeneration. Conclusions: The present work showed a reduced mitochondrial Ca2+ buffering capacity that could be a result of an altered threshold value of activation of Ca2+ uptake, interrelated with a low mito-chondrial metabolism activity, ROS accumulation and ultrastruc-ture alterations in the elderly.
064ReSiSTÊnciA HePÁTicA A inSULinA nA PROLe de cAMUndOnGOS APÓS USO MATeRnO de dieTA HiPeRLiPÍdicA: O enVOLViMenTO dO eSTReSSe de ReTÍcULO endOPLASMÁTicOMartins Jc1, Ashino nG1, duart A1, nakutis FA1, Melo AM1, Leal PB2, Torsoni AS3, Torsoni MA4
1 Universidade Braz Cubas (UBC), Ciências Biológicas. 2 UBC, Farmácia. 3 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Clínica Médica. 4 UBC, Saúde, SP, Brasil
Introdução: A obesidade é uma condição precursora de diversas doen ças vasculares e metabólicas. Estudos sugerem que o ambiente de desenvolvimento fetal pode modular o metabolismo da prole; assim, o uso de dieta rica em gordura de origem animal durante a gestação e a lactação podem promover na prole um ajuste metabólico chamado perfil econômico, ou imprint metabólico. Atualmente, é conhecido que o estresse de retículo endoplasmático (ERE) participa da ativação de uma resposta que pode desencadear, entre outros efeitos, a produ-ção de citocinas pró-inflamatórias e o desenvolvimento de resistência a insulina. Até o momento não existem relatos da ativação de proteínas de ERE na prole de camundongos após o uso materno de dieta rica em gordura animal. Objetivos: Este estudo tem como objetivo ava-liar a ativação de proteínas marcadoras de ERE e de serina-quinases, que podem estar relacionadas com a resistência a insulina na prole de camundongos após o uso materno de dieta rica em gordura animal. Métodos: Foram utilizadas as proles (28 dias de vida) de camundon-gos após uso materno (gestação e lactação) de dieta-padrão (PC) e de dieta hiperlipídica (PH). Inicialmente, foram analisados os seguintes parâmetros: peso de nascimento, peso do adiposo epididimal, ácido graxo livre no soro e teste de tolerância a glicose. No hipotálamo e no fígado foram avaliadas a fosforilação das proteínas AKT, JNK, PERK, ELF2a, IRE1a pela técnica de Western Blot. Resultados: O peso dos animais do grupo PH com 24 horas de vida foi superior (36%) ao peso dos animais do grupo PC. A tolerância a glicose foi maior no grupo controle (70%) comparado ao grupo PH. O nível de ácido graxo circulante e a glicemia de jejum foram maiores no grupo PH que no grupo PC (25% e 33%, respectivamente). A fosforilação da AKT estimulada por insulina, tanto no fígado como no hipotálamo, foi menor no grupo PH, comparado ao grupo PC. A serina-quinase JNK está mais fosforilada no fígado e hipotálamo do grupo PH, assim como as proteínas PERK, ELF2a e IRE1a. Discussão: A maior ati-vação das proteínas PERK, ELF2a, e IRE1a é uma indicação do ERE que pode ativar a proteína JNK, como observado em nosso modelo. A JNK é uma proteína capaz de fosforilar o aminoácido SER307 da proteína IRS-1, reduzindo, dessa maneira, a sinalização da insulina no tecido. A prole do grupo PH também apresentou maior deposição de gordura no fígado, um sinal característico de resistência hepática a insulina, comprovada pela menor ativação da AKT. Assim, nossos resultados sugerem que o uso materno de dieta rica em gordura du-rante a gestação e lactação pode desencadear o ERE na prole, levando a danos metabólicos importantes para o período pós-natal.
065HOMeOSTASe GLicÊMicA e OSciLAÇÕeS de cÁLciO eM iLHOTAS PAncReÁTicAS de cAMUndOnGOS KNOCKOUT PARA O RecePTOR de LdL (LdLR-/-) Souza Jc1, Ribeiro RA1, Vanzela ec1, dorighello GG1, Oliveira cAM1, carneiro eM1, Boschero Ac1
1 Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Departamento de Anatomia, Biologia Celular, Fisiologia e Biofísica, SP, Brasil
Introdução: Pesquisas recentes sugerem que alterações nos níveis celulares de colesterol estão envolvidas com modificações na secre-
S117
ReSUMOS de PÔSTeReS
ção de insulina estimulada pela glicose (GSIS). Neste estudo foram investigados os efeitos da hipercolesterolemia genética na home-ostasia glicêmica e na dinâmica intracelular de cálcio em ilhotas de camundongos knockout para o receptor de LDL (LDLR-/-). Mé-todos: Foram utilizados camundongos machos LDLR-/- e wild type (WT), com 5 meses de idade, alimentados com dieta comercial padrão e água ad libitum. A homeostasia glicêmica foi analisada uti-lizando o teste de tolerância oral à glicose (oGTT) (analisador de glicose, Accu-Chek Performa®). Os parâmetros bioquímicos coles-terol total (COL), triglicerídeos (TG), ácidos graxos livres (AGL) e insulina plasmática foram medidos por kits comerciais. O conteúdo de colesterol nas ilhotas foi quantificado pelo método fluorimétrico Amplex Red (molecular Probe). A dinâmica intracelular de cálcio em resposta ao estímulo com glicose (11 mM) foi avaliada utilizan-do um marcador fluorescente de cálcio (fura-2AM). Os resultados foram expressos como média ± desvio-padrão, analisados pelo teste t-student p < 0,05. Resultados: A glicemia de jejum, assim como do alimentado, foi maior no grupo LDLR-/- em relação ao grupo WT. A insulinemia de jejum foi significativamente inferior nos camun-dongos LDLR-/-, em comparação aos WT. O teste de tolerância a glicose (oGTT) mostra que a área sob a curva glicêmica foi maior no grupo LDLR-/-, quando comparado ao grupo WT (24.955 ± 1.302 vs. 16.873 ± 395 respectivamente; p < 0,001; n = 8-10). Camundongos LDLR-/- apresentaram maior peso da gordura perigonadal que os WT (0,34 ± 0,02; 0,26 ± 0,02 p < 0,05). Camundongos LDLR-/- apre-sentaram níveis de colesterol e triglicérides 2,5 vezes maiores que os camundongos WT e não foi observada diferença estatística nos níveis de AGL. O colesterol nas ilhotas de camundongos LDLR-/- é 32% maior do que nos camundongos WT (3.69 ± 0.42 vs. 2.80 ± 0.062 pg/10 ilhotas, respectivamente, n = 5, p = 0.031). Ilhotas de animais LDLR-/- estimuladas com 11 mM de glicose mostram menor amplitude das oscilações de cálcio quando comparadas às dos animais WT. Conclusão: Esses resultados indicam que a hiperglice-mia dos camundongos LDLR-/- é, pelo menos em parte, provocada por defeitos na movimentação de cálcio. Suporte financeiro: Fapesp, CNPq e Capes.
066diABÉTicOS eM inSULinOTeRAPiA – MeLHOR cOnTROLe GeRAL PÓS-FReQUÊnciA A PROGRAMA de edUcAÇÃO eM diABeTeS cOM ATiVidAdeS FÍSicAS ORienTAdASdullius J1
1 Universidade de Brasília (UnB), Programa Doce Desafio, DF, Brasil
Introdução: Diabéticos em insulinoterapia apresentam geralmente pior nível de controle e necessitam de maior grau de detalhamento para ajustes em seu tratamento. Educação em saúde e exercícios físi-cos são parte do tratamento de diabetes. Um programa orientado de atividades físicas poderia ser um meio ótimo de acompanhamento e orientação. Objetivo: Verificar resultados com diabéticos adultos em insulinoterapia participantes de programa de Educação em Diabetes por meio de Educação Física acompanhada. Metodologia: Popu-lação de 30 diabéticos (idade: 30 ± 12, tempo diagnóstico: 11 ± 8 anos), estando ainda ou não mais frequentes ao programa, responde-ram por autorrelato autônomo questionário estruturado abrangen-do seis grandes áreas de Educação em Diabetes. As respostas duplas, referentes aos momentos antes e após ingresso no programa, foram alocadas em escala intervalar proporcional, analisadas estatisticamen-te e comparadas a um modelo ideal. Tese aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FS-UnB. Resultados: Variações percen-tuais positivas muito significativas ilustram efetiva melhora nas 37 variáveis avaliadas e confirmam a hipótese: – aspectos clínicos: “Co-nhecimento sobre ação das insulinas exógenas que utiliza” ( 164%); “Nível de aproveitamento nas consultas à equipe de saúde” ( 84%);
– controle glicêmico: “Adequação do esquema de insulinização para manutenção do modo de vida” ( 118%); “Capacidade para mane-jar aspectos interferentes sobre glicemia” ( 116%); “Eventos hiper e hipoglicêmicos severos” (redução 114%); – alimentação: “Seguran-ça no consumo de açúcares” ( 187%), “Observação dos nutrientes presentes nas refeições” ( 180%); “Capacidade para distinguir efeitos de tipos e quantidades de carboidratos” ( 138%); – atividades físi-cas: “Aprendizado de efeitos glicêmicos em distintas condições de exercícios” ( 141%); “Capacidade de avaliar ajustes glicêmicos para atividades físicas” ( 140%); – autocuidados: “Transporte constante do glicosímetro consigo” ( 290%); “Disponibilidade de glucagon e pessoal treinado para usá-lo” ( 332%); “Capacidade para ajuste in-sulínico” ( 205%); “Frequência de monitoração glicêmica” ( 182%); “Aspectos que observa em autocuidados” ( 88%); – conhecimento e vivência: “Nível de conhecimentos sobre DM” ( 111%); “Compre-ensão e confiança no tratamento” ( 94%); “Motivação para buscar longevidade e qualidade de vida” ( 80%). Conclusão: Considerando que 40% do grupo não mais frequentavam o programa quando da coleta de dados, observa-se que esse foi muito eficaz em promover mudanças positivas permanentes em comportamentos para o con-trole da DM, sendo indicado para melhorar o controle em diabetes.
067ReSPOSTAS AGUdAS dA GLiceMiA APÓS PRÁTicA ORienTAdA de eXeRcÍciOS FÍSicOS eM diABÉTicOS TiPO 2 dullius J1, carmen SG2, Rauber SB3
1 Universidade de Brasília (UnB), Programa Doce Desafio. 2 Universidade Católica de Brasília (UCB), Educação Física. 3 UnB/UCB, Programa Doce Desafio/Educação Física, DF, Brasil
Introdução: Diabetes é uma doença metabólica caracterizada pela elevação da glicose sanguínea, considerada um crescente problema de saúde pública mundial. Uma única sessão de exercício moderado reduz consideravelmente os níveis plasmáticos de glicose. Objetivo: Analisar as respostas agudas da glicemia após a prática orientada de exercícios físicos em diabéticos tipo 2 e verificar se a participação em programa contínuo conduz à manutenção gradativa de níveis mais baixos de glicemia. Métodos: 54 diabéticos (10 homens, 44 mulheres; 62,7 ± 8,7 anos) participantes de um programa de edu-cação em diabetes com prática orientada de exercício físico 2 x/sem. durante 50 min (envolvendo atividades como caminhada, trei-namento contra resistência e atividades recreativas). A glicemia foi mensurada antes e depois de 25 min após exercício em cada visita, utilizando-se glicosímetro portátil (a partir de uma gota de sangue da polpa digital). Os dados correspondem à glicemia pré-exercício (pós-prandial) e pós-exercício (30 min após término da prática) de oito sessões sucessivas de exercício físico. Teste t de Student foi em-pregado para comparação dos resultados, e o nível de significância p ≤ 0,05 foi adotado. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FS-UnB. Resultados: Observou-se queda significativa (p < 0,05) da glicemia após exercício em todos os momentos: 1ª sessão (146 ± 50 vs. 129 ± 48 mg/dl); 2ª sessão (137 ± 43 vs. 111 ± 32 mg/dl); 3ª sessão (133 ± 48 vs. 113 ± 31 mg/dl); 4ª sessão (135 ± 43 vs. 118 ± 32 mg/dl); 5ª sessão (138 ± 44 vs. 110 ± 35 mg/dl); 6ª sessão (135 ± 36 vs. 107 ± 32 mg/dl); 7ª sessão (135 ± 42 vs. 110 ± 33 mg/dl); 8ª sessão (135 ± 40 vs. 107 ± 30 mg/dl). Os resultados apresentaram média de p = 0,0125 (de 0,0002 [8ª sessão] a 0,0703 [1ª sessão], mediana de p = 0,0015). Conclusão: Participar de um programa orientado de exercícios físicos por 50 min reduz a gli-cemia significativamente, podendo conferir consideráveis benefícios para indivíduos portadores de diabetes tipo 2. Destaca-se que houve queda gradual e significativa das glicemias tanto pré-exercício (de chegada), o que indica melhor controle geral da condição, quanto pós-exercício.
S118
ReSUMOS de PÔSTeReS
068inFLUÊnciA de UM PROGRAMA de ATiVidAde FÍSicA MOdeRAdA nA GLiceMiA e PeRFiL LiPÍdicO de MULHeReS diABÉTicASchiyoda A1, nakamura PM1, Almeida LeMe JA1, Kokubun e1, Luciano e1
1 Instituto de Biociências, Departamento de Educação Física, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Pós-graduação em Biodinâmica da Motricidade Humana, Unesp, SP, Brasil
Introdução: O diabetes melito (DM) representa um problema de importância crescente em saúde pública. Sua incidência e prevalên-cia estão aumentando, alcançando proporções epidêmicas em todo o mundo. Por outro lado, sabe-se que a prática regular de atividades físicas tem um papel importante na prevenção e no tratamento do DM, pois pode prevenir a incidência da doença e retardar seus efei-tos no organismo, trazendo melhoras nos aspectos metabólicos como controle glicêmico, diminuição da resistência à insulina e prevenção da doença cardiovascular. Diante disso, o objetivo do estudo foi in-vestigar a influência de um programa de atividade física moderada na glicemia e perfil lipídico (colesterol, LDL, HDL e triglicerídeos) em mulheres diabéticas. Métodos: A população foi composta por mulhe-res diabéticas do tipo 2 com idade acima de 40 anos, distribuídas em dois grupos: sedentárias (S) e treinadas (T). O grupo S foi constitu-ído por 16 mulheres diabéticas com baixos níveis de atividade física. O grupo A foi constituído de 23 mulheres diabéticas que participam do projeto de extensão “Atividade Física para Diabéticos e Hiper-tensos” há mais de seis meses. O treinamento foi composto por duas sessões semanais de atividades físicas de intensidade moderada. Cada sessão teve a duração de 60 minutos, sendo 45 minutos para cardior-respiratórios (caminhadas e atividades lúdicas) e exercícios neuromo-tores (força, agilidade, equilíbrio, flexibilidade e coordenação), e 15 minutos para aquecimentos, alongamentos, volta à calma e orienta-ções. Foram realizadas as seguintes análises bioquímicas: glicose, co-lesterol total, lipoproteínas de baixa densidade (LDL), lipoproteínas de alta densidade (HDL), triglicerídeos (TG). Para verificar a ho-mogeneidade dos dados, foi utilizado o teste Kolmogorov Smirnov. Para as variáveis que não apresentaram dados normais, foi utilizado o teste Mann-Whitney e, para as variáveis que apresentaram dados normais, foi utilizado o teste T para amostras independentes. Todas as análises foram realizadas no programa Statistical versão 6.0, com o nível de significância p < 0,05. Resultados: Glicose (T: 151,6 ± 74,7; S: 139,6 ± 67,3), HDL (T: 54,1 ± 18,8; S: 57,0 ± 25,0) e TG (T: 131,0 ± 83,6; S: 140,9 ± 65,6) não apresentaram dados normais e não houve diferença estatística entre o grupo T e S (p > 0.05). O colesterol e LDL apresentaram dados normais. O colesterol (T: 192,0 ± 38,6; S: 161,5 ± 29,1) e o LDL (T: 123,1 ± 36,2; S: 98,1 ± 33,1) apresentaram valores maiores no grupo T do que no grupo S. Discussão: Diante dos resultados encontrados é possível observar que o treinamento físico não foi capaz de alterar glicemia, HDL e TG. Isso provavelmente deve-se ao tipo de atividade física realizada, que foi moderada. Por outro lado, o colesterol e o LDL apresentaram va-lores maiores no grupo T, apesar de ambos estarem dentro dos valores recomendados (ADA, 2005). Essa diferença pode estar relacionada à ausência de controle alimentar dos alunos durante o programa, visto que esse é imprescindível para redução desses parâmetros. Referência: 1. American Diabetes Association (ADA). Diabetes Care. 2004;27:5.
069eFeiTO dO cOnSUMO cRÔnicO de FRUTOSe nA TOLeRÂnciA ORAL A GLicOSe e nA SenSiBiLidAde À inSULinABotezelli Jd1, Moura LP1, cambri LT1, Ghezzi Ac1, dalia RA1, Arantes L1, Mello MAR1
1 Universidade Estadual Paulista (Unesp), Educação Física, SP, Brasil
Introdução: Desde a década de 1970, o consumo de frutose aumen-tou em aproximadamente 500% nos países desenvolvidos. Esse ado-çante, quando consumido em grandes quantidades, causa efeitos de-
letérios a longo prazo. Dessa forma, é de grande importância buscar as alterações causadas pela ingestão em excesso de frutose. Objetivo: Na busca de um modelo animal apropriado para o estudo do papel do exercício no desenvolvimento da intolerância à glicose e diminuição da sensibilidade à insulina, o presente estudo visou analisar os efeitos do treinamento de caráter aeróbio sobre a cinética da glicemia e da sensibilidade à insulina (por meio da constante de desaparecimento da insulina Kitt) durante o teste de tolerância oral à glicose e a área sob a curva da glicemia dos animais, mantidos com dieta rica em frutose dos 120 aos 150 dias, que têm sido empregados como modelo experimen-tal da síndrome metabólica humana. Método: Dezesseis animais (ratos Wistar) foram mantidos em biotério climatizado em gaiolas coletivas (4 ratos por gaiola) e alimentados com ração peletizada Purina® do des-mame aos 120 dias. Nesse ponto, eles foram separados aleatoriamente em dois grupos distintos (Controle e Frutose). O grupo controle foi constituído de oito animais que continuaram a ingerir dieta balance-ada, enquanto o grupo F foi submetido à ingestão de dieta rica em frutose durante 30 dias (120 aos 150 dias). Os testes foram realizados aos 120 e 150 dias e mediante administração por via oral de glicose diluída em água (na dosagem do peso/400 g) nos animais, após 12 horas de restrição alimentar. O sangue foi coletado a partir de punção caudal 0, 30, 60 e 120 minutos após a ingestão de frutose para as do-sagens de glicose e triglicerídeos dele. Resultados: Glicemia grupo C aos 120 dias: t0 = 71,1 ± 6,82; t30 = 111,4 ± 12,8; t60 = 103,0 ± 9,32; t120 = 94,9 ± 14,6; glicemia do grupo C aos 150 dias: t0 = 63,8 ± 1,9; t30 = 96,5 ± 1,4; t60 = 105,3 ± 10,6; t120 = 92,3 ± 11,9; glicemia do grupo F aos 150 dias: t0 = 85,0 ± 7,0*; t30 = 112,0 ± 5,5*; t60 = 122,8 ± 19,9*; t120 = 110,9 ± 17,4*. Área sob a curva da glicemia do grupo C aos 120 dias: 297,1 ± 32,9; área sob a curva da glicemia do grupo C aos 150 dias: 280,0 ± 19,0; área sob a curva da glicemia do grupo F aos 150 dias: 332,9 ± 37,6. Sensibilidade à insulina (Kitt) do grupo C aos 120 dias: 1,6 ± 0,25; sensibilidade à insulina do grupo C aos 150 dias: 1,3 ± 0,3; sensibilidade à insulina do grupo F aos 150 dias: 0,6 ± 0,15. * ≠C Conclusão: A dieta rica em frutose causou efeitos deletérios na tole-rância oral à frutose, assim como diminuiu a sensibilidade à insulina dos animais. Maiores níveis de glicose circulante foram encontrados nos animais do grupo frutose se comparados aos controles. Esses dados apontam para os efeitos nocivos da frutose na cadeia regulatória da glicemia. Mais estudos são necessários para elucidar todos os efeitos da dieta em animais e humanos. Apoio financeiro: Fapesp, Capes e CNPq.
070inFLUÊnciA dA inGeSTÃO cRÔnicA de dieTA RicA eM FRUTOSe eM RATOS SUBMeTidOS A TeSTe de TOLeRÂnciA ORAL À FRUTOSeBotezelli Jd1, Moura LP1, cambri LT1, Ghezzi Ac1, Arantes L1, dalia RA1, Mello MAR1
1 Universidade Estadual Paulista (Unesp), Educação Física, SP, Brasil
Introdução: Encontrada principalmente como adoçante de diversos alimentos, a ingestão de frutose em excesso vem sendo relacionada a diversos distúrbios metabólicos, entre eles a síndrome metabólica. Dessa forma, é de grande importância analisar os efeitos de uma die-ta rica em frutose no metabolismo energético. Objetivo: Na busca de um modelo animal apropriado para o estudo do papel do exercí-cio no desenvolvimento da síndrome metabólica, o presente estudo visou analisar os efeitos da ingestão de dieta rica em frutose na ciné-tica da glicemia e da trigliceridemia durante o teste de tolerância oral à frutose e a área sob a curva da glicemia dos animais, mantidos com dieta rica em frutose dos 120 aos 150 dias, que têm sido empregados como modelo experimental da síndrome metabólica humana. Méto-do: Dezesseis animais (ratos Wistar) foram mantidos em biotério cli-matizado em gaiolas coletivas (4 ratos por gaiola) e alimentados com ração peletizada Purina® do desmame aos 120 dias. Nesse ponto, eles foram separados aleatoriamente em dois grupos distintos (Controle
S119
ReSUMOS de PÔSTeReS
e Frutose). O grupo controle foi constituído de oito animais que continuaram a ingerir dieta balanceada. Enquanto que o grupo F foi submetido à ingestão de dieta rica em frutose durante 30 dias (120 aos 150 dias). Após esse período os testes foram realizados por administração por via oral de frutose diluída em água (na dosagem do peso/400 g) nos animais após 12 horas de restrição alimentar. O sangue foi coletado a partir de punção caudal 0, 30, 60 e 120 minutos após a ingestão de frutose para as dosagens de glicose e triglicerídeos deles. Resultados: Glicemia grupo C: t0 = 92,1 ± 1,63; t30 = 102,8 ± 6,7; t60 = 102,6 ± 4,1; t120 = 102,0 ± 6,9; glicemia do grupo F: t0 = 97,1 ± 3,6*; t30 = 125,7 ± 5,0*; t60 = 119,8 ± 6,8*; t120 = 112,3 ± 4,5*. Área sob a curva da glicemia: C: 12144,9 ± 591,4; F: 13994,0 ± 645,0. Trigliceridemia do grupo C: t0 = 79,8 ± 27,4; t30 = 114,9 ± 13,7; t60 = 76,9 ± 24,0; t120 = 47,0 ± 12,0; trigliceridemia do grupo F: t0 = 134,7 ± 29,6*; t30 = 179,0 ± 30,9*; t60 = 139,3 ± 42,0*; t120 = 107,0 ± 15,3*. Área sob a curva da trigliceridemia: C: 9515,4 ± 2268.1; F: 16869.9 ± 3720.0*. * ≠C Conclusão: A dieta rica em frutose influenciou tanto a glicemia dos animais quanto os níveis de triglicerídeos. Os dados apontam para intolerância à frutose após os 30 dias de ingestão dela. Maiores níveis de glicose e triglicerídeos circulantes foram encontrados nos animais do grupo frutose se com-parados aos controles. Esse sugere que a frutose cause efeitos dele-térios em toda a cadeia regulatória da glicemia e da trigliceridemia. Mais estudos são necessários para elucidar todos os efeitos da dieta em animais e humanos. Apoio financeiro: Fapesp, Capes e CNPq.
071iMPAcTO de eQUiPe MULTiPROFiSSiOnAL nO AcOMPAnHAMenTO e TRATAMenTO de PORTAdOReS de diABeTeS TiPO 1 (dM1): ReLATO de cASOcastro JHP1, Rafacho A2, Mondelli M3
1 Clínica Terra, Endocrinologia. 2 Universidade Estadual Paulista (Unesp), Bauru, Faculdade de Ciências. 3 Clínica Espaço Vida, Psicologia, SP, Brasil
Introdução: O autocontrole do paciente sobre sua doença é carac-terística imprescindível para o tratamento bem-sucedido de doenças, em especial as doenças crônicas. No DM1, por se tratar de doença crônica, deve-se buscar a aceitação da perda parcial ou total de deter-minada função biológica, bem como em lidar com a sensação de insa-tisfação já que um dia houve saúde plena. Neste trabalho, relatou-se o impacto da descontinuidade do acompanhamento multiprofissio-nal em portadora de DM1 sobre o perfil glicêmico e a qualidade de vida. Métodos: O estudo se baseia em relato de caso de pacien-te DM1 (MVL, 24 anos, gênero feminino, divorciada, caucasiana, nutricionista, natural de Promissão – SP) que apresenta a doença há mais de três anos, dos quais permaneceu 12 meses sem acompa-nhamento multidisciplinar. Resultados: História prévia de hipoti-reoidismo há 10 anos, em uso de levotiroxina 125 mcg/dia, tendo sido diagnosticada com DM1 em outubro de 2006 após apresentar sintomatologia sugestiva, incluindo glicemia > 500 mg/dL. Iniciou o tratamento com insulina NPH humana e Aspart pelo período de 18 meses, até que em março de 2008, por causa da falta de controle glicêmico, iniciou o uso de bomba de infusão contínua de insulina (BICI) por indicação de seu endocrinologista. Durante o período de teste com a BICI recebeu a orientação necessária para o manuseio do aparelho, assim como acompanhamento de equipe multiprofissional (endocrinologista, enfermeira e psicóloga), apresentando-se disposta ao tratamento. A paciente manteve controle glicêmico até janeiro de 2009, quando parou com a automonitorização glicêmica, aboliu a contagem de carboidratos e o ajuste dos bolus de infusão de insulina, bem como abandonou as consultas médicas e psicológicas regulares, referindo-se à falta de motivação, baixa autoestima e dificuldade em aceitar as privações e os cuidados que a doença implica. Como resul-tado, apresentou níveis glicêmicos descompensados (> 400 mg/dL) e sucessivas internações hospitalares. A partir de janeiro de 2010 a pa-ciente buscou novamente o auxílio multiprofissional e, com o acom-panhamento, apresentou melhora no controle do perfil glicêmico,
que se refletiu pelas glicemias pré e pós-prandiais mantidas dentro de valores inferiores a 180 mg/dL. Até o momento, ela se encontra mais motivada, apresenta melhora na autoestima e manifesta maior aceitação da doença. Discussão: O autocontrole sobre o DM1 e sua aceitação varia amplamente entre os pacientes. Os estágios da aceitação de uma doença crônica dividem-se em: 1) negação, 2) re-volta, 3) barganha, 4) depressão e 5) aceitação. A maneira como o indivíduo avança entre cada estágio depende de sua personalidade, história de vida, crenças e mitos pessoais, do apoio familiar e da sua relação com a equipe multiprofissional. No caso dos pacientes de DM1, há inúmeros constrangimentos como a dieta, insulina, moni-torização e oscilações das glicemias e, em longo prazo, o surgimento das complicações crônicas. Com base nesse relato de caso, sugere-se que o apoio da equipe multiprofissional, enquanto presente, é bas-tante eficiente na manutenção dos parâmetros clínicos e psicossociais do paciente dentro de valores e/ou comportamentos adequados, refletindo na melhora da autoestima, aceitação e controle da doença.
072in cHROnic KidneY diSeASe RATS THe ReVeRSe cHOLeSTeROL TRAnSPORT iS nOT inFLUenced BY THe HdL cOMPOSiTiOn MOdiFicATiOn OR THe RedUced MAcROPHAGe ABcG-1 eXPReSSiOn Machado JT1, Pinto RS1, castilho G1, Machado-Lima A1, Fusco FB1, Okuda LS1, iborra RT1, Rocha Jc1, carreiro AB1, nakandakare eR1, catanozi S1, Passarelli M1
1 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Laboratório de Lípides (LIM 10), SP, Brasil
Objectives: Atherosclerosis is prevalent in chronic kidney disease (CKD) and associated with disturbances in the reverse cholesterol transport. In CKD rats we analyzed the HDL composition and its ability to remove cell cholesterol as well as the macrophage ABCG-1 expression. Methods: Plasma urea, creatinine, total cholesterol (TC), triglycerides (TG) and glucose and urinary protein excretion (UPE) were determined before and 60 days after CKD induction by 5/6 nephrectomy in male Wistar rats (n = 18) and in control sham opera-ted animals (C; n = 8). Plasma anti-carboxymethyllysine (anti-CML) was determined by ELISA. To determine the cell cholesterol efflux rate 14C-cholesterol and LDL-enriched macrophage were incubated along time with HDL (50 mg/mL) from C or CKD rats. Macropha-ge ABCG-1 expression was determined by immunoblot. Compari-sons between groups were done by Student’s t test. Results: TC, TG, urea and UPE increased after 60 days in CKD rats. The anti-CML levels were similar CKD and C rats. HDL contents of total protein, phospholipids, TC and TG enhanced in CKD compared to C. In spite of an 11% reduction in the ABCG-1 expression in the CKD-ma-crophages (p = 0,0003) no differences were found in the HDL-me-diated 14C-cholesterol macrophage efflux rate between C and CKD. Conclusion: In CKD rats in spite of a reduced macrophage ABCG-1 expression and of an altered HDL composition the ability of the latter to remove cell cholesterol is not modified. Funding: Fapesp, Brazil.
073enHAnced LdL UPTAKe BY MOUSe PeRiTOneAL MAcROPHAGeS indUced BY SeRUM ALBUMin iSOLATed FROM diABeTic OR UReMic RATScarreiro AB1, Machado-Lima A1, iborra RT1, Pinto RS1, castilho G1, Rocha Jc1, Machado JT1, Fusco FB1, nakandakare eR1, catanozi S1, Passarelli M1
1 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Laboratório de Lípides (LIM 10), SP, Brasil
Objectives: Atherosclerosis is prevalent in diabetes mellitus (DM) and in chronic kidney disease (CKD) and relates to oxidation and
S120
ReSUMOS de PÔSTeReS
glycoxidation of macromolecules. We analyzed the in vivo role of DM or CKD rat albumin on the mouse peritoneal macrophages (MPM) LDL uptake. Methods: Plasma urea, creatinine, total cho-lesterol (TC), triglycerides (TG) and glucose and urinary protein excretion (UPE) were determined before and 60 days after male Wistar rats were made DM by IV streptozotocin (35mg/kg) (n = 8), or CKD by 5/6 nephrectomy (n = 8), together with control animals (C; n = 9). FPLC isolated serum albumin was purified by alcoholic extraction. Human plasma pool LDL was labeled with 3H-choles-teryl-oleoyl ether (3H-COE) and acetylated with anhydrous acetic. MPM were incubated (18 h) with albumin from C, DM or CKD (1mg/mL) followed by control or acetylated 3H-COE-LDL (50 mg/mL, 5 h). Plasma anti-carboxymethyllysine (anti-CML) was de-termined by ELISA. Comparisons among groups were done by one-way ANOVA. Results: Body weight was reduced and plasma glu-cose and anti-CML increased in DM rats compared to C and CKD. TC, TG, urea, creatinine and UPE were higher in CKD compared to C and DM. Control-3H-COE-LDL MPM uptake (mg cholesterol/ µg cell protein) was greater after treatment with DM (14,4 + 0,7) or CKD (15,0 ± 0,7) than with C albumin (11,5 + 0,3; < ,001). Acetylated 3H-COE-LDL uptake was greater than C-3H-COE-LDL but similar among groups. Conclusion: In vivo modified albumin may contribute to atherosclerosis in DM and CKD by enhancing the LDL-cholesterol MPM uptake. Funding: Fapesp, Brazil.
074SiTAGLiPTinA VERSUS inSULinA nPH AO deiTAR cOMO TeRceiRA dROGA nO TRATAMenTO dO diABeTeS MeLiTO TiPO 2 (dM2) nogueira Kc1, Fukui RT1, Rossi FB1, Rocha dM1, Santos RF1, Silva MeR1
1 Hospital das Clínicas e Laboratório de Investigação Médica LIM 18, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Endocrinologia e Metabologia, SP, Brasil
Introdução: No tratamento do DM tipo 2, busca-se a otimização do controle glicêmico. Quando os dois agentes orais mais utilizados (sulfonilureia e biguanida) falham em manter o controle glicêmico, um terceiro agente é associado, podendo ser outro sensibilizador, a insulina ou drogas que potencializam ou mimetizam o peptídeo glucagon-símile tipo 1 (GLP-1). São poucos os estudos analisando os efeitos metabólicos da adição do terceiro medicamento. O obje-tivo deste estudo é comparar os efeitos da sitagliptina (inibidora da enzima DPP-IV, que degrada o GLP-1) com o da insulina NPH ao deitar, associadas à combinação sulfonilureia e biguanida. Métodos: Vinte pacientes portadores de DM2 (13, sexo feminino), com idade de 58,7 anos (39-66 anos), duração do diabetes de 10,9 anos (2-30 anos), em uso de metformina e glibenclamida em doses máximas toleradas e com hemoglobina glicada (HbA1c) entre 6,9% e 9,1%, foram randomizados para a adição de sitagliptina (grupo Sitaglip-tina) ou insulina NPH ao deitar (grupo Insulina) como terceiras drogas hipoglicemiantes. Dez pacientes receberam sitagliptina e 10 pacientes, insulina NPH ao deitar. Dosagens de HbA1c, glicemia de jejum, lípides e enzimas hepáticas, peso e pressão arterial (PA) foram avaliados antes e após a adição de sitagliptina ou da insulina. A média de tempo de tratamento foi de 20 semanas (8-32 semanas). Resultados: Houve diminuição na HbA1c nos grupos Sitagliptina (8,1 ± 0,7% x 7,0 ± 0,6% – p = 0,0002) e Insulina (8,2 ± 0,6% x 7,1 ± 0,7% – p < 0,0001), porém sem diferença entre os grupos (p = 0,529). No grupo com insulina houve diminuição da glice-mia de jejum (160,9 ± 19,9 mg/dl x 117,0 ± 39,3 mg/dl – p = 0,003) e da PA diastólica (86,1 ± 10,6 mmHg x 81,3 ± 9,7 mmHg – p = 0,024). Esses parâmetros não se alteraram no grupo Sitagliptina (glicemia: 128,3 ± 34,9 mg/dl x 118,9 ± 40,2 mg/dl – p = 0,266; PA diastólica: 81,2 ± 9,2 mmHg x 79,8 ± 2,8 mmHG – p = 0,639).
Nenhum tratamento modificou os valores de lípides, enzimas hepá-ticas, PA sistólica e peso corpóreo. Discussão: A sitagliptina, droga oral inibidora da DPP-IV que promove aumento dos níveis de GLP-1, mostrou-se tão eficaz quanto a insulina NPH ao deitar, quan-do administradas como terceiro agente terapêutico no controle do DM2. A insulina NPH ao deitar promoveu efeito benéfico adicional na glicemia de jejum e na PA diastólica. Referências: 1. Riddle Mc, MD. Glycemic management of type 2 diabetes: an emerging strategy with oral agents, insulins, and combinations. Endocrinol Metab Clin N Am. 2005;34:77. 2. Product Information. Januvia (sitagliptin). Whitehouse Station: Merck & Co., Inc October 2006. 3. U.K. Pro-spective Diabetes Study Group. U.K. prospective diabetes study 16. Overview of 6 years’ therapy of type II diabetes: a progressive dis-ease. Diabetes. 1995;44:1249. 4. Baggio LL, Drucker DJ. Biology of incretins: GLP-1 and GIP. Gastroenterology. 2007;132:2131. 5. Sebokova E, Christ AD, Boehringer M, Mizrahi J. Dipeptidyl pep-tidase IV inhibitors: the next generation of new promising thera-pies for the management of type 2 diabetes. Curr Top Med Chem. 2007;7:547. Financiadora: Fapesp. Agradecimentos: Greci da Silva Paula (Laboratório de Investigação Médica LIM 18 – FMUSP).
075THe incReASinG BURden OF DIABETES MELLITUS AMOnG THe BRAZiLiAn XAVAnTe indiAnS – HOW TO ReVeRSe THiS TendencY?Franco LJ1, dal Fabbro AL1, Sartorelli dS1, Soares Silva A1, Franco LF1, Vieira Filho JPB2, Moisés RS2
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP/USP), Departamento de Medicina Social. 2 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Divisão de Endocrinologia, SP, Brasil
Background: Originally diabetes mellitus (DM) was rare among na-tive Americans but change to a high risk group when they adopt life style of Western societies. This situation is now being observed among some Brazilian Indians, particularly the Xavante, who live in the scrubland of Central Brazil, in the State of Mato Grosso. The first case of diabetes in this population was reported only in 1995. Objective: To describe the magnitude of DM and its associated conditions as a health problem for the adult Xavante population. Methods: The Xavante population were brought by catholic priests to the Sangradouro reservation in 1957, when they were in conflict with farmers. As a result, they lost most of their territory, stopped to practice their traditional agriculture and became more sedentary. Presently, the population is composed by 1549 individuals (829 men and 720 women), with 612 (38.5%) aged 20 years or more. This survey was based on a 75 g glucose tolerance test and capillary glyce-mia measured by HemoCue. All participants signed an informed consent form. Results: From the population aged 20 years or more, 351 Indians (171 men and 180 women) undergone anthropometric and clinical examinations. Using WHO criteria, diabetes prevalence was 21.1% (15.2% for men and 27.4% for women). IGT was found in 108 (30.8%) individuals, most of them (68 individuals) in the 20-39 yrs age-group. The prevalence of hypertension was 12.5%, and the rates for obesity (BMI ≥ 30 kg/m2) and overweight (BMI ≥ 25 and < 30 kg/m2) were 44.7% and 37.9%, respectively. Dyslipidemia was present in 83.8% of the population. Conclusion: DM, dyslipide-mia and obesity are now important and growing health problems for the Xavante population. The increasing prevalence of DM and the perspective of occurrence chronic diabetic complications in an area with lack of health care tend to worsening their health conditions. Interventions focusing the reduction in obesity and stimulating phy-sical activities are of great priority for this population. Part of this goal could be attained with recovery of some of their traditional practices. Supported by CNPq.
S121
ReSUMOS de PÔSTeReS
076cinnAMOn eXTRAcT ALTeRS THe MUScLe GLUcOSe UPTAKe OF eXeRciSe-diABeTic RATSMoura LP1, Ribeiro c1, Araujo MB1, cambri LT1, dalia RA1, Almeida Leme JA1, Voltarelli FA1, Mello MAR1
1 Universidade Estadual Paulista (Unesp), Educação Física, SP, Brasil
Cinnamon extract has been used for diabetes mellitus treatment in several countries Cinnamic aldehyde, tanin and methylhydroxychal-cone polymer (MHCP) are among active components of cinnamon, and the first is the one which has been pointed as a potential anti-diabetic agent. Studies demonstrated that the cinnamon extract decreased serum glucose of euglycemic Wistar rats and of diabetic mice. On the other hand, regular physical activity has been consi-dered fundamental in the control and treatment diabetes mellitus. The main benefits are the improvement of glucose tolerance and the reduction of insulin resistance. To our knowledge, the literature lacks information on the effects of the association between cinna-mon intake and regular physical exercise on the glycemic control in diabetes. Therefore, the present study investigated the effects of the association between aerobic physical exercise and cinnamon extract intake on the oral glucose tolerance (OGT) and the glucose uptake in the muscle of diabetic rats submitted to cinnamon extract treat-ment and to exercise. Adult Wistar rats were divided into 5 groups: Control (C); Diabetic (D); Cinnamon Diabetic (CD); Exercise Dia-betic (ED) and Exercise Cinnamon Diabetic (ECD. The animals belonging to CD and ECD groups received 300mg/kg of cinna-mon, daily, during 4 weeks. The physical training protocol consis-ted to swimming exercise (1 h/day; 5 days/week), during 4 weeks, at individual anaerobic/aerobic transition intensity determined by maximal lactate steady state test. All the animals were submitted to OGT and had the soleus muscle excised aiming the evaluation of glucose uptake. The area under curve of glucose during the OGT was higher for all diabetic groups when compared to control group, without treatment influence. The cinnamon treatment increased the glucose uptake by skeletal muscle in the CD group if compared to C and D groups. The physical exercise led to the same response in the ED group in relation to D and CD groups. The associa-tion between cinnamon treatment and physical exercise optimized the muscle glucose uptake of ECD group in comparison to other groups. Cinnamon extract and physical exercise improved the mus-cle glucose uptake, however, did not affect the glucose tolerance in the diabetic rats.
077eFeiTO cOMBinAdO de FenOFiBRATO e cReMe enRiQUecidO cOM inSULinA nA cicATRiZAÇÃO de LeSÕeS de AniMAiS diABÉTicOSAbreu LLF1, Picardi PK2, caricilli AM3, Trevisan dd1, Araujo eP1, Saad MJA2, Lima MHM1
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Enfermagem. 2 Unicamp, Clínica Médica. 3 Unicamp, Fisiopatologia, SP, Brasil
Introdução: O processo do reparo tissular é complexo – várias vias intracelulares e intercelulares podem ser ativadas para restaurar a integridade tissular. A cicatrização é prejudicada em lesões de por-tadores de diabetes melito (DM). Lesões diabéticas são as maiores responsáveis pela hospitalização do que qualquer outra complica-ção DM. O mecanismo molecular e celular das lesões diabéticas não está totalmente esclarecido; a compreensão destes mecanis-mos implicará intervenções mais seguras no manejo dessas lesões. A insulina é hormônio com poderosa ação metabólica e de cresci-mento celular. Sabe-se que o processo cicatricial de lesões de ratos
diabéticos tratados com creme enriquecido com insulina melhora na expressão do IR, IRS-1, IRS-2, SHC, MAP-K e AKT e que o tratamento com fenofibrato está associado com baixo risco de amputações de pacientes portadores de DM tipo 2, provavelmente por meio de mecanismos não lipídicos. Os fibratos são fármacos de-rivados do ácido fíbrico que agem estimulando os receptores nucle-ares denominados receptores alfa ativados de proliferação dos pe-roxissomas (PPAR-a). Existem três PPAR identificados – PPARa, PPARβ (também chamado de PPARδ) e o PPARγ –, sendo sua atividade modulada por drogas como fibratos (hipolipemiantes) e as tiazolidinedionas (drogas sensibilizadoras da insulina), ou por ligantes naturais como os ácidos graxos e seus derivados (eicosa-noides), portanto esses receptores estão envolvidos no controle de doenças crônicas como a DM, obesidade e aterosclerose. Objeti-vo: Investigar o processo cicatricial nas etapas iniciais da cascata de sinalização da insulina de ratos diabéticos ou não, que serão submetidos ao tratamento de fenofibrato por via oral associado ao tratamento tópico com creme enriquecido com insulina. Métodos: Ratos Wistar machos foram divididos em quatro grupos distintos: o grupo com DM induzido por streptozotocina (58 mg/kg, via endovenosa) e tratado com fenofibrato (20,55 mg/kg, via oral); o grupo com DM e tratado com placebo; o grupo Wild type tra-tado com fenofibrato e o grupo Wild type tratado com placebo. Realizadas duas lesões na região dorsal com Punch 4 mm, sendo a lesão proximal tratada com a pomada de insulina e a lesão distal tratada com a pomada veículo, no 3º, 5º e 9º dias após tratamento o tecido cicatricial foi extraído para avaliação da expressão das pro-teínas mediante imunoistoquímica e immunoblotting. Resultados preliminares: Observa-se que o tratamento oral com fenofibrato melhora a expressão de proteínas envolvidas na sinalização da insu-lina (IR, IRS-1, IRS-2, PI3-K, AKT, ERK-1, GSK-3) em feridas de ratos diabéticos. Conclusão: A melhora na expressão dessas pro-teínas ligadas à cascata da sinalização da insulina pode estar contri-buindo para a melhora da cicatrização nesses animais.
078SHORT-TeRM PROTein MALnUTRiTiOn diSRUPTS RAT GLUcOSe-indUced inSULin ReLeASe BY inTRAceLLULAR RedOX SiGnALinG MecHAniSMcapelli APG1, Zoppi cc1, Batista TM2, Silveira LR3, Paula MMF2, Trevizan A2, MR Silva P2, Rafacho A1, Boshero Ac2, carneiro eM2
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Fisiologia e Biofísica. 2 Unicamp, Fisiologia. 3 Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (EEFERP/USP), SP, Brasil
Introduction: Protein malnutrition reduces glucose-induced insulin secretion (GIIS), in addition, it has been recently demonstrated that pancreatic beta cells (β-cells) redox status is directly involved in GIIS control. However, GIIS redox signaling under protein undernour-ishment remains unclear. Methodology: After weaning, 21-days-old male Wistar rats were submitted to a normal-protein-diet (17%-pro-tein, NP) or to a low-protein-diet (6%-protein, LP) for sixty days. Pancreatic islets were isolated and CuZn-superoxide dismutase (SOD1), Se-glutathione peroxidase (GPx1) and catalase (CAT) messenger RNA (mRNA) as well as enzymatic antioxidant activities were quantified. Islets were also pre-incubated in medium contain-ing glucose (5.6 mM), (10-300 μM) hydrogen peroxide (H2O2) and/or (10 mM) N-acetylcysteine (NAC). The pre-incubation was followed by the incubation with crescent glucose concentrations, for GIIS measurement. Results: Protein malnutrition induced signifi-cant (p < 0.05) SOD1 activity (21.18 ± 2.1 – 30.5 ± 2 μmoles. min-1.mg protein-1 for NP-LP respectively), and 20% mRNA content increase. On the other hand, CAT activity decreased (9 ± 1.2 – 5.22 ± 0.73 μmoles/min/mg protein for NP-LP respectively) despite a
S122
ReSUMOS de PÔSTeReS
twofold CAT mRNA significant (p < 0.05) increase. Total GIIS was in most conditions approximately 50% lower in LP, and the observed decay profile after increased oxidant challenges were similar in both groups until islets were pre-incubated with H2O2 (100 μM), fol-lowed by incubation with glucose 33.3 mM, when LP showed sig-nificantly (p < 0.05) higher rates of decrease, reaching baseline GIIS values. NP GIIS showed the same effect only when pre-incubated with 300 μM of H2O2. In addition, when islets were pre-incubated with NAC 10 mM, the higher GIIS decrease in LP was attenuated. Discussion: GIIS redox signaling was reinforced by our data and it was also evidenced that early life protein malnutrition alters pancre-atic islets redox control, reducing GIIS by enhanced susceptibility to oxidative stress.
079eFFecTS OF eLeVATed nUTRienT AVAiLABiLiTY On inTRAceLLULAR BALAnce RedOX And inSULin ReSiSTAnce in SKeLeTAL MUScLeSilveira LR1, Justa Pinheiro c2, Alberici Lc3, Fiamoncini J4, Hirabara SM2, Barbosa MR3, Sampaio iH1, carneiro eM5, curi R4
1 Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (EEFERP/USP). 2 Instituto de Ciências Biológicas (ICB), USP, Fisiologia. 3 USP, Bioquímica. 4 USP, Fisiologia e Biofísica. 5 Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), Fisiologia e Biofísica, SP, Brasil
Reactive oxygen species (ROS) are known to be involved in sev-eral physiological processes in skeletal muscle. The pathogenesis of insulin resistance is focused on disordered lipid metabolism and consequently its effect on insulin pathway. Elevated reactive oxygen (ROS) and nitrogen species (RNS) are involved in this process. Purpose: This study evaluated the effects of elevated nu-trient availability on intracellular balance redox and insulin resis-tance in skeletal muscle. Methods: Soleus muscles were isolated from rats and pre-incubated in krebs medium during 4h contain-ing glucose 5,6 mM at presence of either palmitate (750 uM) plus insulin (100 µU/mL) or insulin (100 µU/mL). The mus-cles were also previously treated with N-Acetylcysteine (NAC) (1 mM) or electrically submitted to moderate muscle contraction (60 min). Afterwards, the medium was washed-out and the mus-cle incubated in krebs medium during 60 min containing glucose 5,6 mM at presence of insulin (100 µU/mL). The following pa-rameters were evaluated: oxygen consumption; ROS; uptake of 2-deoxyglucose (2-DG); NAD+/NADH ratio; mRNA of PGC1a and SIRT1 and glycogen synthesis. Results: O2 consumption was significantly reduced at presence of palmitate plus insulin (39.9 ± 1U vs. 57.1 ± 0.1, p < 0.05). The glucose uptake was signifi-cantly reduced at presence of insulin plus palmitate (195 ± 3 vs. 100 ± 2%, p < 0.05). The glycogen content was also reduced in this conditions (100 ± 1 vs. 65 ± 1%, p < 0.05). The NAD+/NADH ratio as well as mRNA of PGC1a and SIRT1 was mark-edly reduced at presence of palmitate plus insulin (p < 0.05). The optical densitometry analysis of Western Blotting against ROS in muscle extract shown a substantial increase in nitrated protein level at presence of palmitate plus insulin (p < 0.05). The anti-oxidant NAC partially improved glucose uptake compared with control (200 ± 2 vs. 100 ± 3%, p < 0.05). Whereas, muscle con-tractions was demonstrated to remove insulin resistance increas-ing glucose uptake compared with control (305 ± 5 vs. 100 ± 3%, p < 0.05). Discussion: The elevated nutrient availability reduces mitochondrial oxygen consumption favoring ROS production and consequently insulin resistance. The effect of antioxidant and muscle contraction improving glucose uptake suggest that ROS is an important regulator of glucose metabolism in skeletal muscle. Support by Fapesp and CNPq.
080QUALidAde de VidA e AJUSTAMenTO PSicOLÓGicO de PAcienTeS cOM diABeTeS MeLiTO TiPO 1: cOMPARAÇÃO PRÉ e UM AnO APÓS O TRAnSPLAnTe de cÉLULAS-TROncO HeMATOPOiÉTicASMarques LAS1, Oliveira-cardoso eA2, Mastropietro AP3, Voltarelli Jc3, Santos MA2, Souza Ac2
1 Hemocentro de Ribeirão Preto, Psicologia. 2 Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP), Psicologia e Educação. 3 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Unidade de Transplante de Medula Óssea (UTMO), SP, Brasil
Introdução: O transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH), na sua modalidade autóloga, vem sendo testado como uma alternativa experimental à terapêutica convencional do diabetes melito tipo 1 (DM1). No entanto, apesar dos resultados animadores iniciais, deve-se ressaltar que se trata de procedimento complexo. A imunossupressão induzida pelo condicionamento pré-TCTH tor-na o paciente temporariamente vulnerável a muitas complicações, que prejudicam o seu bem-estar físico e ameaçam sua vida. Por se tratar de terapia inovadora no tratamento do DM1, há necessida-de de estudos que possam avaliar não só a eficácia da técnica, mas também o seu impacto na vida dos pacientes. Objetivo: Comparar o ajustamento psicológico e a qualidade de vida de pacientes com DM1 antes e após um ano do TCTH. Método: Participaram 12 pa-cientes, com idades entre 16 e 24 anos. Os instrumentos utilizados foram: Questionário Genérico de Avaliação de Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (SF-36), Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos de Lipp (ISSL) e Escala de Ansiedade e Depressão Hospitalar (HAD), aplicados individualmente antes e um ano de-pois do TCTH. Os resultados foram analisados de acordo com as recomendações específicas de cada técnica. Resultados: Decorrido um ano do transplante, houve um acréscimo significativo dos esco-res correspondentes aos aspectos físicos, dor [ausência de], aspectos sociais e saúde mental dos participantes. Assim como ocorreu a me-lhora na qualidade de vida, o ajustamento psicológico também se mostrou mais preservado, com a diminuição de quadros instalados de estresse e dos sintomas de ansiedade e depressão. Considerações finais: Os resultados obtidos são relevantes para a confirmação do TCTH como proposta promissora em relação à terapêutica tradicio-nal no panorama do tratamento do DM1, contribuindo para melho-ra de indicadores psicossociais.
081eFFecT OF inTRALiPid inFUSiOn On SKeLeTAL MUScLe PROTein MeTABOLiSM in RATSGóis L1, Lira ec2, cassolla P2, Zanon nM2, navegantes Lcc2, Kettelhut ic3
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Bioquímica e Imunologia. 2 FMRP-USP, Fisiologia. 3 FMRP-USP, Bioquímica e Fisiologia, SP, Brasil
Introduction: Previous studies have suggested that plasma free fatty acids (FFA) may reduce the rates of protein degradation, sparing muscle proteins in situations such as fasting and diabetes. Rat skeletal muscle incubated in vitro in the presence of palmitic acid showed a clear reduction of protein degradation measured by tyrosine release to the medium. The present work was undertaken to investigate the in situ and in vitro effects of lipid emulsion infusion on the skeletal muscle protein metabolism from normal rats. Methods: To analyze the effect of Intralipid on protein metabolism, Wistar male rats were cannulated in jugular vein and infused continuously with saline or Intralipid (20%; 600 µl.h-1) over 6 h. The protein metabolism in situ was evaluated in tibialis anterior muscle using microdialysis
S123
ReSUMOS de PÔSTeReS
technique. The results were calculated by the difference between interstitial and arterial plasma tyrosine concentration. Muscle blood flow was monitored by ethanol technique. To determine the rates of in vitro proteolysis, soleus and extensor digitorum longus (EDL) muscles were removed from control and intralipid-infused rats and incubated in Krebs-Ringer buffer for 2 hours. The overall proteolysis was determined by release of tyrosine in the incubation medium. Results: Control rats showed a 3 fold increase in the interstitial-arte-rial tyrosine concentration after six hours saline infusion (97,2 ± 15 vs. 30,9 ± 4,66 ηmol.ml-1), while intralipid infusion prevented this increase (47,2 ± 7,85 vs. 26,7 ± 3,93 ηmol.ml-1; 75%). Moreover, intralipid infusion did not alter muscle blood flow. Intralipid-infused rats showed a clear reduction of total proteolysis of 24% and 20% in soleus and EDL muscles respectively as compared to control rats. Conclusion: The present data suggest that intralipid infusion exerts an acute inhibitory effect on protein degradation in skeletal muscle from normal rats. Further studies will be necessary to determine the mechanisms involved in these responses. Financial support: Capes and Fapesp.
082AdVAnced GLYcATed ALBUMin PRiMeRS MAcROPHAGeS TO S100B cALGRAnULinS And LPS STiMULATiOn THAT iMPAiRS THe MAcROPHAGe ReVeRSe cHOLeSTeROL TRAnSPORTOkuda LS1, Rocco ddFM1, nakandakare eR1, catanozi S1, Passarelli M1
1 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Laboratório de Lípides (LIM 10), SP, Brasil
In diabetes mellitus, advanced glycation end products (AGE) re-duce the cell cholesterol (chol) efflux although the role on the latter played by inflammation elicited by AGE is not known. We analyzed inflammatory markers produced by non enriched- or by chol enriched-macrophages (macs) incubated with control (C) or AGE-albumin (2 mg/mL) (72 h), followed, by incubation with S100B calgranulin (20 mg/mL) or LPS (1 mg/mL) (24 h). To measure the apo A-I, HDL2 and HDL3-mediated 14C-chol efflux the conditioned medium containing cytokines was incubated with healthy macs. Fatty acid free albumin was utilized in incubations to make C-alb (with PBS alone), and AGE-alb (with glycolaldehyde 10 mM) (4 d, 37°C under N2). Endotoxin levels in alb were below 50 pg/mL, without cell toxicity. Significant cytokine production was not observed in macs incubated alone with AGE-alb or C-alb. However, in comparison to C-alb, AGE-alb primed macs to a gre-ater secretion of IL-6, TNF-a and MCP-1 after S100B stimulation of macs not enriched with chol (17.6, 8.3 and 5.5 times, respecti-vely). Also, these cytokine levels in macs previously enriched with chol and treated with AGE-alb and S100B were twice higher than in non chol enriched macs. The LPS induced secretion of IL-6, TNF-a and MCP-1 by macs not enriched with chol, was, respec-tively, 2.8, 2.0 and 1.6 times higher in macs previously exposed to AGE-alb when compared to C-alb, however, on exposure to AGE-alb a minor rise in these values was observed by previous chol macs overloading. The conditioned medium containing cytokines from chol enriched macs treated with AGE-alb and S100B redu-ced, respectively, 23%, 43% and 20% the apoA-I, HDL2 and HDL3- mediated chol efflux from healthy macs in comparison to C-alb and S100B-treated cells. The chol efflux rate elicited by these par-ticles was reduced in AGE-alb and LPS- treated macs respectively 37%, 47% and 8.5% as compared to C-alb and LPS treated macs. In conclusion, AGE-alb primes macs to an inflammatory response by S100B and LPS that impairs the macrophage reverse cholesterol transport.
083eFeiTO dA dieTA HiPeRLiPÍdicA e HiPeRcALÓRicA nA ATiVidAde LiPOLÍTicA dO TecidO AdiPOSO BRAncO ReTROPeRiTOneAL carvalho L1, Garofalo MAR2, Zanon nM2, chaves, Ve3, Lira ec2, Paula-Gomes S1, Frasson d2, Filippin eA1, navegantes Lcc2, Kettelhut ic1
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Bioquímica e Imunologia, SP. 2 FMRP-USP, Fisiologia. 3 Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Fisiologia, MT, Brasil
Introdução: Estudos prévios de nosso laboratório demonstraram que ratos alimentados com dieta hipercalórica e hiperlipídica (HCHL) do tipo cafeteria, por três semanas, apresentam aumento nos níveis plasmáticos de insulina, de triacilglicerol, com aumento significativo na massa de gordura corporal. Além disso, foi observado que tanto a utilização de glicose quanto a síntese de ácidos graxos, processos dependentes de insulina, estão ativados no tecido adiposo branco retroperitoneal (RETRO). Contudo, um aumento no turnover de noradrenalina também foi observado nesse tecido, indicando hipera-tividade simpática (Chaves et al. J Nutr. 2006;136(10):2475). Neste trabalho, investigou-se o efeito da dieta HCHL na atividade lipolítica basal do RETRO, in vitro e in situ e sua resposta perante agentes lipolíticos. Métodos: Ratos machos Wistar (~ 250 g) foram alimen-tados por três semanas com uma dieta cafeteria (70 kcal.100g-1.dia-1) ou dieta-padrão (50 kcal.100g-1.dia-1). Fragmentos de RETRO foram incubados na ausência e na presença de noradrenalina (NOR) e de agentes lipolíticos intracelulares (dibutiril-cAMP, isobutilmetilxantina, teofilina e forskolina). A atividade lipolítica foi avaliada pela liberação de glicerol e de ácidos graxos livres (AGL) para o meio de incubação. A atividade lipolítica basal in situ foi avaliada indiretamente pela medi-da da concentração de glicerol intersticial, usando a técnica de micro-diálise, e os resultados foram calculados pela diferença entre a concen-tração de glicerol do interstício (I) e no sangue arterial (A). O fluxo sanguíneo local foi avaliado pela técnica do etanol (Hickner RC, et al. Act Physiol Scand. 1992;146:87). O glicerol foi mensurado pelo kit Quibasa® e os AGL, pelo kit Randox NEFA®. Os resultados da lipólise in vitro foram expressos em relação ao conteúdo de DNA do RETRO extraído pelo método do ácido 3,5 diaminobenzoico (Erwin BG, et al. Anal Biochem. 1981;110:291). Resultados: Nenhuma alteração no ganho de peso corporal foi observada entre os grupos de animais. Os dados mostram que a dieta cafeteria promoveu aumento na libera-ção de glicerol e de AGL, pelo RETRO incubado in vitro, tanto em condição basal quanto estimulada por NOR ou pelos agentes lipolíti-cos, com exceção da forskolina. Além disso, ratos alimentados com a dieta HCHL apresentaram aumento de ~ 62% na liberação de glicerol, in situ, pelo RETRO, sem alterar o fluxo sanguíneo local, quando comparados com animais que receberam a dieta-padrão. Discussão: Apesar de os animais HCHL apresentarem aumento da massa lipídi-ca corporal e aumento de lipogênese, os achados mostram que ratos alimentados com a dieta do tipo cafeteria apresentam maior atividade lipolítica basal no RETRO, avaliada pela maior liberação de glicerol tanto in vitro quanto in situ. Em situações de estímulo, a resposta li-política in vitro do RETRO também é aumentada nesses animais. Essa maior atividade lipolítica poderia ser explicada, pelo menos em parte, pelo aumento da atividade simpática no tecido adiposo desses animais. Apoio financeiro: CNPq, Capes e Fapesp.
084cOMPARAÇÃO enTRe cOnSUMO ALiMenTAR e nÍVeL de ATiVidAde FÍSicA HABiTUAL eM MULHeReS cOM LiPOdiSTROFiA PARciAL FAMiLiAR TiPO dUnniGAn Monteiro LZ1, Pereira FA1, navarro AM1, Foss-Freitas Mc1, Montenegro JR RM2, Foss Mc1
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Clínica Médica, SP. 2 Hospital Universitário, Universidade Federal do Ceará (UFC), Endocrinologia e Metabologia, CE, Brasil
Introdução: A industrialização e a urbanização trouxeram um au-mento na ingestão calórica e na diminuição da atividade física na
S124
ReSUMOS de PÔSTeReS
população brasileira, que, por sua vez, evidenciou um princípio de sobrepeso populacional. Os baixos níveis de atividade física estão re-lacionados com o aumento da ocorrência de doenças crônicas. As-sim, o objetivo do estudo foi avaliar e comparar o consumo alimentar e o nível de atividade física entre mulheres com lipodistrofia familiar tipo Dunnigan e mulheres sadias. Métodos: Estudo de abordagem quantitativa, descritivo e transversal, com 18 mulheres diagnostica-das com lipodistrofia parcial familiar tipo Dunnigan e 18 mulheres controles (GC), em que foram verificadas as variáveis antropomé-tricas (peso, altura, IMC e circunferência abdominal). O consumo alimentar foi avaliado por recordatório alimentar de três dias. Para avaliar o nível de atividade física habitual (NAFH), foi utilizado um questionário dividido em quatro vertentes caracterizadas por ativida-des físicas ocupacionais (AFO), exercícios físicos (EFL) e atividades físicas de locomoção e lazer (ALL), as quais compõem a avaliação da atividade física dos últimos 12 meses (ET), gerando três escores finais. Resultados: As mulheres com LPFD apresentaram: idade = 35,6 ± 13 anos, peso = 64,7 ± 14,1 kg, altura = 1,61 ± 0,07 m, IMC = 24,8 ± 4,2 kg/m2, circunferência abdominal = 81,8 ± 11,1 cm vs. GC idade = 35,6 ± 13 anos, peso = 63,9 ± 12,4 kg, altura = 1,62 ± 0,07 m, IMC = 24,4 ± 4,8 kg/m2, circunferência abdominal = 78,5 ± 12,5 cm. Em relação ao consumo alimentar, as mulheres com LPFD apresentaram: energia = 1685,69 ± 564,40 kcal, carboidrato = 207,58 ± 82,05 g, proteína = 92,30 ± 35,25 g, lipídeo = 54,84 ± 26,99 g vs. GC energia = 2030,08 ± 713,68 kcal, carboidrato = 289,76 ± 122,18 g, proteína = 81,30 ± 31,75 g, lipídeo = 63,88 ± 28,44 g. Quanto ao NAFH, as mulheres com LPFD apresentaram: AFO = 2,96 ± 0,61, EFL = 1,92 ± 0,48, ALL = 2,50 ± 0,59, ET = 7,33 ± 1,18 vs. GC AFO = 2,75 ± 0,60, EFL = 2,14 ± 0,56, ALL = 2,47 ± 0,66, ET = 7,38 ± 1,16). Correlacionando os escores do NAFH com as variáveis do consumo alimentar (energia, carboidra-to, proteína e lipídeo), verificou-se que o consumo de carboidrato e energia foi correlacionado significativamente com os escores de atividade física (EFL). Discussão: No presente estudo observou-se que as mulheres com LPFD apresentaram menor consumo de car-boidrato, energia e lipídeo quando comparadas às mulheres do GC. O NAFH também foi baixo nos dois grupos. A alimentação dessa população não se mostrou adequada, o que pode prejudicar o alcan-ce de seus objetivos com a prática de exercícios físicos e aumentar os riscos de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis.
085AVALiAÇÃO dA denSidAde MineRAL ÓSSeA (dMO) eM MULHeReS cOM LiPOdiSTROFiA TiPO dUnniGAn Monteiro LZ1, Pereira FA1, Foss-Freitas Mc1, Montenegro Jr RM2, Foss Mc1
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Clínica Médica, SP. 2 Hospital Universitário, Universidade Federal do Ceará (UFC), Endocrinologia e Metabologia, CE, Brasil
Introdução: A lipodistrofia parcial familiar tipo Dunnigan (LPFD) é caracterizada pela diminuição progressiva do tecido adiposo nas extremidades e tronco e acúmulo de gordura na cabeça, pescoço e tecido adiposo visceral e está associada com diabetes, dislipidemia e doenças cardiovasculares/síndrome metabólica. A diminuição da densidade mineral óssea (DMO) é um fator de risco para fraturas. A associação entre a lipodistrofia e alterações no metabolismo ós-seo não são completamente compreendidas. Assim, este estudo teve como objetivo comparar a densidade mineral óssea entre mulheres com LPFD e sem a lipodistrofia. Métodos: Estudo de abordagem quantitativa, descritivo e transversal, com 18 mulheres diagnosticadas com LPFD e 18 mulheres controles (GC), em que foram verificadas as variáveis antropométricas (peso, altura, IMC e circunferência ab-dominal). Avaliou-se a DMO de coluna total (L1-L4), colo femoral, quadril total, antebraço e composição corporal (CC) de massa magra (MM), massa gorda (MG), porcentagem de gordura por meio de
DXA (Hologic 4500W). Resultados: As mulheres com LPFD apre-sentaram: idade = 35,6 ± 13 anos, peso = 64,7 ± 14,1 kg, altura = 1,61 ± 0,07 m, IMC = 24,8 ± 4,2 kg/m2, circunferência abdominal = 81,8 ± 11,1 cm vs. GC idade = 35,6 ± 13 anos, peso = 63,9 ± 12,4 kg, altura = 1,62 ± 0,07 m, IMC = 24,4 ± 4,8 kg/m2, circunferên-cia abdominal = 78,5 ± 12,5 cm. Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos quanto a DMO de quadril total (LPFD = 0,875 ± 0,10 g/cm2 vs. GC = 0,894 ± 0,09 g/cm2), antebraço (LPFD = 0,616 ± 0,06 g/cm2 vs. GC = 0,650 ± 0,04 g/cm2), coluna total (LPFD = 0,994 ± 0,14 g/cm2 vs. GC = 1,011 ± 0,12 g/cm2), colo femoral (LPFD = 0,795 ± 0,18 g/cm2 vs. GC = 0,810 ± 0,83 g/cm2) e BMD subtotal (LPFD = 0,872 ± 0,08 g/cm2 vs. GC = 0,889 ± 0,78 g/cm2), ainda que os valores no grupo lipodistrófico tenham sido discretamente menores do que os do grupo controle. Como esperado, as porcentagens de gordura (LPFD = 23,51 ± 9,5% vs. GC = 36,02 ± 6,1% p < 0,05) e MM (LPFD = 42519,88 g vs. GC = 35806,95 g – p < 0,05) foram significativamente diferentes entre os grupos. Discussão: Neste estudo, procurou-se comparar a DMO em mulheres com LPFD e sem LPFD, o que não revelou diferenças significativas entre esses grupos. Por outro lado, verificou-se que as mulheres com a lipodistrofia apresentaram diferenças significativas em relação a MM, MG e porcentagem de gordura.
086L-ARGininA cROnicAMenTe MOdULA A eXPReSSÃO dA BMP-9 eM TecidO HePÁTicO de RATOSMenezes JGK1, Oliveira MB1, Sena cMS1, Luiz RGS1, castro-Barbosa T2, cogliati B3, dagli MLZ3, Lellis-Santos c2, nunes MT2, Bordin S2, caperuto Lc4
1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Departamento de Ciências Biológicas. 2 Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB/USP), Departamento de Fisiologia e Biofísica. 3 Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ-USP). 4 Unifesp, Campus Diadema, Ciências Biológicas, SP, Brasil
Introdução: As proteínas BMP são uma subclasse da superfamília dos fatores de crescimento e transformação (TGF-beta), com papel central na diferenciação e crescimento celular. A proteína BMP-9 foi identificada como potencial alvo terapêutico para o diabetes melito tipo 2 (DM2), já que o tratamento in vivo com BMP-9 reduziu a glicemia tanto de ratos normais quanto de ratos diabéticos. A proteína BMP-9 é um fator produzido pelo fígado de mamíferos como um pré-peptídeo (47kDa), com ação autócrina e endócrina após o pro-cessamento (29kDa). Nossos estudos de regulação da expressão da BMP-9 em alguns modelos animais de resistência à insulina mostra-ram que esse hormônio é regulado de acordo com o jejum ou estado alimentado do animal. Arginina é um aminoácido condicionalmente essencial dos mais versáteis. Os efeitos da ingestão de L-arginina são dose-dependentes, mas ainda são controversos com relação ao meta-bolismo glicêmico. Em ratos, é sabido que a suplementação crônica com 35 mg/dia de L-arginina leva ao desenvolvimento de resistência à insulina e hiperinsulinemia. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a expressão da BMP-9 em ratos tratados com 70 mg/dia e 140 mg/dia. Métodos: O ITT foi utilizado para avaliar a condição do metabolismo glicêmico (resistência à insulina) em ratos Wistar machos de 2 meses de idade tratados cronicamente com diferentes doses de L-arginina: 70 e 140 mg por dia durante 30 dias. Também foi avaliada a expressão gênica e proteica da BMP-9 no fígado desses animais por meio de RT-PCR e Western Blotting, respectivamente. Resultados: Os animais tratados não apresentaram variação no crescimento após o tratamento com a L-arginina quando comparados aos animais con-troles, demonstrando que não houve desenvolvimento de obesidade durante o tratamento. Com relação ao metabolismo glicêmico, os animais apresentaram uma tendência ao desenvolvimento de resistên-cia à insulina nas duas dosagens utilizadas, mas não estatisticamente
S125
ReSUMOS de PÔSTeReS
significativa (CTL = 4,04 ± 0,24; A35 = 3,16 ± 0,37; A140 = 3,10 ± 0,35; p > 0,05). A expressão gênica manteve-se inalterada com o tratamento. Entretanto, a expressão da proteína não processada e da proteína madura da BMP-9 no tratamento com 140 mg diárias de L-arginina mostrou-se aumentada (47 kDa: CTL = 7507 ± 916,7; A140 = 12540 ± 1419; p < 0,05; 29 kDa: CTL = 7968 ± 907,4; A140 = 11410 ± 420,0; p < 0,05). Discussão: A proteína madura de 29 kDa está aumentada em animais tratados cronicamente com 140 mg diá-rios de L-arginina, e a forma ativa da BMP-9 é a forma madura. Essa modulação da expressão pode participar na tendência à resistência à insulina observada nesse modelo. Apoio financeiro: Fapesp e CNPq.
087eFeiTO de diFeRenTeS inTenSidAdeS dO eXeRcÍciO FÍSicO AGUdO nA GLiceMiA de RATOS diABÉTicOS ALOXÂnicOSArantes LM1
1 Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus Rio Claro, Educação Física, SP, Brasil
Introdução: O exercício físico pode contribuir para o tratamento de diabetes melito. No entanto, poucos estudos investigaram os efeitos da intensidade do exercício físico aeróbio. Objetivo: Este estudo tem por objetivo investigar o efeito do exercício físico agudo realizado em duas diferentes intensidades (45% e 90% da máxima fase estável do lactato – MFEL) na glicemia de ratos diabéticos aloxânicos. Me-todologia: Para isso, ratos machos Wistar foram distribuídos aleato-riamente em dois grupos: controle e diabético. O diabetes foi indu-zido por aloxana (32 mg/kg). Em seguida, todos os animais foram submetidos ao teste da MFEL para determinação da intensidade do exercício e realizaram adaptação ao meio líquido e ao exercício. Para o exercício agudo, os procedimentos ocorreram da seguinte forma: inicialmente foi realizada coleta de sangue para determinação da gli-cose em repouso; em seguida, os animais foram divididos em quatro grupos: grupo controle – 45% da MFEL (C45); grupo controle – 90% da MFEL (C90); grupo diabético – 45% da MFEL (D45) e grupo diabético – 90% da MFEL (D90), e submetidos a 30 minu-tos de exercício físico; imediatamente e 40 minutos após o exercício agudo foi realizada a coleta de sangue para determinação da glicose. Para análise estatística foi realizada uma ANOVA two-way, post hoc de Bonferroni, com nível de significância p < 0,05. Resultados: Após análise dos dados, foi observado que o exercício físico não alterou a glicemia dos animais dos grupos controle (C45 e C90) em suas di-ferentes intensidades e momentos. Os animais diabéticos aloxânicos apresentaram glicemia maior que os animais controles no repouso, porém não houve diferença na glicemia de repouso entre os grupos diabéticos (D45 e D90). Após o exercício físico, os animais diabéti-cos (D45 e D90) apresentaram redução na glicemia imediatamente após e recuperação 40 minutos após, não havendo diferença entre as intensidades. Conclusão: O exercício físico agudo provocou redu-ção na glicemia dos animais diabéticos logo após a realização dele. Contudo, nessas condições não foi encontrada diferença significativa na glicemia dos animais diabéticos submetidos ao exercício físico nas intensidades 45% e 90% da MFEL. Apoio financeiro: CNPq.
088AnÁLiSe dA ReLAÇÃO enTRe O cOnSUMO de MicROnUTRienTeS AnTiOXidAnTeS cOM MARcAdOReS inFLAMATÓRiOS e de ReSiSTÊnciA À inSULinA eM AMOSTRA de ALTO RiScO cARdiOMeTABÓLicOFolchetti Ld1, Pires MM1, Barros cR1, Ferreira SRG1
1 Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo (FSP-USP), Nutrição, SP, Brasil
Estudos apontam que dietas ricas em micronutrientes com poten-cial antioxidante, como vitaminas E (vit E) e C (vit C), zinco (Zn)
e selênio (Se), estão associadas a efeitos favoráveis no metabolismo glicolipídico. Este estudo avaliou se a ingestão de vit E, vit C, Zn e Se se associa a marcadores inflamatórios e de resistência à insuli-na. Neste estudo transversal, 167 indivíduos (56 homens) de risco cardiometabólico (pré-diabéticos ou com síndrome metabólica), atendidos pelo SUS, participantes de estudo de prevenção, foram avaliados no momento basal quanto a parâmetros dietéticos (3 re-cordatórios de 24 horas), antropométricos e bioquímicos. A amostra foi estratificada em tercis de ingestão de vit E, vit C, Zn e Se, sendo os extremos comparados por teste t de Student. Coeficiente de Pear-son foi empregado na análise de correlação. A média de idade foi de 55,2 ± 12,6 anos e do IMC de 30,6 ± 5,7 kg/m2. A ingestão de vit E esteve abaixo da recomendação mundial (8 mg/d) em 89%. Con-siderando as recomendações de vit C e Zn, respectivamente 48% e 67% dos homens apresentaram baixo consumo, enquanto 50% e 47% das mulheres. Por outro lado, o consumo de Se esteve dentro da fai-xa recomendada em 90% dos indivíduos. A comparação de parâme-tros antropométricos, pressóricos, valores glicêmicos, perfil lipídico, HOMA-IR, TNF-a e IL-6 nos estratos de consumo de vit E, vit C, Zn e Se não revelou diferenças estatísticas. Porém, as concentrações de proteína C reativa (PCR) foram menores no estrato de maior consumo de Zn (0,51 ± 0,35 vs. 0,35 ± 0,31 mg/dl, p = 0,016) e tenderam a ser mais baixas no tercil com maior consumo de Se e vit E. Correlações fracas foram observadas entre a PCR e consumos de Zn (r = -0,141; p = 0,069) e Se (r = -0,133; p = 0,087). Conclusão: Nossos achados revelam que a ingestão de vit E, vit C e Zn de bra-sileiros de risco cardiometabólico parece estar aquém da desejável. Porém, não se comprova impacto deletério sobre a sensibilidade à insulina. Limitações inerentes da ferramenta empregada para avalia-ção dietética podem contribuir para esse resultado. É possível que um consumo maior de vit E, Zn e Se contribua para minimizar a inflamação subclínica, mas a natureza transversal deste estudo não permite estabelecer relações de causa-efeito. Estudos longitudinais envolvendo maiores amostras são necessários.
089VALidAÇÃO dO cÁLcULO dA GLiceMiA MÉdiA eSTiMAdA (GMe) POR MeiO dA dOSAGeM de A1c POR iMUnOTURBidiMeTRiA Franco LF1, Marchisotti FG2, carvalho AF1, curimbaba ec1, Goulart ML2
1 CientíficaLab-DASA. 2 DASA, SP, Brasil
Introdução: O cálculo da GME é preconizado internacionalmente como expressão da avaliação do controle glicêmico. O resultado da GME é obtido pela conversão do valor da hemoglobina glicada (A1C) na unidade de medida da glicemia (mg/dL). O trabalho original calcu-lou a GME por meio da A1C analisada pelas seguintes metodologias: HPLC (Tosoh G7, Tosoh Bioscience, Tokyo Japan), imunoensaios (Roche A1c e Roche Tina-Quant, Roche Diagnostics) e ensaio de afi-nidade (Primus Ultra-2, Primus Diagnostics, Kansas City, MO). Ob-jetivo: Validar o cálculo da GME por meio da dosagem da A1C pelo método da imunoturbidimetria. Métodos: Foram estudadas amostras aleatórias de sangue total de 40 pacientes, enviadas sob condições pré-analíticas adequadas. A idade média dos pacientes foi de 54,6 anos (variação: 16-86 anos) e 28 (70%) eram do sexo feminino. A A1C foi determinada em todas as amostras em duas plataformas: Imunoturbi-dimetria – Dimension (Siemens) e HPLC – Variant II (Biorad). Os dois métodos são certificados pelo National Glycohemoglobin Stan-dardization Program (NGSP). A GME foi calculada pela fórmula: 28,7 X A1c – 46,7. A dosagem de A1C por imunoturbidimetria foi com-parada com a dosagem pelo método de cromatografia líquida de alta performance (HPLC), que é considerado o padrão. Na comparação entre as dosagens de A1C pelos dois métodos e os respectivos cálculos de GME, foram utilizados o teste t de Student e o coeficiente de cor-
S126
ReSUMOS de PÔSTeReS
relação de Pearson. Resultados: Dez pacientes apresentavam A1C < 6,0% e 30 A1C ≥ 6,5%. Pela imunoturbidimetria, a média dos resulta-dos foi de 9,1% (dp: ± 2,6), com variação de 5,3% a 14,8%; por HPLC, a média foi de 9,1% (dp: ± 2,5), variando de 5,1% a 13,7%. A média dos valores de GME por imunoturbidimetria foi de 214,1 mg/dL (dp: ± 73,8), com variação de 105 a 378 mg/dL; por HPLC, a média foi de 215,3 mg/dL (dp: ± 71,20), variando de 199 a 349 mg/dL. Na comparação entre os resultados de A1C pelos dois métodos, o coefi-ciente de correlação de Pearson foi de 0,906, e o teste t não detectou diferenças com significância estatística (p < 0,025). Comparando os cálculos de GME, o coeficiente de Pearson foi de 0,991, e as diferen-ças não foram estatisticamente significantes (p < 0,025). Conclusão: O cálculo da GME por meio da dosagem de A1C por imunoturbidi-metria pode ser usado, pois não difere do calculado pela dosagem de A1C por HPLC e apresenta a vantagem de ter menor custo.
090MOdULAÇÃO TecidO-eSPecÍFicA dA ViA SiRT1/PGc-1A/AMPK PeLA ReSTRiÇÃO cALÓRicA eM RATOSRosa LF1, Ueno M1, caricilli AM1, Prada PO1, Saad MJA1
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Clínica Médica, SP, Brasil
Introdução: Estudos têm demonstrado que a restrição calórica (RC) aumenta a longevidade e diminui os efeitos deletérios associados ao envelhecimento. Os efeitos gerados sob RC são ligados à ação de uma proteína desacetiladora da família das sirtuínas (SIRT1) que age como sensor metabólico. SIRT1 desacetila o coativador PGC-1a (Peroxiso-me Proliferator-Activated Receptor Gamma-Coactivator-1a) que está envolvido no controle da homeostase glicêmica, oxidação de ácidos graxos no tecido muscular e biogênese mitocondrial. Recentemen-te, demonstrou-se que a atividade da AMPK (cinase-dependente de AMP) também pode interferir nessa via SIRT1/PGC-1a. Entretanto, os mecanismos moleculares responsáveis pelos efeitos da RC na via SIRT1/PGC-1a/AMPK em diversos tecidos ainda não foram total-mente elucidados. Objetivo: Investigar a relação entre SIRT1, PGC-1a e AMPK em ratos sob RC em diferentes tecidos. Métodos: Foram utilizados ratos Wistar machos sob RC (40% de redução de ração-padrão em relação aos controles). A ativação, expressão e associação de proteínas foram estudadas empregando-se as técnicas de imunopre-cipitação e immunoblotting com anticorpos específicos. Resultados e discussão: Os ratos sob RC ficaram, em média, com 82% do peso dos animais controles ao final de 20 dias. Em tecido muscular, observou-se redução na expressão de SIRT1, aumento da acetilação de PGC-1a e redução da ativação da AMPK, verificada pela redução da fosforilação no resíduo treonina 172 (Th172) dessa proteína. O aumento de ace-tilação de PGC-1a é intrigante, uma vez que tal resultado pode estar associado à redução da oxidação de consumo de ácidos graxos nesse tecido. Esse resultado poderá ser mais bem compreendido no futu-ro por nosso grupo, mediante análise da bioenergética mitocondrial muscular. No tecido adiposo, observou-se aumento tanto da expres-são de SIRT1 como da fosforilação de AMPK em th172. O aumento da expressão de SIRT1, bem como o aumento da ativação de AMPK, no tecido adiposo, reforça a associação dessas duas proteínas, possi-velmente, no aumento do metabolismo de ácidos graxos e reduzida adipogênese nesse tecido. Em tecido hepático, RC reduziu a ativação da AMPK, verificada pela redução da fosforilação no resíduo treonina 172 (Th172) dessa proteína. Recentemente, a fosforilação no resíduo serina 485 (ser485) de AMPK foi associada à inibição de sua atividade. De fato, observou-se aumento da fosforilação de AMPK em ser485 nos ratos sob RC. A redução da ativação de AMPK, bem como o aumento de sua inibição, no fígado, correlaciona-se com a manuten-ção da homeostase glicêmica diante da redução de calorias ingeridas. No hipotálamo, não houve alteração na expressão de SIRT1, bem como na acetilação de PGC-1a. Entretanto, observou-se aumento da fosforilação Th172 de AMPK, bem como aumento da expressão total
dela. Tais resultados podem estar associados ao aumento do estímulo para ingestão de alimento nos animais sob RC. Conclusão: Os da-dos sugerem que a restrição calórica modula a via SIRT1/PGC-1a/AMPK em vários tecidos, e essa modulação varia de acordo com a função de cada proteína nesses tecidos. Apoio: Fapesp.
091ciLiARY neUROTROPHic FAcTOR (cnTF) PROTecTiVe eFFecTS in TYPe 1 diABeTeS (dM 1) And SOcS3 ROLeRezende LF1, Santos GJ1, carneiro eM1, Boschero Ac1
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Departamento de Anatomia, Biologia Celular e Fisiologia e Biofísica, SP, Brasil
Backgrounds and aims: CNTF is a cytokine known for its survi-val effects in many cell types, including rat pancreatic islets. Type 1 Diabetes is characterized by a selective loss of pancreatic islet beta-cell mass and subsequent hyperglycaemia, a condition that can be induced in by Multiple Low Doses of Streptozotocin (STZ), a model (MLDS) that resembles human Type 1 Diabetes, including cytokine-induced beta-cell apoptosis, which is usually mediated through Jak/STAT1 pathway, increasing pro-apoptotic genes genes expression and finally greater Caspase-3 cleavage. This pathway is regulated by Sup-pressor of Cytokine Signalling (SOCS) proteins, such as SOCS-3 ex-pressed in pancreatic islets and modulated by cytokines, and appears to play a role in beta-cell resistance to cytokine-induced apoptosis. Given CNTF beta-cell protective effects against cytokine-induced apoptosis, we decided to evaluate the effects of CNTF in a Type 1 Diabetes model that resemble the human disease (MLDS), and the possible role of SOCS-3 in the CNTF effects in mice. Material and methods: For MLDS, 4-6 weeks-old Swiss mice were administered by intra-peritoneal injection once daily for 5 consecutive days using saline injection as control (C), 40 mg/kg of STZ for MLDS group (S) 40 mg/kg of STZ plus 0.1 mg/kg of CNTF for CNTF group (N). We assessed mice fed glycaemia in days 0 to 14, and days 21, 28 and 35 after the first injection. Type 1 diabetes considered as blood glycaemia higher than 250 mg/dl for 2 days. We evaluated mice overall glycaemia, Type 1 diabetes incidence, severity and time until occurrence. Furthermore, we evaluated the CNTF effects over apop-tosis (Caspase-3 cleavage) and SOCS-3 expression of mice primary pancreatic islets cultured for 3 days in the absence (C) or presence (S) of IL1-beta plus 1 nM of CNTF (N). The mRNA was assessed by RT-PCR (= 6) and Caspase-3 Cleavage by Western Blot (n = 4) Data = Mean ± SEM. P < 0.05. Results: CNTF-treated mice had an overall lower glycaemia than STZ-group and a lower Type 1 diabe-tes incidence. Even among those that developed diabetes in CNTF group, it took them longer to occur and was less severe than the STZ group. CNTF-treated mice primary islets showed lower caspase-3 cleavage than islets exposed to IL1-B alone, while SOCS-3 expres-sion in CNTF group was higher than in IL-1B group. Discussion: The results indicate that CNTF protects mice pancreatic islets against STZ-induced Type 1 Diabetes and that this effect could be, at least in part, due to an increased SOCS-3 expression and lower apoptosis in CNTF-treated pancreatic islets.Financial support: Fapesp/CNPq.
092ciLiARY neUROTROPHic FAcTOR (cnTF) PROTecTS AGAinST ALLLOXAn-indUced TYPe 2 DIABETES MELLITUS (dM2)Santos GJ1, Oliveira cAM1, carneiro eM1, Boschero Ac1, Rezende LF1
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Departamento de Anatomia, Biologia Celular e Fisiologia e Biofísica, SP, Brasil
Backgrounds/Aims: DM2 is characterized by impaired insulin sen-sitivity and secretion, leading to hyperglycaemia. CNTF is a cytokine that improves metabolic profile in obesity-induced and insulin resis-
S127
ReSUMOS de PÔSTeReS
tant DM2 models, allegedly through an increase in insulin sensitiv-ity. Besides that, CNTF promotes in vitro pancreatic islet survival. Given that, we decided to evaluate the role of functional beta cell mass maintenance by CNTF in a non-insulin resistant DM2 model. Material and methods: Neonate Swiss mice received intra-perito-neal injection of Citrate buffer (CTL), CNTF 0,1 mg/kg (CNTF), Alloxan 250 mg/kg (ALOX) or a combination of both (CNTF + ALOX). We performed an intraperitonal glucose tolerance test (ip-GTT) in p26 and an intraperitonal insulin tolerance test (ipITT) in p28. Plasma glycaemia was assessed by a Roche Accu-Chek II Glu-cometer. Plasma insulin was assessed by Radioimmunoassay (RIA). Data are expressed as mean ± SEM, and p < 0,05. Results: Alloxan-treated mice were hyperglycaemic and glucose intolerant, indicating that they are diabetic (DM2). Nevertheless glycaemia decrease after ipITT was similar to CTL, therefore they were not insulin resistance. CNTF + ALOX mice had lower fasting and similar fed glycaemia than CTL. Besides the glycaemia decreased after ipITT was similar to CTL. CNTF-treated mice also showed slower insulin clearance. Discussion: The results indicate that CNTF improved metabolic profile in non-insulin resistant DM2 model, similarly to other insulin resistant models, such as obesity, suggesting that CNTF protective effects might involve mechanisms other than just increased insulin sensitivity, supposedly through functional beta cell mass maintenance and slower insulin clearance. Financial support: Fapesp/CNPq.
093AnÁLiSe dA eXPReSSÃO de PROTeÍnAS dA ViA de SinALiZAÇÃO de inSULinA eM PRÓSTATA de RATOS TRATAdOS cOM deXAMeTASOnAcosta MM1, Bosqueiro JR1
1 Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus Bauru, Educação Física, SP, Brasil
Introdução: Os glicocorticoides (GC) são amplamente utilizados na prática clínica como agentes anti-inflamatórios e imunossupressores e estão entre as drogas usadas nos tratamentos de cânceres, como o de próstata. Contudo, seu uso prolongado ou excessivo pode desenca-dear o diabetes melito tipo 2, que é caracterizado por hiperglicemia decorrente de resistência periférica à insulina. Estudos de nosso grupo de pesquisa já demonstraram que a administração de dexametasona levou ao aparecimento de hiperinsulinemia compensatória e induziu atrofia epitelial e alterações dos elementos celulares do estroma prostá-tico. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a expressão de proteínas da via de sinalização de insulina em próstata de ratos em um modelo de hiperinsulinemia induzida por dexametasona, destacando entre elas: IR, IRS-1, ERK, p-ERK, AKT, p-AKT, p70, mTOR, AR e GR. Métodos: Ratos Wistar machos foram divididos em grupo con-trole (NaCl 0,9%, 1 mL/kg peso corpóreo) e DEX (dexametasona, 1 mg/kg peso corpóreo), ambos tratados com injeções intraperitone-ais por cinco dias, pesados diariamente. Após o tratamento, os animais tiveram suas próstatas ventrais retiradas para análise da expressão de proteínas por Western Blott (WB). Os resultados são expressos como média ± erro-padrão da média (EPM), e os valores foram corrigidos pela expressão de β-actina, utilizada como controle interno. Resul-tados: Houve redução significativa do peso corporal do grupo DEX (313 g ± 19,740) em relação aos controles (391,5 g ± 12,148), n = 4, p < 0,05. As próstatas de animais do grupo DEX apresentaram significante diminuição na expressão das proteínas IRS-1, AKT, AR e GR (n = 4, p < 0,05), e os valores obtidos para o grupo contro-le e DEX, respectivamente, foram: IRS-1 (1,079 ± 0,087 e 0,830 ± 0,037); AKT (0,978 ± 0,052 e 0,792 ± 0,037); AR (1,810 ± 0,264 e 0,573 ± 0,182); GR (1,302 ± 0,146 e 0,656 ± 0,215). A expres-são da proteína mTOR não foi detectada nos animais tratados com dexametasona e, nos controles (n = 4), o valor obtido foi de 0,710 ± 0,229. Não se observou alteração significativa no conteúdo das demais
proteínas (p > 0,05). Os valores encontrados para o grupo controle e DEX, respectivamente, foram: IR (0,891 ± 0,241 e 0,912 ± 0,245), p70 (0,896 ± 0,149 e 0,633 ± 0,168), ERK (0,924 ± 0,057 e 0,919 ± 0,048), p-ERK (0,605 ± 0,127 e 0,909 ± 0,144), p-AKT (0,630 ± 0,089 e 0,519 ± 0,150). Discussão: Um dos mecanismos responsá-veis pelo efeito diabetogênico do tratamento com dexametasona é a alteração da captação e do transporte de glicose, causado pela redução na expressão das proteínas IRS-1 e AKT. Além disso, a redução nos níveis de AR e GR na próstata de ratos do grupo DEX condiz com estudos anteriores que indicam que os GC podem inibir a sinalização de andrógenos, uma vez que o AR e o GR inibem mutuamente a ativi-dade transcricional um do outro em células cultivadas. Sabendo-se que se a supressão da sinalização de proteínas pode ocorrer alteração na transcrição de genes, estabilidade ou translação do mRNA, ou ainda alterações pós-translacionais, são necessários estudos futuros para es-clarecer os mecanismos exatos neste modelo.Apoio financeiro: Fapesp.
094eFeiTO de UM PROGRAMA de eXeRcÍciO FÍSicO cOM MOniTOReS cARdÍAcOS SOBRe A HeMOGLOBinA GLicAdA eM PAcienTeS diABÉTicOS TiPO 2 nÃO cOnTROLAdOS Toledo MAF1
1 Prefeitura Municipal de Campinas, Centro de Saúde Jardim Florence, Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Grupo de Exercício Físico como Terapêutica na Clínica Médica, SP, Brasil
Introdução: O exercício físico é tido como pedra angular no trata-mento do diabetes (DM), todavia não é usado como tal, ficando em segundo plano nas consultas médicas de rotina, provavelmente pelo fato de ser uma terapêutica de difícil adesão. Assim, a proposta deste trabalho é estabelecer uma consulta médica voltada para o exercício, por meio de um programa individualizado de caminhadas para pa-cientes diabéticos não controlados. Inicialmente, os pacientes foram avaliados com teste de esforço e ventilometria, exame comparável à ergoespirometria, uma vez que detecta o limiar ventilatório (ou 2º li-miar ventilatório). Por meio desse dado pode-se indicar uma zona de treinamento individual baseada na frequência cardíaca, associado ao uso de um monitor cardíaco de pulso, o qual será um referencial para a intensidade adequada para cada paciente. Método: Participaram do estudo quatro pacientes diabéticos tipo 2 não controlados pelo exame da hemoglobina glicada (A1C): acima de 6,5%, idade média de 58,5 ± 1,5 anos, IMC de 30,5 ± 5 kg/m2, sendo três pacientes do sexo feminino e um do sexo masculino. A média da A1C foi de 9,65% ± 1,45%. Todos receberam uma prescrição semanal ou quin-zenal de caminhadas, com tempo, intensidade e dias predefinidos. O programa de treinamento físico consistiu de sessões de exercício aeróbio de caminhadas, realizado em intensidade moderada, estabe-lecido pela média de batimentos em torno do 1º limiar ventilatório, que corresponde a 85% do 2º limiar ventilatório, com duração entre 30 a 60 minutos diários e frequência de cinco vezes por semana. Resultados: Após dois meses de treinamento físico, houve redução média de 30,41% da A1C em relação à A1C inicial (p < 0,05). Dis-cussão: Esse resultado indica que o exercício pode levar à melhora do controle glicêmico, desde que seja indicado em uma consulta mé-dica direcionada para a prescrição de exercícios físicos. A intensidade, a duração e a frequência das atividades se mostraram essenciais para o bom resultado, fato que leva a um questionamento das orientações usuais de atividade física diária sem o devido controle da intensidade. Referências: 1. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. 3 ed.; 2009. 2. Sigal RJ, Kenny GP, et al. Physical activity⁄exercise and type 2 diabetes: a consensus statement from the American Diabetes As-sociation. Diabetes Care. 2006;29:1433. 3. Morrato EH, Hill JO, et al. Are Health Care professionals advising patients with diabetes or at risk for developing diabetes to exercise more? Diabetes Care. 2007;30:203. 4. Diretrizes do American College of Sports Medicine para os testes de esforço e sua prescrição. 7. ed.; 2007.
S128
ReSUMOS de PÔSTeReS
095AVALiAÇÃO dA APLicAÇÃO dO MÉTOdO de cOnTAGeM de cARBOidRATOS PARA PAcienTeS diABÉTicOS TiPO 2Ambrosio AcM1, Martins MR1, Queiroz MS2, Martins MR1, nery M2
1 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), Divisão de Nutrição e Dietética. 2 HC-FMUSP, Grupo de Diabetes do Serviço de Endocrinologia e Metabologia, Disciplina de Clínica Médica, SP, Brasil
Introdução: O diabetes é uma doença cuja prevalência está aumen-tando em todos os países, especialmente naqueles em desenvolvi-mento, com relação direta ao aumento da obesidade. Seu tratamento está cada vez mais complexo e frequentemente inadequado, levando ao aumento de demanda pessoal e social em virtude do absenteísmo nas consultas, aumento de internações e baixa capacidade produ-tiva. Suas complicações crônicas podem acarretar maior morbida-de, mortalidade e piora da qualidade de vida, assim como provo-car grande necessidade de recursos econômicos destinados à saúde. A complexidade da doença, assim como o avanço no entendimento de sua fisiopatologia e terapêutica, exige acompanhamento multi-profissional com estratégias que motivem o paciente a controlar me-lhor a doença e evitem o surgimento de complicações relacionadas ao diabetes. A contagem de carboidratos é uma dessas estratégias que proporciona ao paciente maior flexibilidade do plano alimentar e melhor controle da glicemia pós-prandial. O presente estudo ob-jetivou avaliar a aplicação do método de contagem de carboidratos realizada pelos pacientes diabéticos tipo 2, após a participação no curso de contagem de carboidratos no ambulatório de diabetes do Hospital das Clínicas – FMUSP. Metodologia: Estudo transversal, com 21 pacientes, que participaram do curso de contagem de car-boidratos no ano de 2008, o qual teve duração de 4 horas e abor-dou temas como: dieta saudável, produtos diet e light, leitura de rótulo, além da contagem de carboidratos com especial enfoque na substituição de carboidratos e manutenção de suas quantidades nas refeições. Foram analisados os dados antropométricos dos pacientes, a hemoglobina glicada antes e após o curso, recordatório alimen-tar habitual, frequência alimentar e as respostas de um questionário para avaliar os resultados da aplicação do método da contagem de carboidratos. Resultados: Observou-se que 76% dos participantes deste estudo eram do sexo feminino, com alta prevalência de obesi-dade (75%), sendo 38% com obesidade grau I, 12% com obesidade grau II e 25% com obesidade grau III. Verificou-se que, apesar de os pacientes entenderam a substituição correta dos grupos alimentares, principalmente dos carboidratos, a maioria não realizou a contagem de carboidratos (52%), mas houve introdução de novos alimentos re-lacionados à dieta saudável como cereais integrais, leite desnatado e frutas. Observou-se redução importante da hemoglobina glicada de 8,42 ± 0,02% (antes do curso) para 7,66 ± 0,01% (depois do curso). Conclusão: A contagem de carboidratos para diabéticos tipo 2 pode ser uma ferramenta para auxiliar no tratamento de pacientes selecio-nados, proporcionando a melhora do controle glicêmico.
096BAROPOdOMeTRiA e RnM nO diAGnÓSTicO PRecOce dA neUROARTROPATiA de cHARcOT eM PAcienTeS diABÉTicAScordeiro TL1, Leite Sn1, Barros ARSB2, Barbosa MHn3, cipriani FRAde M1
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Interunidades em Bioengenharia da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), Instituto de Química de São Carlos (IQSC), e Departamento de Clínica Médica, Divisão de Dermatologia. 2 Hospital das Clínicas da FMRP-USP, Centro de Reabilitação. 3 FMRP-USP, Clínica Médica, SP, Brasil
Introdução: O diabetes melito (DM) é caracterizado por uma sín-drome crônica, de evolução degenerativa, acometendo vários órgãos e tecidos. Na neuroartropatia de Charcot (NC) ocorre neuropatia
sensorial e motora, além do comprometimento articular pela glico-lisação irregular do colágeno causado pela doença, levando à altera-ção dos pontos de pressão, traumas e úlceras. O diagnóstico precoce da doença é extremamente importante para promover a redução da sobrecarga, do estresse osteoarticular e, consequentemente, di-minuir ulcerações e amputações. O objetivo do estudo foi avaliar precocemente a NC por ressonância nuclear magnética (RNM) e baropodometria em pacientes diabéticos. Métodos: Foram selecio-nadas aleatoriamente 4 pacientes com DM tipo 2 e suspeita de NC. Submetidas ao exame clínico dos pés avaliando: edema, temperatura, úlceras, dor, além do exame biomecânico. Posteriormente, foram submetidas à RM e baropodometria estática, por 30 segundos sobre plataforma de força para aferir picos de pressão plantares em ambos os pés. No exame baropodométrico foram consideradas as variáveis individualmente, a saber: IMC, número de sensores ativados, super-fície de total de contato, somatório e média da força aplicada na região do mediopé, calculadas em ambos os pés. Definiu-se por me-diopé a área da linha imaginária entre cabeças do 1° e 5° metatarsos e o início do calcâneo. Foi aplicado o teste de Wilcoxon para o cálculo das diferenças entre os pés direito e esquerdo. Resultados/Discus-são: Foram selecionadas 4 pacientes com DM tipo2 descompensada e suspeita de pé de Charcot, entre 60 e 71 anos, apresentando dor no pé esquerdo, mobilidade reduzida da articulação subtalar, edema em tornozelo e mediopé, queda do arco longitudinal. À RM, todas pacientes apresentaram erosões periarticulares nos ossos do tarso e regiões metatársicas proximais; edema de partes moles, compatível com diagnóstico precoce de neuroartropatia de Charcot. À baropo-dometria, a média de sensores ativados nos pés direitos foi de 41,3, para uma superfície de 112,5 cm², inferiores à média dos esquer-dos, de 60,7 e 119,1 cm², respectivamente. Quanto ao somatório da força aplicada nos mediopés direitos, a média foi de 2028,8 Kpa, inferior à média dos esquerdos, de 2877,5 Kpa. Foram observadas as respectivas diferenças estatísticas entre os pés D e E das pacientes: 1) p = 0,0002; 2) p = 0,57; 3) p = 0,0014; 4) p = 0,0035. Quanto à análise do IMC, todas as pacientes estavam obesas, com IMC acima de 30, destacando a paciente 2, com IMC de 38, podendo ser esse o fator relacionado à ausência de diferença estatística entre as forças exercidas nos seus mediopés direito e esquerdo. A neuroartropatia de Charcot foi diagnosticada por sinais incipientes de agressão arti-cular nos mediopés à RNM. Achados corroborados pelas diferenças encontradas à baropodometria, como número de sensores e força exercida nos mediopés, constituindo-se numa importante ferramenta de baixo custo, indolor e não invasiva para o diagnóstico precoce do Mal de Charcot associado ao diabetes melito. Financiadora: FAEPA.
097FRAÇÃO F1 dO LÁTeX dA SeRinGUeiRA HEVEA BRASILIENSIS AceLeRA A cicATRiZAÇÃO de ÚLceRAS diABÉTicAS eM RATOSAndrade TAM1, Masson dS1, Foss Mc1, cipriani Frade M1
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Clínica Médica, Dermatologia, SP, Brasil
Introdução: Inúmeros trabalhos têm demonstrado o efeito cicatri-zante da biomembrana de látex da seringueira Hevea brasiliensis em pessoas com diabetes melito, principalmente quanto às propriedades desbridante e angiogênica relacionadas diretamente à fração proteica F1. Seu mecanismo de ação ainda é desconhecido, sendo importante avaliar a eficácia da F1 na cicatrização de úlceras cutâneas em ratos diabéticos, comparando com animais normais. Métodos: Foram uti-lizados 80 ratos Wistar (40 normais e 40 induzidos ao diabetes por streptozotocina 45 mg/kg), submetidos a úlceras dorsais por punch (1,5 cm de diâmetro), tratadas com carboximetilcelulose (CMC) gel a 4% (grupo sham) e CMC + F1 0,01%, seguidas no 2º, 7º, 14º e
S129
ReSUMOS de PÔSTeReS
21º dias após a lesão, e foram sacrificados 10 animais por tempo de cada grupo. Foram calculados os índices de cicatrização das úlceras (ICU), e em lâminas histológicas coradas com HE foram contados células inflamatórias, vasos neoformados e fibroblastos pelo Plugin “Cell counter” do software ImageJ. Resultados: No 2º dia o grupo normal sham apresentou maiores ICU que F1 (p = 0,0009), en-quanto entre o diabético F1 foi maior do que o sham (p = 0,003). Quanto ao infiltrado inflamatório, o estado metabólico do diabetes induziu maior quimiotaxia na pele, que aumentou com a injúria até o 2º dia, principalmente quando associado ao F1, e se manteve no 14º e 21º dia de seguimento superior aos normais. Quanto ao nú-mero de vasos, F1 parece estimular a angiogênese, com tendência superior quando nos animais diabéticos no 7º e 14º dias de segui-mento, embora sem diferença estatística. A fibroplasia foi significan-temente menor nos grupos diabéticos em relação aos normais, ini-ciando já no 2º dia, mantendo-se até o 21º dia, fato esse que pode estar relacionado à aceleração da reepitelização das úlceras entre os animais diabéticos e consequentemente maiores ICU. Discussão: Os resultados demonstraram que o processo inflamatório desenca-deado pelo estresse metabólico do diabetes melito parece se somar e interagir ao estímulo induzido por F1, acelerando a cicatrização das úlceras cutâneas em relação aos normais. Entidades financiadoras: Fapesp, Capes, CNPq, FAEPA. Agradecimentos: Prof. Dr. Sérgio Britto Garcia, técnicas de histologia Sra. Rosângela Orlandin Lopes e Sra. Auristela M. Martins
098POLiMORFiSMO nO Gene QUe cOdiFicA A enZiMA TRAnSceTOLASe cOMO FATOR de PROTeÇÃO PARA dOenÇA RenAL cRÔnicA eM PAcienTeS diABÉTicOS TiPO 1 Monteiro MB1, Vieira SMS2, Barros RK3, Rocha T1, nery M4, Queiroz MS1, Vendramini MF5, Azevedo MJ6, Giannella-neto d1, canani LHS7, correa-Giannella MLc1
1 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Endocrinologia. 2 FMUSP, Clínica Médica, Disciplina de Endocrinologia. 3 Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) de São Paulo, Clínica Médica. 4 FMUSP, Clínica Médica. 5 Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp/EPM), Endocrinologia. 6 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Serviço de Endocrinologia. 7 Hospital de Clínicas de Porto Alegre, RS, Brasil
Introdução: O aumento da ativação de quatro vias bioquímicas re-lacionadas à hiperglicemia contribui para as complicações crônicas do diabetes: (1) via dos polióis; (2) via das hexosaminas; (3) pro-teinocinase C e (4) produtos finais da glicação avançada (AGE). Em condições de hiperglicemia, o excesso dos produtos da glicólise frutose-6-fosfato (F6P) e gliceraldeído-3-fosfato (GA3P), envolvidos respectivamente na ativação da via das hexosaminas e dos AGE, pode ser desviado para a via das pentoses fosfato pela enzima transcetolase (TK). Em estudos animais, a ativação dessa enzima por seu cofator tiamina preveniu o aparecimento de complicações microvasculares. Por seu papel na diminuição intracelular de F6P e GA3P em con-dições de hiperglicemia, polimorfismos no gene que codifica a TK (TKT) são candidatos a influenciar a predisposição genética de um paciente diabético ao desenvolvimento de complicações e nunca fo-ram estudados. O objetivo deste estudo foi avaliar em diabéticos tipo 1 a associação entre a presença de doença renal crônica (DRC) e o polimorfismo rs7637934 no promotor do gene TKT. Esse po-limorfismo tem potencial de ser funcional por estar localizado em uma região de ligação ao fator de transcrição HNF-4a e, segundo o programa Genomatix, a substituição do alelo ancestral T pelo alelo polimórfico G criaria um sítio de ligação ao PPAR-g. Métodos: 209 pacientes com 15 anos ou mais de diagnóstico e mau controle glicê-mico foram divididos em dois grupos: (1) 132 pacientes sem DRC a DRC estágio 2 (RFG < 60 mL/min) e (2) 77 pacientes com DRC estágios 3 a 5 (RFG < 60 mL/min) ou em terapia de reposição renal
ou com história de transplante renal. O RFG foi estimado pela fór-mula do MDRD. A genotipagem foi feita pelo sistema de detecção TaqMan®, utilizando-se PCR em tempo real. Resultados: Os dois grupos de pacientes não diferiram entre si quanto ao controle glicê-mico (HbA1C de 8,75% vs. 8,9%), mas os pacientes com RFG > 60 mL/min apresentavam pressão arterial sistólica, pressão arterial dias-tólica e trigliceridemia significativamente menores que os pacientes com RFG < 60 mL/min. Dentre os pacientes com RFG > 60 mL/min, 60,6% eram heterozigotos (GT) ou homozigotos (GG) para o alelo polimórfico e 39,4% eram homozigotos para o alelo ancestral (TT). Dentre os pacientes com RFG < 60 mL/min, 45,5% eram por-tadores dos genótipos GT ou GG e 54,5% eram portadores do alelo TT. O alelo polimórfico conferiu proteção para a presença de DRC (OR = 0,542; IC 95% = 0,307 – 0,956). Conclusões: É possível que o polimorfismo rs7637934 aumente a atividade transcricional do promotor do gene TKT, resultando em aumento dos níveis de TK; desvio de F6P e GA3P para a via das pentoses; e proteção contra lesão renal em diabéticos mal controlados. O aumento da casuística e o estudo funcional são necessários para confirmar essa hipótese.
099cARAcTeRÍSTicAS dO PeRFiL SÉRicO dA inSULinA LiSPRO APÓS APLicAÇÃO POR ViA SUBcUTÂneA iSOLAdA OU MiSTURAdA cOM A inSULinA GLARGinA nO diABeTeS MeLiTO TiPO 1Lucchesi MBB1, Komatsu WR1, Gabbay M1, diB SA1
1 Centro de Diabetes, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Endocrinologia, SP, Brasil
Introdução: O tratamento com múltiplas doses de insulina como parte do controle intensivo reduz as complicações microvasculares do diabetes melito tipo 1 (DM1)1. Entretanto, o número de aplica-ções diárias de insulina é também um dos fatores que comprometem a aderência à terapêutica2. A mistura da insulina lispro (IL) com a insulina glargina (IG), inicialmente não recomendada, permanece em discussão3-5. Até o nosso conhecimento nenhum dos estudos comparou os níveis séricos específicos de IL e IG quando aplica-das conjuntamente. O presente estudo tem como objetivo avaliar o perfil sérico da IL e a glicose plasmática após aplicação subcutânea (s.c) de IL e IG isoladas (i) e misturadas (m), como também verificar o controle glicêmico desses indivíduos após um período de trata-mento de três meses com as insulinas misturadas. Métodos: Foram estudados 7 DM1 (idade 21,5 ± 2,5 anos – média + dp –; TDDM1 13,1 ± 4,4 anos; IMC 25,6 ± 2,6 kg/m2 e HbA1c 8,2 ± 0,5%). Os indivíduos realizaram dois testes de refeição mista padronizada com coletas de sangue sucessivas nos tempos 0, 5, 15, 30, 60, 120 e 180 min para avaliação da glicose plasmática [método enzimático – Hexoquinase II (Advia 2400, Siemens®)] e insulina sérica [radio-imunoensaio específico para IL (Millipore®)] após aplicação s.c de 0,1 U/kg e 0,4 U/kg de IL e IG (respectivamente) isoladas ou misturadas. O controle glicêmico foi avaliado por meio da HbA1c (HPLC, vn: 4,0% a 6,0%) e do perfil de glicose intersticial [CGMS (Medtronic®)], realizados antes e três meses após o tratamento com as insulinas misturadas. Análise estatística: SPSS-17.0; p < 0,05 foi considerado significante. Resultados: concentração máxima (Cmax) média de IL (i = 39,5 ± 29,1 µU/mL vs. m = 15,0 ± 5,6 µU/mL, p = 0,028) e tempo máximo (tmax) médio para atingir a Cmax (i = 47,1 ± 16,0 x m = 62,1 ± 30,5 min, p = 0,141). Não houve diferença significativa entre os níveis de glicose plasmática (durante o teste de refeição mista), de glicose intersticial (CGMS) e HbA1c (i = 8,2 ± 0,5% vs. m = 8,1 ± 2,0%, p = 0,734) após o tratamento com a IL e IG aplicadas isoladas e misturadas. Discussão: A mistura da IL com a IG na mesma seringa não alterou de forma significativa o tempo necessário para atingir a Cmax, mas reduziu os níveis séricos da IL.
S130
ReSUMOS de PÔSTeReS
Entretanto, essas alterações na biodisponibilidade da IL, quando aplicada de forma misturada com a IG, não foram suficientes para alterar o controle glicêmico nesse grupo de pacientes. Referências: 1. The DCCT Research Group. N Engl J Med. 1993;329:977. 2. Odegard P. Diabetes Educ. 2008;34:692. 3. Kaplan W. Diabetes Care. 2004;27:2739. 4. Fiallo-Scharer R. J Pedriatr. 2006;148:481. 5. Hassan K. Pedriatr. 2008;121:466. Apoio: Capes-PROEX.
100eFeiTO dA ReSTRiÇÃO cALÓRicA eM RATOS SUBMeTidOS AO TRATAMenTO cOM OLiGOnUcLeOTÍdiO AnTiSenSe dA AMPK Filho JeT1, Ueno M2, Ribeiro RA3, Vanzela ec3, Barbosa Hc3, Lucio PA4, Boschero Ac3, Amaral Mec5
1 Centro Universitário Hermínio Ometto (Uniararas), Biomedicina. 2 Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp), Clínica Médica. 3 Unicamp, Fisiologia e Biofísica. 4 Uniararas, Núcleo de Ciências da Saúde. 5 Uniararas, Ciências Biomédicas, SP, Brasil
Introdução: A restrição calórica (RC) promove o controle do me-tabolismo de lipídios em virtude da redução de gordura corporal, de carboidratos e de insulina circulante e ao mesmo tempo aumenta a sensibilidade periférica, proporcionando ao organismo retardo no envelhecimento. Evidências recentes sugerem que a AMPK (protei-nocinase ativada por AMP) modula a redução da secreção de insulina nos animais restritos. O propósito do presente estudo foi investigar a participação da AMPK no metabolismo glicídico e lipídico de ratos submetidos à RC. Métodos: Foram utilizados ratos machos Wistar de 8 semanas de idade, fornecidos pelo biotério da Uniararas. Du-rante o período experimental o grupo Controle (C) recebeu ração comercial ad libitum, e o grupo Restrito (R) recebeu 60% da in-gestão calórica do grupo C durante 21 dias. No 18° dia os animais foram divididos em quatro grupos: C e R tratados com antisense e C e R tratados com sense. Estes receberam, duas vezes ao dia, inje-ção i.p. de oligonucleotídio antisense e sense, dose de 3 nM, para a AMPK até completar 21 dias. Após esse período realizaram-se parâ-metros bioquímicos plasmáticos, o teste de tolerância i.p. à glicose (GTTi.p.), secreção de insulina por ilhotas isoladas em diferentes concentrações de glicose e Western Blotting para a AMPK total e fosforilada em ilhotas e fígado. Resultados: Observou-se inibição da AMPK feita pelo oligonucleotídio tanto em fígado quanto em ilho-tas, validando o modelo animal. Os níveis plasmáticos de colesterol e triacilglicerol foram maiores nos animais tratados com antisense, em comparação aos animais tratados com sense. O GTTi.p mostrou intolerância à glicose somente animais R tratados com antisense nos tempos 90 e 120 minutos em comparação aos demais grupos. Hou-ve aumento na secreção de insulina em ilhotas isoladas induzida por glicose nas concentrações de 8,3 e 16,7 mM em animais tratados com o antisense C e R versus ilhotas de animais C e R tratados com sense. Discussão e conclusão: Os níveis plasmáticos altos de coles-terol e triacilglicerol estão normalmente associados à resistência pe-riférica à insulina e aumento da gliconeogênese. Assim, a intolerância à glicose observada no animal R tratado com antisense pode ser por causa do aumento da gliconeogênese que é inibida pela atividade da AMPK. Ainda, o aumento na secreção de insulina nos animais R tratados com antisense está de acordo com estudos que indicam que a ativação da AMPK inibe a liberação de insulina para manter a homeostasia glicêmica. Dessa forma, a inibição em vez da ativação seria desejável para o tratamento do diabetes tipo 2, a fim de rever-ter a queda dos níveis de secreção de insulina induzida por glicose. Concluindo o presente trabalho, sugere-se que a inibição da AMPK, por meio do uso de oligonucleotídio, pode modular o metabolismo de carboidratos e lipídios em animais restritos. Apoio financeiro: Fa-pesp, CNPq/PIBIC, Uniararas.
101GLiceMiA ALTeRAdA e FATOReS de RiScO ASSOciAdOS eM SeRVidOReS dA UniVeRSidAde eSTAdUAL PAULiSTA (UneSP)Trevizani nitsche MJ1, Olbrich SLR1, Olbrich J2, Mori, nLR1
1 Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Medicina de Botucatu, Enfermagem. 2 Unesp, Pediatria, campus Botucatu, SP, Brasil
Introdução: O diabetes é considerado problema de saúde pública, em razão da elevada prevalência, acentuada morbidade e mortalidade e repercussões econômicas e sociais. Grande número de pessoas com diabetes apresentam obesidade, hipertensão arterial e dislipidemia e o excesso de açúcar seria o elo entre esses distúrbios metabólicos. Tal fato remete a importantes implicações para a abordagem preventiva, sendo necessária a intervenção em diferentes aspectos, principalmente relacionados ao estilo de vida. Objetivos: Identificar indivíduos com glicemia alterada e fatores de riscos associados à doença cardiovascu-lar. Métodos: Estudo quantitativo realizado entre agosto de 2003 e maio de 2008, com servidores que compareceram na campanha “Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças”. A coleta dos dados ocorreu por procura voluntária, com preenchimento de questionário com dados pessoais e epidemiológicos; foram verificados peso, altura e pressão arterial e coletado sangue por punção digital para verifica-ção dos valores de glicose e colesterol total. Todos participantes que apresentaram anormalidades passaram por consulta de enfermagem; foi repetido exame no dia seguinte e eles foram orientados a realizar acompanhamento médico. Foram considerados diabéticos aqueles com valores iguais ou superiores a 120 mg/dl em jejum e aqueles que não se encontravam em jejum, com valor igual ou acima de 200 mg/dl. Foram informados quanto ao estudo e assinaram termo livre e esclarecido. Resultados: Foram atendidos 3.194 servidores; 6,3% se encontravam com a glicemia alterada, 77,4% desconheciam essa situação; para aqueles que se encontravam em jejum (68 pessoas), o valor máximo foi de 351 mg/dl, a média de idade foi de 44 anos; 42% apresentavam IMC normal, 16,1% eram fumantes, 33,2% eram hi-pertensos, 18,2% tinham colesterol alterado, 68,7% eram sedentários e 42,8% tinham antecedentes de diabéticos na família. Para aqueles que não se encontravam em jejum (133 pessoas), o valor máximo foi de 582 mg/dl, e a média de idade, de 48,7 anos; 32% apresentavam IMC normal, 18,8% eram fumantes, 33,8% eram hipertensos, 15% tinham colesterol alterado, 72,2% eram sedentários e 38,2% tinham antecedentes de diabéticos na família. Conclusão: Foi elevada a pre-valência de fatores de risco associados às doenças cardiovasculares em servidores da Unesp, bem como o desconhecimento desse problema entre a maioria deles. Para aqueles que já sabiam ser diabéticos, fo-ram observados valores extremamente elevados de glicemia e des-conhecimento quanto às necessidades de realização de dieta alimen-tar, atividade física regular e uso dos medicamentos de uso contínuo prescritos pelo médico. O envolvimento das universidades não só na avaliação do perfil de risco de seus estudantes e servidores, como tam-bém no processo educacional, esclarecendo os benefícios advindos com a adoção de um estilo de vida saudável, é de grande valia. Refer-ência: American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care. 2005;28(Supl 1). http://www.diabetes.org.br/educacao/docs/Diretrizes (26/01/2010). Apoio: PROEX e Faculdade de Medicina de Botucatu – Unesp.
102FiBRA de cOcO AUMenTA nÍVeiS de HdL-c e RedUZ GLiceMiAnakano MT1, Tosato Mi1, noro KA2, Sândalo RH2, Herculiani AP, Silva SRF2, carlos PV1, Santos, LMP1, Guiguer eL1, Bueno PcS1, Souza MSS3, Machado FF2, delazari dS2, Araujo Ac1
1 Universidade de Marília (Unimar), Medicina. 2 Faculdade de Tecnologia (Fatec), Tecnologia de Alimentos. 3 Unimar, Farmacologia, SP, Brasil
Introdução: As doenças cardiovasculares estão entre as grandes causas de morte no mundo moderno. Isso ocorre em virtude das
S131
ReSUMOS de PÔSTeReS
mudanças nos padrões de vida que tendem ao consumo de alimen-tos altamente energéticos (fast food), associado ao sedentarismo, que culminam no desenvolvimento de fatores de risco de desenvol-ver diabetes e doenças vasculares como hiperglicemia, dislipidemias e hipertensão arterial. Objetivos: O objetivo deste trabalho foi ava-liar os efeitos da fibra de coco torrada e crua no perfil bioquímico de ratos Wistar. Metodologia: Trinta animais da linhagem Wistar com aproximadamente 250 g foram aleatoriamente separados em três grupos (G1 = controle; G2 = tratado com ração adicionada de fibra de coco crua e G3 tratado com ração adicionada de fibra de coco torrada). Para os animais de G2 e G3 a ração foi preparada na proporção de 50% de ração comercial para rato e 50% de fibra de coco (torrada ou crua). Para isso, tanto a ração quanto a fibra fo-ram trituradas em moinho e umedecidas para peletização na forma desejada. Os pelets foram aquecidos em estufa a 600C para secagem. Os animais foram tratados por 40 dias com água e ração ad libi-tum. Foram, então, anestesiados com pentobarbital sódico e foram colhidas amostras de sangue para as análises de glicemia, HDL-c, PCR, creatinina e AST. Resultados e discussão: Os animais tra-tados com a fibra de coco (tanto crua quanto torrada) mostraram redução significativa na glicemia – G1 (152,0 +- 16,51); G2 (125,7 +- 23,87) e G3 (118,5 +- 25,66) – e aumento significativo nos níveis de HDL-c – G1 (24,9 +- 2,885); G2 (35,30 +- 5,376) e G3 (34,20 +- 4,849). Também foram observadas reduções significati-vas no peso da gordura visceral: G1 (3,952 +- 2,134); G2 (1,313 +- 0,7211) e G3 (2,052 +- 1,877). Não foram observadas diferenças significativas, PCR, creatinina e AST. Conclusões: Esses resultados indicam que o uso da fibra de coco pode trazer benefícios no con-trole da glicemia, na redução da gordura visceral e no aumento dos níveis de HDL-c.
103PReVALÊnciA de ReSiSTÊnciA inSULÍnicA enTRe cRiAnÇAS e AdOLeScenTeS PORTAdOReS de SOBRePeSO e OBeSidAdeAlmeida cAn1, Mello ed2, Ribas MG3, Marcelino AcR1, Beghetto M2
1 Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp)/Abran, Pediatria. 2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)/Abran, Pediatria. 3 Unaerp, Medicina, SP, Brasil
Introdução: A resistência insulínica é reconhecida como o elemento disparador e mantenedor da síndrome metabólica, desde a infância. Para sua avaliação, têm sido utilizados a insulinemia de jejum e o HOMA. O presente estudo visa avaliar a prevalência de resistência insulínica entre crianças e adolescentes portadores de sobrepeso e obesidade, atendidos em ambulatórios de nutrologia de duas cidades do Brasil. Métodos: Foram avaliados 383 indivíduos, com idades entre 7 e 18 anos, portadores de sobrepeso e obesidade, definidos como percentil de IMC acima de 85, atendidos no Centro de Estu-dos em Saúde e Nutrologia Infanto-Juvenil da Unaerp (n = 224) e no Ambulatório de Nutrologia da UFRGS (n = 159). Para avaliar a prevalência de resistência insulínica, de cada paciente foram obtidas a insulinemia de jejum por quimiluminescência e a glicemia de jejum pelo método enzimático da hexoquinase e foi calculado o HOMA pela equação proposta por Matteus: glicemia (mol/dL) x insuline-mia (uUI/mL)/25. Foi utilizado o ponto de corte de 15 uUi/ml para insulinemia e de 3,16 para o HOMA. Resultados: A preva-lência de resistência insulínica avaliada por meio da insulinemia de jejum foi de 39,16% e, por meio do HOMA, de 40,47%. Discussão: Crescem as evidências científicas de que os distúrbios metabólicos que habitualmente acompanham o excesso de gordura corpórea já se manifestam na infância. Os dados do presente estudo mostram que, entre os indivíduos avaliados, a prevalência de resistência insulínica mostrou-se extremamente alta, apontando para elevada prevalência de síndrome metabólica entre crianças e adolescentes obesos.
104HiGH inSULin dOSeS indUce PeRiPHeRAL And HePATic inSULin ReSiSTAnce in diABeTic RATSOkamoto MM1, Anhê GF2, Silva RS3, Marques MFSF4, Freitas HSde5, Mori RcT3, Machado UF3
1 Universidade de São Paulo (USP), Fisiologia. 2 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Farmacologia. 3 USP, Instituto de Ciências Biomédicas (ICB), Departamento de Fisiologia e Biofísica. 4 USP, Fisiologia. 5 USP/ICB, SP, Brasil
Introduction: Insulin resistance involves reduced peripheral glucose uptake and/or increased hepatic output. Considering that peripheral hyperinsulinemia is observed in insulin diabetes type 1, we hypothesize that tigh glycemic control by using high doses of insulin might induce insulin resistance. The present study investigated in diabetic rats the effect of different doses of insulin on insulin sensitivity, as well as poten-tial involved molecular mechanisms. Methods: Three month-old rats were rendered diabetic by injection of alloxan (38 mg/kg b.w.). Two weeks later they were submitted to treatment with saline (DS) or NPH insulin in different daily doses 1.5U (I1.5), 3U (I3), 6U (I6) and 9U (I9) for 7 days. Non diabetic rats (ND) were studied as a control group. After the treatments we analyzed: a) whole body insulin sensitivity, by analyzing basal glycemia and glucose disappearance rate (kITT) during insulin tolerance test (ITT); b) GLUT4 protein of white adipose tissue (WAT) and gastrocnemius (G) skeletal muscle; d) in liver: insulin sig-naling, Foxo-1 protein subcellular distribution, PEPCK (phosphoenol-pyruvate carboxykinase) and G6Pase (glucose 6 phosphatase) gene ex-pressions. Results: Diabetic rats showed a significant decrease (~ 54% vs. ND, P < 0.05) in the kITT. I3 increased kITT to the highest values among all the studied groups (~ 250%, P < 0.001). I6 and I9 increased kITT (P < 0.01 vs. DS) of diabetic rats but did not restore it to that of ND values (P < 0.05 vs. ND). As expected, DS rats were markedly hyperglycemic (P < 0.001 vs. ND). I3, (~ 34% P < 0.05) reduced basal glycemia without bringing it back to ND values. I6 and I9 restored the basal glycemia to values similar to that found ND rats (DI6 ~ 61%, DI9 ~ 71%, P < 0.01 vs. DS). I3, I6 and I9 similarly increased WAT GLUT4 protein (~ 200%, P < 0.01). Differently, only I3 increased G GLUT4 protein (~ 20%, P < 0.05 vs. ND, DS, I6 and I9). Liver insu-lin signaling analysis of I3-treated rats showed increased basal values of phosphorylated-(p)-Irβ (100%, P < 0.01) and p-Akt Ser (~ 35%, P < 0.05 vs. I6 and I9). Akt is translocated to the nucleus after insulin treat-ment where it can phosphorylate Foxo-1. Phosphorylation leads to nuclear exclusion and inhibition of Foxo1-dependent transcription of G6Pase and PEPCK which are rate limiting enzymes for gluconeogen-esis. Subcellular distribution analysis of Foxo-1 indicated in liver cyto-sol that it was decreased in DS (~ 39%, P < 0.001 vs. ND) and increased in I3 (~ 72%, P < 0.001 vs. DS, I1.5, I6 and I9). I3 reduced PEPCK (P < 0.05 vs. DS, I1.5, I6 and I9) and G6Pase (P < 0.05 vs. DS, I1.5, I6 and I9) gene expressions. I6 and I9 overexpressed these genes (PEPCK ~ 169% vs. ND, ~ 46% vs. D; G6Pase ~ 190% vs. ND, ~ 53% vs. DS, P < 0.05). Conclusions: Intermediary insulin dose (I3) improved insulin sensitivity, probably by increasing GLUT4 protein expression (WAT and G) and liver insulin sensitivity. However, this dose of insulin was not enough to normalize glycemia. On the other hand, tight glycemic control was achieved by using high doses of insulin (I6 and I9), induced insulin resistance, obesity, decreased muscle GLUT4 expression and liver insulin sensivity. Financial support: Fapesp 2006/60101-1.
105A SenSiBiLidAde BARORReFLeXA nA ATiVidAde SiMPÁTicA PARA AS GLÂndULAS SALiVAReS É AUMenTAdA eM RATOS HiPeRTenSOS e diMinUÍdA PeLA indUÇÃO dO diABeTeS Silva RS1, Okamoto MM2, Antunes VR2, Machado UF3
1 Universidade de São Paulo (USP), Instituto de Ciências Biomédicas, Departamento de Fisiologia e Biofísica. 2 USP, Fisiologia. 3 USP, Fisiologia e Biofísica, SP, Brasil
Introdução: A atividade simpática para as glândulas salivares é fun-damental no controle da secreção salivar e na modulação da expres-
S132
ReSUMOS de PÔSTeReS
são de genes. Recentemente se demonstrou que a atividade sim-pática para as glândulas salivares é reduzida em animais diabéticos. Avaliou-se a atividade simpática para as glândulas salivares de ratos após respostas pressoras induzidas por fenilefrina e nitroprussiato de sódio. Métodos: Foram estudados ratos Wistar Kyoto (WKY), WKY diabéticos (WKY-D), espontaneamente hipertensos (SHR), SHR diabéticos (SHR-D) e WKY após desnervação sinoaórtica (SAD). O diabetes foi induzido, 30 dias antes do estudo, por meio de in-jeção de aloxana. Ao final do protocolo, registraram-se a pressão arterial (PA) e a frequência cardíaca em ratos não anestesiados. A mensuração da atividade simpática (amplitude e frequência) de neu-rônios pós-ganglionares para as glândulas salivares foi realizada em ratos anestesiados com uretana (1 g/kg, iv). Resultados: Após a injeção de fenilefrina (10 µg/kg iv), foi verificado aumento da PA e da atividade simpática em WKY, WKY-D, SHR e SHR-D; entre-tanto, em ratos SAD ocorreu aumento da pressão arterial, mas não da atividade simpática para as glândulas salivares. O slope entre a re-lação da variação da atividade simpática com a da PA foi aumentado em ratos SHR quando comparados com WKY e diminuído após a indução do diabetes em ratos WKY e SHR (P < 0,05). Quando foi injetado nitroprussiato de sódio (30 µg/kg) em ratos WKY, ocorreu redução da atividade simpática para as glândulas salivares e redução da PA. Discussão: Os resultados sugerem que os barorreceptores podem regular paralelamente a atividade simpática para as glândulas salivares após alterações da pressão arterial, num mecanismo contrá-rio ao barorreflexo cardíaco. Além disso, aparentemente a sensibili-dade do barorreflexo glandular está diminuída em ratos diabéticos e aumentada em ratos hipertensos. Agência financiadora: Fapesp 2009/16502-0.
106ReLÓGiO ciRcAdiAnO dO TecidO AdiPOSO SUBcUTÂneO eSTÁ enVOLVidO cOM OBeSidAde e SÍndROMe MeTABÓLicA eM HUMAnOSZanquetta MM1, Alonso PA2, Guimarães LMMV2, Bellandi dM2, Meyer A2, Giannella MLcc1, Villares SMF1
1 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Laboratório de Endocrinologia Celular e Molecular, LIM 25. 2 Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos, HPEV, Gastroenterologia, SP, Brasil
Introdução: Alterações na ritmicidade circadiana já foram associadas à obesidade e síndrome metabólica (SM). O adipócito humano pos-sui um relógio circadiano funcional, formado por um conjunto de genes que provavelmente agem na regulação e no controle do meta-bolismo. O objetivo desse estudo foi investigar a expressão dos genes clock e bmal1, responsáveis pelo controle da expressão dos demais genes do relógio, em tecido adiposo subcutâneo de humanos, e suas relações com obesidade e alguns parâmetros que determinam a SM. Métodos: Tecido adiposo subcutâneo foi obtido de 82 pacientes (idade: 41,2 ± 11,7 anos; 58 mulheres e 24 homens) submetidos a diferentes cirurgias abdominais no HPEV. Os indivíduos foram clas-sificados pelo grau de obesidade segundo a OMS, definido de acordo com o índice de massa corporal (IMC = kg/m2): 18,5-24,9 (eutrófi-cos – grau 0; n = 23), 25-29,9 (sobrepeso – grau 1; n = 16), 30-39,9 (obeso – grau 2; n = 21) e ≥ 40 (obesidade mórbida – grau 3, n = 22). Foram avaliados glicemia, triglicérides, colesterol total e frações HDL, LDL e VLDL e pressão arterial sistólica e diastólica. As ex-pressões gênicas de clock, bmal1 e gapdh (controle endógeno) foram avaliadas por PCR em tempo real quantitativo, utilizando-se primers e sondas TaqMan. Os dados foram avaliados estatisticamente pelos métodos ANOVA e correlação de Pearson. Resultados: Os pacientes obesos e obesos mórbidos, quando comparados aos eutróficos, apre-sentaram hiperglicemia (P < 0,001), hipertrigliceridemia (P < 0,03), aumento de VLDL (P < 0,05) e hipertensão arterial sistólica e diastó-lica (P < 0,001 para ambos). Indivíduos eutróficos e com sobrepeso
não apresentaram diferenças significativas entre eles. As expressões gênicas de clock e bmal1 apresentaram-se cada vez menores com o aumento do IMC, e nos obesos graus 2 e 3 a expressão de clock es-tava aproximadamente 30% menor (P < 0,05) e de bmal1 estava 42% menor (P < 0,005). Os genes estavam positivamente correlacionados entre si (r = 0,602, P = 0,000), e suas expressões foram associadas com alguns parâmetros de SM avaliados: clock estava inversamente correlacionado com IMC (P = 0,034); bmal1 estava negativamen-te correlacionado com IMC (P = 0,002) e glicemia (P = 0,027) e positivamente com os níveis de HDL (P = 0,032). Discussão: As expressões gênicas de clock e bmal1 estão diminuídas em tecido adi-poso subcutâneo de pacientes com obesidade e foram associadas ao IMC e a índices determinantes da SM. Esses resultados demonstram a provável participação dos genes do relógio circadiano no controle do metabolismo e nas alterações que podem levar à obesidade e SM. Apoio financeiro: Fapesp 2008/05601-4 e 2009/03065-0.
107HÁ ASSOciAÇÃO enTRe ATiVidAde FÍSicA, HÁBiTO ALiMenTAR e eSTAdO PRÓ-inFLAMATÓRiO?Monfort-Pires M1, Salvador eP1, Barros cR1, Ferreira SRG2
1 Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo (FSP/USP), Nutrição. 2 USP, Medicina Preventiva, SP, Brasil
Doenças relacionadas à alimentação inadequada e sedentarismo apre-sentam cifras alarmantes e crescentes, contribuindo para morbimor-talidade cardiovascular. Um estado pró-inflamatório presente nessas doenças pode ser influenciado pelo padrão dietético e pela prática de atividade física (AF). Para melhor avaliar o impacto da dieta na saúde, foram propostos índices de adequação global da dieta. Pouco se investigou se o Health Eating Index (HEI) – proposto para popu-lação americana – apresenta associação com medidas de AF e estado pró-inflamatório. Neste estudo transversal, envolvendo 184 indivídu-os (121 mulheres; 55,0 ± 12,4 anos e IMC 30,7 ± 5,8 kg/m²) pré-diabéticos ou com síndrome metabólica, participantes de um estudo de intervenção em UBS de São Paulo, foi avaliado se o escore total do HEI e seus componentes se associavam ao nível de AF e parâmetros metabólicos e inflamatórios. Empregaram-se a nova versão do HEI (2005), adaptada para a população brasileira, que resulta em escore de 0 a 100 (mais saudável), e a versão longa do IPAQ para estimar a AF total (lazer + locomoção). Os indivíduos foram classificados em quatro categorias de AF [ativo (A) (n = 80; ≥ 150 minutos e 5 dias/semana), irregularmente ativo A (IA) (n = 43; ≥ 150 minutos ou 5 dias/semana), irregularmente ativo B (IB) (n = 71; não atinge tal frequência ou duração) e sedentário (S) (n = 21; < 10 minutos se-manais)] e comparados quanto ao escore total e dos componentes do HEI e de outras variáveis por ANOVA. Correlações foram testa-das pelo coeficiente de Pearson. Indivíduos ativos e IA apresentaram menores valores de IMC (A: 25,9 ± 10,0; IA: 27,7 ± 9,3; IB: 30,6 ± 10,7 e S: 30,6 ± 8,9 kg/m2; p < 0,05), circunferência abdominal (A: 98,2 ± 12,9; IA: 97,6 ± 11,8; IB: 104,6 ± 13,6 e S: 105,2 ± 11,5 cm; p < 0,05) e insulina de jejum (A: 8,5 ± 4,9; IA: 8,7 ± 4,3; IB: 10,8 ± 6,9 e S: 13,1 ± 8,6 uUI/ml; p < 0,05) que os outros grupos. Os grupos A, IA e IB apresentaram médias de TNF-a menores que o sedentário (12,9 ± 6,9; 11,6 ± 2,6; 12,4 ± 5,4 vs. 17,3 ± 7,7 pg/mL; p < 0,05), mas não de PCR ou IL-6. Apenas para o componente “cereais, raízes e tubérculos” do HEI, os grupos ativos apresentaram melhor pontuação que o sedentário (p < 0,05), não sendo observada diferença significante entre eles quanto ao escore total. Detectaram-se correlações da AF total com IMC (r = -0,183; p < 0,05), circunferên-cia abdominal (r = -0,189; p < 0,05), IL-6 (r = -0,189; p < 0,05) e insulina de jejum (r = -0,267; p < 0,01). A aplicação HEI não sugeriu a esperada relação entre alimentação mais saudável e maior AF. Limi-tações inerentes dos instrumentos de avaliação desses hábitos de vida
S133
ReSUMOS de PÔSTeReS
devem estar contribuindo para ausência da detecção dessa relação. Os achados de associações inversas entre AF com adiposidade, status in-flamatório (TNF-a) e sensibilidade à insulina reforçam seu benefício sobre o perfil de risco cardiometabólico. Apoio: Fapesp.
108É POSSÍVeL AUMenTAR A ATiVidAde FÍSicA de PAcienTeS de RiScO cARdiOMeTABÓLicO dURAnTe nOVe MeSeS de inTeRVenÇÃO?Monfort-Pires M1, Salvador eP1, Siqueira-catania A1, Ferreira SRG2
1 Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo (FSP/USP), Nutrição. 2 USP, Medicina Preventiva, SP, Brasil
Eficácia de programas de mudanças no estilo de vida para prevenção de diabetes já foi bem documentada, mas a literatura carece de estu-dos de efetividade de intervenções aplicáveis em países em desenvol-vimento. Foi avaliado se intervenção multiprofissional em unidade básica de saúde em São Paulo é capaz de alterar hábitos de atividade física (AF) e melhorar perfil antropométrico e bioquímico. Indiví-duos pré-diabéticos ou com síndrome metabólica sem diabetes (n = 98; 67 mulheres; 57,2 ± 10,8 anos) foram alocados aleatoriamente para intervenção Intensiva (I) ou Tradicional (T) em hábitos de vida por nove meses. O grupo T (n = 38) submeteu-se a consultas mé-dicas trimestrais de rotina. O grupo I (n = 60) participou de sessões multiprofissionais mensais, recebendo orientações sobre dieta e AF (lazer e locomoção). Dados de AF foram obtidos pelo IPAQ (In-ternational Physical Activity Questionaire) longo, sendo classificada nos domínios locomoção, lazer e AF total. Foram coletados dados clínicos e bioquímicos nos momentos basal e após nove meses. Os grupos foram comparados por teste t de Student (ou equivalente não paramétrico) e o coeficiente de Pearson empregado para avaliar cor-relações entre mudanças nas variáveis. Qui-quadrado foi usado para comparar os grupos quanto à proporção de indivíduos que atingiram 150 minutos/semana de AF. No momento inicial os grupos eram comparáveis quanto a sexo e idade. Após nove meses, o grupo I au-mentou mais a proporção de indivíduos que praticavam AF total (la-zer + locomoção) por mais de 150 minutos semanais do que o grupo T (20% no grupo I e 15% no grupo T; p = 0,03). As quantidades de AF total aumentaram em ambos os grupos, porém não se diferiram quando comparadas por teste t. Quanto à AF de lazer apenas o gru-po I aumentou esse domínio de AF após nove meses (36,3 ± 87,3 e -0,8 ± 89,0 minutos/semana, para I e T, respectivamente). Foram encontradas associações entre mudanças na AF total com triglicérides (r = -0,258; p = 0,012) e HDL (r = 0,250; p = 0,05). Para dados antropométricos e bioquímicos não foram encontradas associações. Os achados indicam que ambas as intervenções tiveram impacto favo-rável no aumento da AF. Entretanto, a intervenção intensiva parece ter sido mais relevante para aumentar a AF no lazer, o que não ocor-reu na intervenção tradicional. Além disso, o aumento da AF parece estar relacionado com melhora no perfil lipídico (aumento do HDL e redução nos triglicérides), o que está de acordo com a literatura, que preconiza essa prática para minimizar o risco cardiometabólico.
109A OBeSidAde diMinUi A ATiVidAde dO SiSTeMA endOcAnABinOide VAScULAR: PARTiciPAÇÃO dA enOS, dA AMPK e dA eRKLobato nS1, Filgueira FP1, Giachini FRc1, carvalho MHc1, Webb Rc2, Tostes RcA1, Fortes ZB1
1 Universidade de São Paulo, Instituto de Ciências Biomédicas I (USP/ICB), Farmacologia, SP, Brasil. 2 Medical College of Georgia, Fisiologia, Estados Unidos
Introdução: O sistema endocanabinoide está envolvido em diver-sos processos metabólicos e cardiovasculares, incluindo o controle
do balanço energético e da função cardiovascular. Pacientes obesos ou com síndrome metabólica apresentam aumento da atividade do sistema endocanabinoide em tecidos que controlam a homeostase energética. Objetivos: Considerando o papel importante do siste-ma endocanabinoide no controle da função vascular em condições fisiológicas, foi proposto no presente estudo que a obesidade dimi-nui a atividade desse sistema no vaso, contribuindo, assim, para a disfunção vascular nessa condição. Métodos e resultados: Avaliou-se a resposta de artérias mesentéricas de resistência isoladas de ratos obesos Zucker (OZR) e controles (LZR). O relaxamento ao agonista canabinoide anandamida (ANAND) e aos agonistas dos receptores canabinoides CB1 e CB2 está reduzido em OZR. A inibição desses receptores quase aboliu a resposta à ANAND em OZR. O bloqueio do transporte de ANAND, de receptores vaniloides tipo 1, da sín-tese de óxido nítrico (NO) e de prostanoides reduziu a resposta à ANAND apenas em LZR. Vias de sinalização mediadas pela adenilil ciclase, guanilil ciclase, PI3K, PKG e PKA não estão envolvidas na resposta reduzida à ANAND em OZR. AICAR (ativador da AMPK) e PD 98059 (inibidor da ERK) corrigiram a resposta à ANAND em OZR. A expressão proteica (avaliada por Western Blotting) de CB1 e CB2 está diminuída em vasos de OZR. A fosforilação de ERK1/2, que está aumentada em OZR, foi potencializada pela ANAND. A expressão proteica total e fosforilada de eNOS, AMPK e acetil-CoA carboxilase foi similar entre grupos. A incubação com ANAND au-mentou a fosforilação dessas enzimas apenas nos LZR. Conclusões: Os dados indicam que o transporte de ANAND no interior da célula e a ativação da AMPK e eNOS medeiam o relaxamento à ANAND em LZR, e esse mecanismo encontra-se prejudicado em OZR. A ati-vação aumentada da ERK contribui para a resposta reduzida a ago-nistas canabinoides na obesidade. Apoio financeiro: Fapesp/CNPq.
110O FUMO PER SE PARece AcARReTAR AUMenTO nA TRAnScRiÇÃO de GLUT4 e MAnUTenÇÃO de SOcS3 eM RATAS PRenHAS Gomes PRL1, Seraphim PM2
1 Universidade Estadual Paulista (Unesp), Departamento de Fisioterapia. 2 Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT/Unesp), campus Presidente Prudente, Fisioterapia, SP, Brasil
Introdução: Estudos prévios evidenciaram que durante a gravi-dez e lactação ocorre aumento nos níveis hormonais e instalação de resistência à insulina, agravando-se quando associada ao fumo. O tabagismo está frequentemente associado a um quadro de inflama-ção sistêmica. Assim, o objetivo deste trabalho foi investigar o efeito do tabagismo sobre a expressão de RNAm de proteína transporta-dora de glicose GLUT4 e supressor de sinalização de citocinas – 3 SOCS3 no músculo gastrocnêmio de ratas prenhas fumantes. Mé-todos: Foram utilizadas ratas Wistar, divididas em quatro grupos: controle gestação (CG), controle lactação (CL), fumante gestação (FG) e fumante lactação (FL). Os grupos FG e FL foram submetidos à combustão de quatro cigarros, durante 30 minutos, duas vezes ao dia, cinco dias/semana, durante 40 e 61 dias respectivamente. No dia do sacrifício, os animais foram anestesiados, para retirada de tecido muscular gastrocnêmio e adiposo branco periuterino (TA) e sangue. Para quantificação da expressão de RNAm de GLUT4 e de SOCS3, foi utilizada a técnica de RT-PCR, e a análise de glicemia foi feita por meio de colorimetria. Resultados: Não houve alteração no valor médio do peso corpóreo entre os grupos (CG = 257,57 ± 6,77; CL = 231,4 ± 12,69; FG = 244,11 ± 7,24; FL = 244,4 ± 12,11 g, n = 5 a 10). Também não houve alteração no peso do tecido muscular (CG = 1,23 ± 0,11; CL = 1,06 ± 0,12; FG = 1,30 ± 0,10; FL = 1,08 ± 0,06 g, n = 5 a 10). Os grupos CL e FL não apresentaram TA e, portanto, este foi retirado somente nos grupos CG e FG (3,08 ± 0,25 e 2,20 ± 0,28 g, respectivamente, P < 0,05, n = 7 a 10). Não
S134
ReSUMOS de PÔSTeReS
houve alteração na glicemia de jejum entre os grupos (CG = 156,4 ± 18,93; CL = 128,33 ± 16,16; FG = 158,37 ± 10,31; FL = 149,75 ± 10,30 mg/dL, n = 3-8). Houve diferença significativa nos valores médios da expressão de RNAm de GLUT4 (CG = 101,20 ± 16,9; CL = 100,25 ± 8,06; FG = 159,47 ± 13,03*; FL = 160,93 ± 24,59* UA, n = 4 a 7, *P < 0,05), sem alterações nos valores de conteúdo de RNAm de SOCS3 (CG = 100,51 ± 9,03; CL = 100,37 ± 13,26; FG = 99,3 ± 10,89; FL = 93,62 ± 7,31 UA, n = 4 a 9). Discussão: Várias alterações metabólicas ocorrem durante a lactação. Nas pri-meiras horas há aumento na glicólise e na gliconeogênese para sín-tese da lactose e, posteriormente, ocorre catabolismo lipídico, para suprir as necessidades energéticas para produção de leite. Assim, há liberação de ácidos graxos para formação dele, o que deve ser a causa da extinção do tecido adiposo nos grupos CL e FL observada neste estudo. Já nos grupos CG e FG houve diminuição do tamanho desse tecido no grupo fumante. Sabe-se que a leptina está aumentada em indivíduos expostos à nicotina, o que pode causar liberação de neu-rotransmissores anorexígenos, aumentando a atividade metabólica e diminuindo o consumo calórico, contribuindo para redução do tecido, portanto. Sabe-se também que, durante a gestação e a lacta-ção, há diminuição da sensibilidade à insulina periférica e o nível de cortisol está aumentado, e quando associada ao fumo, ocorre maior liberação desse hormônio, o que pode estar combatendo os efeitos inflamatórios do tabagismo, explicando a manutenção nos níveis de SOCS3 e aumento da transcrição de GLUT4 em músculo esquelé-tico das ratas fumantes. Conclusão: Pode-se inferir que o fumo no período de gestação e lactação foi responsável pela manutenção do conteúdo de SOCS3 e pelo aumento da transcrição de GLUT4 em músculo esquelético de ratas prenhas fumantes.
111PReVALÊnciA de SÍndROMe MeTABÓLicA e dOenÇAS cARdiOVAScULAReS eM UMA cOMUnidAde niPOBRASiLeiRAGomes PM1, Foss-Freitas Mc1, Andrade RcG1, Figueiredo Rc2, Pace Ae3, Fabbro ALd4, Franco LJ4, Foss Mc1
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Clínica Médica. 2 FMRP-USP, Saúde da Comunidade. 3 Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP-USP), Enfermagem Geral e Especializada. 4 FMRP-USP, Medicina Social, SP, Brasil
Introdução: Diferenças populacionais são relatadas em relação à doença cardiovascular (DCV) e seus riscos associados. A população japonesa, por exemplo, apresenta baixo risco cardiovascular, porém al-guns estudos têm demonstrado que japoneses que migram para países ocidentais e modificam seu estilo de vida passam a apresentar maior incidência de DCV, comparando com os que permanecem no Japão. No município de Guatapará/SP (distrito de Mombuca) há uma co-munidade de origem japonesa que migrou para a região por volta de 1962 e que ainda conserva muitos dos hábitos de vida tradicionais. Objetivos: Avaliar a prevalência de síndrome metabólica (SM) e DCV numa população nipo-brasileira do distrito de Mombuca. Metodolo-gia: Estudo descritivo transversal, com a participação de nipo-brasilei-ros de primeira e segunda gerações, com idade acima de 20 anos. As medidas antropométricas (circunferência abdominal, peso e estatura), a coleta de sangue (glicemia de jejum, GTT75g, perfil lipídico), a medida da pressão arterial e o traçado do eletrocardiograma (ECG) foram realizados por examinadores treinados e utilizados procedi-mentos padronizados. Resultados: Foram avaliados 131 indivíduos com idade média de 57 ± 16 anos, 59% mulheres e 42% homens. A prevalência de SM foi de 25,2% e 35,8% pelos critérios propostos pelo NCEP/ATPIII e IDF/2005, respectivamente. Pela definição pro-posta pelo IDF/2005 foram classificados 14 indivíduos (10,6%) com SM que não foram identificados pelos critérios do NCEP/ATPIII. Utilizou-se como valor para circunferência abdominal (CA) o padrão
para japoneses (≥ 80 cm para mulheres e ≥ 90 cm para homens). Fo-ram realizados ECG de 103 desses indivíduos, com os seguintes acha-dos: (1) dentro dos padrões de normalidade: 33 (32%), (2) alterações inespecíficas: 41 (39,8%), (3) algum tipo de bloqueio de condução cardíaca: 18 (17,4%), (4) sinais de isquemia cardía ca: 3 (2,9%), (5) arritmias: 5 (4,8%). Os níveis de PA sistólica foram significativamente mais elevados nos grupos de arritmia e isquemia (p = 0,04) e não foram observadas diferenças significativas entre os grupos nos outros parâmetros avaliados. Observou-se alta prevalência de dislipidemia por HDL-c baixo (44,2% do total, 30,9% dos homens e 53,9% das mulheres) e triglicérides elevado (33,5% do total, 38,1% dos homens e 30,2% das mulheres). A média do IMC da população foi de 24,7 kg/m2. A CA média foi de 88,7 cm nos homens e 81,8 cm nas mu-lheres. Conclusão: Nessa população nipo-brasileira, a circunferência abdominal, um método simples de avaliar resistência insulínica, foi um fator de risco importante para SM, identificando indivíduos com maior risco cardiovascular que se beneficiariam de mudanças no estilo de vida. A frequência de DCV observada por meio de ECG na popu-lação foi de 78%. A pressão arterial sistólica elevada esteve relacionada de forma significativa nos indivíduos com isquemia e arritmia. As altas taxas de dislipidemia por HDL-c baixo e triglicérides elevado (asso-ciados a partículas pequenas e densas de LDL-c), evidenciam que a população está em risco para doença aterosclerótica, provavelmente por mudanças no estilo de vida (sedentarismo, dieta hipercalórica e rica em gorduras). Entidades financiadoras: FAEPA, CNPq.
112O TecidO AdiPOSO nÃO PARTiciPA dA GeRAÇÃO dA MenOR SenSiBiLidAde À inSULinA de RATOS eXPOSTOS À FUMAÇA de ciGARROSilva Pe1, Gomes PRL1, Moreira RJ1, Oliveira MAn2, Machado UF2, Seraphim PM1
1 Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista (FCT/Unesp), Departamento de Fisioterapia. 2 Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo (ICB/USP), Departamento de Fisiologia e Biofísica, SP, Brasil
Introdução: Estudos prévios com músculos esqueléticos mostraram grande variabilidade na modulação do conteúdo de transportador de glicose GLUT4 com o tabagismo passivo e apontaram que o fumo pode provocar quadro de resistência insulínica. Dessa forma, o ob-jetivo do presente trabalho foi avaliar se os conteúdos de RNAm e de proteína GLUT4 podem estar alterados em tecido adiposo bran-co periepididimal de ratos expostos à fumaça de cigarro. Métodos: Foram utilizados ratos Wistar machos, divididos em dois grupos: controles (C) e fumantes (F). O grupo F foi submetido à combustão de 4 cigarros, durante 30 minutos, duas vezes ao dia, cinco dias/semana, num período de 60 dias. Uma semana antes do sacrifício foi realizado um teste de tolerância à insulina (ITT), sob anestesia (dose: 0,5 U/kg PC). Os valores de glicemia de amostras de sangue por punção caudal foram obtidos em glicosímetro, nos tempos 0 minuto (pré-injeção), 5, 10, 15 e 20 minutos (pós-injeção). No dia do sacrifício, os animais foram anestesiados para retirada de tecido adiposo branco periepididimal e sangue. Foram utilizadas as técnicas de RT-PCR e de Western Blotting para a quantificação de RNAm e proteína GLUT4, respectivamente. Os dados foram expressos como média ± EPM. As amostras de proteína foram fracionadas em mem-brana plasmática (MP), microssomal (M) e extrato livre de gordu-ra (FFE) previamente à submissão à eletroforese. Resultados: Não houve variação no peso corpóreo e nem no peso do tecido adiposo (C = 2,60 ± 0,32; F = 2,52 ± 0,18 g, n = 10). A glicemia de jejum se manteve semelhante entre os grupos (F = 148 ± 10 n = 15; F = 139,5 ± 9,6 mg/dL; n = 18), porém o ITT evidenciou uma redução na sensibilidade à insulina dos animais fumantes, observada no cálculo da constante de decaimento da glicemia (kITT), sendo, C = 5,02 ± 0,18; F = 3,52 ± 0,28*, *P < 0,05. Não houve diferença significante
S135
ReSUMOS de PÔSTeReS
nos valores médios do conteúdo de RNAm do GLUT4 (C = 99,99 ± 35,85 UA, F = 89,87 ± 19,18 UA, n = 3). Pelas análises de proteína nas frações de membrana plasmática (C: 99,98 ± 16,87 UA/µg; F: 114,42 ± 20,45 UA/µg, n = 5), microssomal (C: 99.98 ± 23,72 UA/µg; 98,66 ± 15,07 UA/µg, n = 5) e extrato livre de gordura (C: 100,05 ± 33,90; 130,42 ± 34,52 UA/µg, n = 4), também não foram detectadas diferenças significantes entre os grupos. Discus-são: Mediante os resultados obtidos, pode-se afirmar que o fumo causa redução da sensibilidade à insulina, sem alterar, no entanto, o conteúdo de RNAm e da proteína GLUT4 no tecido adiposo bran-co, diferindo de resultados observados em músculos esqueléticos. Assim, conclui-se que: 1) o tabagismo passivo pode alterar a expres-são do transportador de glicose GLUT4 de forma tecido-específica; 2) o tecido adiposo não participa da geração de menor sensibilidade à insulina detectada em ratos fumantes. Apoio financeiro: Fapesp 2004/10130-0; Fapesp 2008/01955-6.
113ciGAReTTe SMOKe decReASeS inSULin SenSiTiViTY in HeART TiSSUe WHicH cAn Be ReVeRSed BY PHYSicAL eXeRciSeSilva Pe1, Alves T1, Fonseca ATS1, Oliveira MAn2, Machado UF2, Seraphim PM1
1 Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista (FCT/Unesp), Fisioterapia. 2 Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo (ICB/USP), Fisiologia e Biofísica, SP, Brasil
Introduction: Studies show a correlation between cigarette smoke and the development of insulin resistance. However, there is evidence that exercise can increase the GLUT4 transcription and translocation reducing the impairment caused by smoking. This study aimed to evaluate the effect of cigarette smoke and moderate physical activity associated to insulin sensitivity in heart muscle of rats by quantify-ing the GLUT4 mRNA and protein content. Method: It was used Wistar rats, divided into 4 groups: (CS) control group (CE) control exercised, (FS) sedentary smoker (FE) exercised smoker. The FS and EF groups were subjected to four cigarettes burning, during 30 min-utes, twice a day, for 60 days. The CE and FE groups performed an exercise protocol on a treadmill, during 60 days, 60 minutes per session. Quantification of GLUT4 protein samples was performed using the Western Blotting - ECL technique and the expression of GLUT4 mRNA was analyzed by RT-PCR. For data analysis it was used ANOVA test, with results presented as mean ± SEM. Differ-ences between groups were considered significant when P < 0.05. Results: The results showed that neither smoking nor physical activ-ity changed the body weight (CS: 364.7 ± 9.7, CE: 372.4 ± 7.2, FS: 368.9 ± 6.7, FE: 376.4 ± 7.8 g) and weight of the heart muscle (CS: 1.12 ± 0.05, CE: 1.16 ± 0.04, FS: 1.14 ± 0.05, FE: 1.19 ± 0,05 g) in groups. Blood glucose was not altered between groups (CS: 148 ± 10; CE: 131.5 ± 7; FS: 139.5 ± 9.6, FE: 130.6 ± 10.2 mg/dL), but the insulin sensitivity was reduced in the sedentary smoker group (CS: 3.7 ± 0.3, CE: 5.28 ± 0.5*; FS: 2.1 ± 0.7*; FE: 4.8 ± 0.09 **, n = 6, * P < 0.05 vs. CS, ** P < 0.05 vs. FS). The results of mRNA did not show statistical differences between groups (CS: 75.7 ± 9.7, CE: 82.12 ± 8.5; FS: 75.9 ± 7.08; FE: 76.73 ± 7, 8 AU, n = 10). The re-sults of total content of GLUT4 protein showed that smoking caused reduction and exercise caused significant increase of GLUT4 protein in cardiac muscle (CS: 110.6 ± 10.2, CE: 144.07 ± 10.3*; FS: 92.6 ± 10.9*; FE: 135.9 ± 7.9 AU, n = 10, * P < 0.05 vs. CS). Conclu-sion: From these results it was observed that: 1) the cigarette smoke caused a reduction in insulin sensitivity, which seems to be improved by moderate physical exercise, 2) the smoke did not alter the GLUT4 mRNA in the myocardium, but reduced the amount of GLUT4 pro-tein, 3) the exercise per se increased the amount of GLUT4 protein in the heart, even without any increase in mRNA content, indicating a positive regulation on the translation of this protein. Financial Sup-port: Fapesp 2004/10130-0; Fapesp 2008/01955-6.
114O PAPeL dA PTP1B neUROnAL nA ReSiSTÊnciA À inSULinA indUZidA PeLO TnF-ALFAPicardi PK1, caricilli AM1, Abreu LLF2, Saad MJA1
1 Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas (FCM/Unicamp), Clínica Médica. 2 FCM/Unicamp, Enfermagem, SP, Brasil
O progresso na caracterização da ação hipotalâmica da insulina mos-trou que o fenômeno da resistência à insulina, tão conhecido em tecidos periféricos, ocorre também no hipotálamo. Uma das possí-veis consequências de sua manifestação seria a redução da atividade anorexigênica exercida por esse hormônio, tendo um papel impor-tante no desenvolvimento da fisiopatologia da obesidade. A resistên-cia à insulina está associada ao aumento da expressão e atividade da PTP-1B, reguladora negativa da ação da insulina, e a um processo inflamatório subclínico, caracterizado pelo aumento de TNF-a, o qual tem potencial papel como regulador da massa de tecido adi-poso. Não está estabelecida a relação entre o processo inflamatório subclínico e atividade da PTP-1B. Nesse sentido, a caracterização molecular da ação do TNF-a na expressão e atividade da PTP-1B pode permitir avanços consideráveis na compreensão dos mecanis-mos fisiopatológicos envolvidos na gênese da obesidade. Procuran-do essa integração, os objetivos do estudo foram avaliar: o efeito do tratamento intraperitoneal (ip) e intracerebroventricular (icv) do TNF-a na expressão e atividade da PTP-1B, bem como na sinaliza-ção e sensibilidade à insulina em hipotálamo de ratos. O tratamento ip foi realizado utilizando várias concentrações de TNF-a (5, 15 e 50 ng), após 1 h o hipotálamo foi extraído para avaliação da expres-são, atividade da PTP1B e sinalização da insulina. O efeito do trata-mento icv com TNF-a foi realizado em ratos pré-tratados icv com oligonucleotídeo antisense ou sense para PTP1B durante quatro dias. Ao final do quarto dia, os ratos foram tratados icv com insulina, TNF-a, salina ou combinações de TNF-a com insulina. O consumo alimentar foi medido após 12 horas e a sinalização da insulina foi avaliada. Em outro grupo ratos foram tratados icv com TNF-a ou salina e a atividade e expressão da PTP1B foram avaliadas. A ativi-dade da PTP1B foi medida por meio da desfosforilação do peptídeo pp60c-src C-terminal, e a sinalização da insulina foi avaliada median-te técnicas de imunoprecipitação e immunobloting, 1 hora após a infusão de TNF-a. Os resultados mostraram que o tratamento ip e central de TNF-a aumenta a expressão e a atividade da PTP1B, com redução da sinalização da insulina. Um dos mecanismos de ação do TNF-a na regulação negativa dos efeitos controlados pela insulina é realizado por meio do aumento da expressão e atividade da PTP1B. A redução hipotalâmica da PTP1B tem um papel importante na me-lhora da resistência à insulina induzida pelo TNF-a mediante a ati-vação do IR, IRS-1 e AKT, com melhora do efeito anorexigênico da insulina observado pelo aumento da redução na ingestão alimentar. A PTP1B é um dos mecanismos que contribui para a redução na sinalização da insulina induzida pelo estado inflamatório podendo ser um bom alvo terapêutico. Apoio financeiro: Fapesp.
115enVOLViMenTO dA ViA dA Pi3K nA ReGULAÇÃO dA eXPReSSÃO de GLUT4 indUZidA PeLA inSULinA nO MÚScULO SÓLeO de RATOSMoraes PA1, Machado UF2
1 Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo (ICB-USP) 2 USP, Fisiologia e Biofísica, SP, Brasil
Introdução: É possível que a insulina seja um importante regu-lador da expressão de GLUT4, entretanto as inúmeras alterações metabólico-hormonais que ocorrem in vivo não permitiram, até o momento, que se defina claramente esse papel. Por meio do isola-
S136
ReSUMOS de PÔSTeReS
mento dessas variáveis metabólico-hormonais, foi possível determi-nar os efeitos diretos da insulina nessa regulação. Assim, o objetivo desta pesquisa foi investigar, in vitro, o efeito da insulina na expres-são de GLUT4 no músculo sóleo de ratos e os mecanismos envol-vidos nessa regulação. Métodos: Para isso, os músculos sóleos de ratos Wistar jejuados por 48 horas foram extraídos e incubados em tampão de Krebs suplementado ou não com insulina regular (16,7 nM), wortmanina (10 nM), TNF-{alfa} (10 nM) e rapamicina (25 nM). Nesses tecidos avaliaram-se: o conteúdo proteico de GLUT4 e mTOR (Western), o conteúdo de mRNA de GLUT4, HIF-1a, MEF2A, MEF2C, MEF2D e NF-{kappa}B (PCR) e a atividade de ligação dos fatores de transcrição NF-{kappa}B e MEF2 ao gene do GLUT4 (Gel Shift). Resultados: O músculo sóleo incubado com tampão e insulina por 3 horas aumentou o conteúdo proteico total de GLUT4 nas concentrações de 1 mU/mL em 51% (p < 0,01) e 2 mU/mL em 74% (p < 0,01) em relação ao tampão puro. A adição de wortmanina nessa incubação reverteu a mudança promovida pela insulina, diminuindo o conteúdo protéico de GLUT4 em 75% (p < 0,01). Mesmo efeito observado após adição de TNF-{alfa}, que reduziu a expressão de GLUT4 em 72% (p < 0,01). Já a adição de ra-pamicina na incubação não alterou o conteúdo proteico de GLUT4. A expressão de mTOR não se alterou na incubação com insulina e/ou rapamicina. O músculo sóleo incubado com tampão e insulina por 3 horas não alterou o mRNA de HIF1a e MEF2C, mas aumen-tou o mRNA de GLUT4 em 137% (p < 0,01), MEF2A em 76% (p < 0,01) e MEF2D em 73% (p < 0,01), além de diminuir a expressão do mRNA de NF-{kappa}B em 54% (p < 0,05) em relação ao músculo incubado sem insulina. O músculo sóleo incubado com tampão e insulina por 3 horas aumentou a atividade de ligação do fator trans-cricional MEF2 ao gene do GLUT4 em 58% (p < 0,05), enquanto a atividade de ligação do NF-{kappa}B teve diminuição de 45% (p < 0,05). A incubação com tampão e TNF-{alfa} aumentou a atividade de ligação do NF-{kappa}B em 62% (p < 0,01), e esse efeito foi pra-ticamente revertido com a adição de insulina, diminuindo a atividade de ligação em 50% (p < 0,05). Discussão: Os resultados indicam que a insulina é um importante regulador da expressão de GLUT4, pois promoveu um aumento do mRNA e do conteúdo proteico total de GLUT4. É possível que a ativação de MEF2 e PI3k, além da inibi-ção de NF-{kappa}B, seja um mecanismo envolvido nessa regulação. A mTOR parece não participar da regulação da expressão de GLUT4. Apoio financeiro: Fapesp 2007/57873-5.
116enVOLViMenTO dA enZiMA GLUTAMATO deSidROGenASe (GdH) nA MOdULAÇÃO dA SecReÇÃO de inSULinA eM RATOS deSnUTRidOS e SUPLeMenTAdOS cOM LeUcinASilva PMR1, Batista TM1, Zoppi cc1, carneiro eM1
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Anatomia, Biologia Celular e Fisiologia e Biofísica, SP, Brasil
Introdução: A GDH atua na secreção de insulina via conversão de glutamato em alfacetoglutarato, aumentando o aporte de substrato para a produção de ATP. Animais submetidos à restrição proteica apresentam redução da secreção de insulina. Nosso grupo de pesquisa tem demonstrado que a suplementação com leucina (LEU) aumenta a resposta secretória da célula beta a diferentes agentes insulinotrópi-cos. Neste trabalho, verificou-se a participação da GDH no aumento da resposta secretória de ilhotas pancreáticas de ratos desnutridos e suplementados com LEU. Métodos: Ratos machos Wistar foram dis-tribuídos nos seguintes grupos: NP, ratos alimentados com dieta nor-moproteica (17%); NPL, suplementados com 1,5% de LEU; LP, ratos alimentados com dieta hipoproteica (6%); e LPL, suplementados com 1,5% de LEU. Ilhotas pancreáticas foram isoladas e utilizadas para avaliação da secreção de insulina perante: glicose; LEU; glutamina
(GLN); BCH (ativador alostérico da GDH); EGCG (epigalocatequi-na galato, inibidor da GDH), bem como Western Blot da GDH. Re-sultados foram analisados por ANOVA de duas vias seguida de pós-teste de Newman-Keuls, P < 0,05. Resultados e discussão: Ilhotas do grupo LP apresentaram menor secreção de insulina em resposta à glicose (4,28 ± 0,34) e LEU (1,00 ± 0,28 ng/ilhota.h), quando comparadas ao grupo NP (7,18 ± 0,65 e 1,75 ± 0,30 ng/ilhota.h, respectivamente). A suplementação com LEU restaurou a resposta secretória à glicose e LEU no grupo LPL (6,59 ± 0,49 e 1,38 ± 0,19 ng/ilhota.h) a valores semelhantes aos do grupo NP. Para verificar a contribuição da enzima GDH nesse processo, a secreção de insulina foi avaliada em resposta à combinação dos estímulos: GLN e BCH que priorizam a ativação da GDH. Ilhotas LP apresentaram redu-zida secreção de insulina em resposta a GLN + BCH (0,31 ± 0,11) quando comparadas com ilhotas NP (0,85 ± 0,36 ng/ilhota.h). Por outro lado, nessas condições, ilhotas LPL secretaram mais insulina (0,57 ± 0,14 ng/ilhota.h). Ao utilizar a combinação GLN + BCH juntamente com o inibidor da GDH – o EGCG –, o grupo LPL apre-sentou liberação de insulina similar à observada no grupo LP (0,44 ± 0,06 vs. 0,33 ± 0,13 ng/ilhota.h). Esses resultados indicam que no grupo LP a GDH parece ser afetada pela desnutrição, resultando em secreção de insulina prejudicada. Contribuindo com esses resultados, verificou-se que ilhotas LP apresentam redução de 33% na expressão proteica da GDH, comparadas com NP. Entretanto, a suplementação com LEU preservou a expressão dessa enzima a valores similares ao NP. Esses resultados sugerem que a desnutrição proteica modifica a secreção de insulina por diminuir o conteúdo proteico da GDH e possivelmente sua atividade. A suplementação com LEU foi eficiente em restaurar a capacidade secretória da célula beta por aprimorar a ativação dessa via metabólica. Financiado por: Fapesp.
117AVALiAÇÃO de dAnOS OXidATiVOS nO dnA de GeSTAnTeS diABÉTicAS e cOM HiPeRGLiceMiA LeVeGelaleti RB1, Alcântara cA1, caetano MJT1, Lego ec1, damasceno dc1, Lima PHO1, Rudge MVc1
1 Universidade Estadual Paulista (Unesp/FMB), Ginecologia e Obstetrícia, SP, Brasil
Introdução: Hiperglicemia leve caracteriza um grupo de gestantes com rastreamento positivo para diabetes melito gestacional (DMG), diagnóstico negativo para DMG (teste de tolerância à glicose – TTG100g normal) e hiperglicemia ao longo do dia detectada no perfil glicêmico (PG). Esse grupo foi, acidentalmente, identificado em 1983, quando projeto prospectivo foi desenvolvido para padro-nização do PG comparando-o com o TTG100g no diagnóstico do diabetes na gestação. Essas gestantes apresentam hiperglicemia leve ao longo do dia (detectada pelo PG) e as mesmas repercussões pe-rinatais do DMG [Rudge (tese), FMB/Unesp, 1983]. A hiperglice-mia, manifestação clínica principal do diabetes melito, gera espécies reativas de oxigênio (ROS) que alteram o DNA (Evans et al. Dia-betes. 2003;52:1). Nesses danos causados por ROS na molécula de DNA, a guanina é a mais propensa à oxidação, formando, portanto, o 8-OHdG, que serve como marcador sensível ao dano oxidativo de DNA (Wu et al. Clin Chimica Acta. 2004;339:1). Tendo em vista que gestantes diabéticas apresentam estresse oxidativo exacerbado, o objetivo do estudo foi avaliar a genotoxicidade materna (danos oxidativos no DNA) nos diferentes grupos de gestantes diabéticas e com hiperglicemia leve. Metodologia: Foram avaliadas mulheres atendidas no Hospital das Clínicas da FMB/Unesp/Botucatu/SP, entre 37 e 42 semanas de gestação, no período de julho de 2008 a maio de 2009. As pacientes com diabetes foram divididas em quatro grupos: 1) mulheres com TTG e PG normais (grupo controle), 2) mulheres com TTG normal e PG alterado (hiperglicemia leve – HL),
S137
ReSUMOS de PÔSTeReS
3) mulheres com TTG alterado e PG normal (diabetes gestacional – DG), 4) mulheres com TTG e PG alterados (diabetes gestacional ou clínico – DGC). Foram coletadas amostras de sangue periférico de cada paciente por profissional experiente. Essas amostras foram processadas imediatamente para determinação de danos oxidativos no DNA (8-OHdG) pela técnica do teste do cometa. Resultados: Foram entrevistadas 154 pacientes, sendo 63 do grupo controle, 2 do grupo diabetes gestacional, 30 do grupo hiperglicemia leve e 59 do grupo diabetes gestacional ou clínico. Como no grupo DG havia 2 pacientes, esses indivíduos foram incluídos no grupo DGC para fins de análise dos dados. Foram excluídas da análise as gestantes fu-mantes e hipertensas, sendo 23 do grupo controle, 7 do grupo HL e 18 do grupo DGC. As mulheres com hiperglicemia leve apresen-taram níveis aumentados de danos no DNA para o tratamento com a enzima endonuclease III em todas as variáveis analisadas, quando comparadas às gestantes diabéticas e controle. Quando foi realizado o tratamento com a enzima FPG, o grupo HL apresentou mais danos no DNA para a variável Tail lenght comparado aos outros grupos e, para variável Tail moment, os danos foram maiores apenas em relação ao grupo controle. Discussão: Isso sugere que no grupo de gestantes com hiperglicemia leve o estresse oxidativo, decorrente da hipergli-cemia, ou de outros fatores associados a essa patologia (tais como a obesidade), desempenha papel importante sob os níveis de danos oxidativos no DNA. Agradecimentos: Fapesp (2008/06642-6).
118deTeRMinAÇÃO dAS cOncenTRAÇÕeS PLASMÁTicAS de TnF-ALFA e AdiPOnecTinA de GeSTAnTeS diABÉTicAS e cOM HiPeRGLiceMiA LeVeLima PHO1, caetano, MJT1, Gelaleti RB1, Moreli JB1, Morceli G1, Sinzato YK1, damasceno dc1, calderon iMP1, Rudge MVc1
1 Universidade Estadual Paulista (Unesp/FMB), Ginecologia e Obstetrícia, SP, Brasil
Introdução: O diabetes melito gestacional (DMG) é associado tan-to à resistência à insulina quanto à diminuição da função das célu-las beta(β)-pancreáticas (Kühl, Diabetes. 1991:40(Suppl 2):18-24). Em 1983, Rudge, utilizando dois testes de diagnóstico em paralelo, o TTG100g e o perfil glicêmico (PG), identificou um grupo di-ferenciado de mulheres (Grupo – Hiperglicemia Leve – HL) que apresentava rastreamento positivo, diagnóstico negativo para DMG (TTG100g normal), mas PG alterado. Essas gestantes apresentam hiperglicemia leve ao longo do dia (detectada pelo PG) [Rudge, (tese), FMB/Unesp, 1983] e as mesmas repercussões perinatais do DMG. O fator de necrose tumoral-alfa (TNF-alfa) e a adiponectina são capazes de aumentar a resistência e diminuir a sensibilidade à insulina nos tecidos periféricos, levando ao aparecimento do DMG (Kirwan et al., Diabetes. 2002;51:2207). O objetivo do estudo foi determinar as concentrações de TNF-alfa e adiponectina de ges-tantes diabéticas e com hiperglicemia leve. Metodologia: Foram avaliadas 87 mulheres atendidas no Hospital das Clínicas da FMB/Unesp/Botucatu – SP, entre 37 e 42 semanas de gestação, no perío-do de 1º/1/2009 a 15/11/2009. As pacientes foram divididas em quatro grupos: 1) mulheres com TTG e PG normais (controle), 2) mulheres com TTG normal e PG alterado (hiperglicemia leve – HL), 3) mulheres com TTG alterado e PG normal (DMG), 4) mulheres com TTG e PG alterados (DMG ou clínico). Amostras de sangue foram coletadas em tubos de ensaio com anticoagulante EDTA e processadas para análise de TNF-alfa e adiponectina pelo método de ELISA. A dosagem plasmática de adiponectina foi realizada pelo kit Quantikine® Human Adiponectin (R&D Systems com sensibili-dade de 0,079 ng/mL e variação de 250 ng/mL). A determinação plasmática de TNF-alfa foi feita pelo kit Quantikine® HS High Sen-sitivity ELISA (Human TNF-alfa/TNFSF1A, com sensibilidade de 0.038 pg/mL com variação de 32 pg/Ml). Resultados: Por causa do baixo número de pacientes com TTG alterado e perfil glicêmico
normal (grupo 3/n = 1), essas foram agrupadas no grupo de mu-lheres com TTG e perfil glicêmico alterados (grupo 4), formando o grupo DGC. Para análise de adiponectina, foram avaliadas amostras de 15 gestantes controle, 16 gestantes diabéticas e 9 com hipergli-cemia leve. Na análise de TNF-alfa, foram avaliadas amostras de 12 gestantes controle, 9 com HL e de 19 gestantes DGC. O grupo de gestantes diabéticas apresentou níveis plasmáticos aumentados de TNF-alfa comparado aos outros grupos avaliados. O grupo de gestantes diabéticas apresentou níveis plasmáticos de adiponectina menores quando comparadas às gestantes controle e àquelas com hiperglicemia leve. O grupo de gestantes com hiperglicemia leve não apresentou diferença estatística significativa para ambos os parâme-tros avaliados quando comparado ao grupo controle. Discussão: Os dados corroboram com a literatura que sugere que tanto o TNF-alfa quanto a adiponectina estão envolvidos na patogênese do DMG. Com relação ao grupo de gestantes com hiperglicemia leve, é ne-cessário aumentar o número de pacientes para que se possam obter resultados mais significativos em relação aos parâmetros avaliados. Agradecimento: Fapesp (2008/06480-6).
119incReASed ROS PROdUcTiOn ReLATeS TO THe RedUcTiOn OF HdL RecePTORS eXPReSSiOn in MAcROPHAGeS TReATed WiTH AdVAnced GLYcATed ALBUMin Pinto RS1, Paim BA2, nakandakare eR3, Vercesi Ae4, Passarelli M5
1 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Laboratório de Lípides. 2 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Patologia. 3 FMUSP, Laboratório de Lípides (LIM 10). 4 Faculdade de Ciências Médicas, Unicamp, Departamento de Patologia Clínica. 5 FMUSP, Clínica Médica, SP, Brasil
Introduction: Advanced glycation end products (AGE) impair the reverse cholesterol transport (RCT) in diabetes mellitus (DM). The role of AGE albumin in the HDL receptors expression (ABCA-1 and ABCG-1) was analyzed in J774 macrophages and related to re-active oxygen species (ROS) generation. Methods: AGE albumin was made incubating albumin with glycolaldehyde and control al-bumin (C) with PBS alone (4 days at 37ºC). Macrophages were incubated along time with 2 mg/mL of C or AGE albumin and the ABCA-1 or ABCG-1 expression was determined by immunoblot. ROS production was analyzed by flow cytometry (1 mM of DHE probe) after cell treatment with AGE or C albumin in the absence or presence of aminoguanidine (AG; 10 mM) or benfotiamine (BF; 150 µM). Results: ROS generation increased along time and was elevated after 4 h on cell treatment with AGE-albumin which was prevented by AG and BF. ABCA-1 expression was reduced after 4 h although ABCG-1 was only reduced after 18 h treatment with AGE-albumin. Apocynin was able to partially recovery the ABCA-1 con-tent in glycoxidized macs. Conclusion: In macs, the oxidative stress induced by AGE-albumin is related to disturbances in the RCT by down regulating the HDL receptors, ABCA-1 and ABCG-1. This may contribute to atherosclerosis in DM. Funding: Fapesp.
120iMPLicAÇÕeS dA iniBiÇÃO dA PROdUÇÃO de McP1 nA AdiPOSidAde indUZidA AGUdAMenTe POR dieTA PALATÁVeL eM cAMUndOnGOS Lima RL1, Menezes Z1, Santos Mcc1, Guglielmotti A2, Teixeira MM3, Ferreira AVM4, Souza dG1
1 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Microbiologia. 2 Angelini L. Santa Palomba Centro de Pesquisa, Farmacologia. 3 UFMG, Bioquímica e Imunologia. 4 UFMG, Enfermagem Básica, MG, Brasil
Introdução: A obesidade está associada à inflamação crônica e é um dos principais fatores de risco para diabetes e síndrome metabólica.
S138
ReSUMOS de PÔSTeReS
A quimiocina MCP1 possui papel crítico na resistência à insulina e recrutamento de monócitos no tecido adiposo (TA) e contribui tan-to para o início quanto para a manutenção do processo inflamatório no TA (Sartipy and Loskutoff, 2003). Objetivo: Determinar a dose efetiva de Bindarit para a inibição do MCP1 no TA e o papel dessa quimiocina na adiposidade induzida por três dias de ingestão de dieta palatável (DP). Metodologia: Utilizaram-se camundongos da linha-gem C57BL/6 divididos em três grupos experimentais alimentados com dieta controle (C), DP ou DP associada ao tratamento com Bin-darit (DPB). Realizou-se curva dose/resposta (10, 30 e 100 mg/kg de MC 2 x/dia via gavagem) para se estabelecer a dosagem de Bindarit a ser administrada. O tratamento com DP ocorreu durante três dias, havendo um pré-tratamento com Bindarit dois dias antes e durante o consumo da DP. Após o terceiro dia os animais sofreram eutanásia por exanguinação. Foram determinadas as concentrações plasmáticas de colesterol, triglicerídeos e glicose por kits enzimáticos. O TA epididimal (TAE), TA retroperitoneal (TAR) e TA mesentérico (TAM) foram mensurados e armazenados para uso posterior. A con-centração das moléculas inflamatórias IL6, TNF-a e MCP1 no TAE foi determinada por ELISA. Verificou-se a atividade de NAG (N-ace-tilglicosaminidase) no TAE para avaliar a atividade de macrófagos no tecido. Resultados: A adiposidade, avaliada por TAR, TAE e TAM, apresentou-se maior no grupo alimentado com DP em relação aos animais controles (0,26 ± 0,03; 0,25 ± 0,03 e 0,41 ± 0,031 g/100 g de MC vs. 0,13 ± 0,01949 TAR; 0,17 ± 0,02033 TAE e 0,26 ± 0,04029 TAM g/100 g de MC). O Bindarit inibiu a produção de MCP1 e reduziu a quantidade de macrófagos ativos (NAG) no TAE nas doses de 30 e 100 mg/kg MC 2 x/dia, quando comparados ao grupo DP e DPB10 (150,8 ± 17,97; 150,2 ± 18,79 ng/mL e 0,15 ± 0,02; 0,23 ± 0,02 Abs/100 g TAE vs. 215,0 ± 19,11; 187,5 ± 18,75 ng/mL e 0,27 ± 0,02; 0,31 ± 0,04 Abs/100 g TAE). Não houve alteração na concentração IL6 e TNF-a, bem como nos parâmetros metabólicos avaliados (colesterol, triglicerídeos e glicose plasmáticos), em nenhum dos grupos estudados. Discussão: Três dias de ingestão de DP foram suficientes para determinar o aumento da adiposidade, e não para a ocorrência de alterações nos parâmetros metabólicos e inflamatórios avaliados. O Bindarit inibiu a produção de MCP-1 no TA em doses menores que aquelas mostradas em outros sítios, previa-mente na literatura, como na pancreatite aguda, na colite e na angio-plastia. Nesses estudos, o Bindarit apresentou efetividade na dose de 100 mg/kg MC 2 x/dia. Assim, o TA mostrou-se mais sensível que outros tecidos a essa droga, sendo a dose de 30 mg/kg de MC 2 x/dia eficaz na inibição da secreção de MCP1 no TA. Porém, a inibição dessa quimiocina não interfere no aumento da adiposidade induzido agudamente por DP. Referência: 1. Sartipy P, Loskutoff D. Monocyte chemoattractant protein 1 in obesity and insulin resistence. PNAS. 2003;100(12). Apoio financeiro: Fapemig, Capes e CNPq.
122ATUAÇÃO dA FiSiOTeRAPiA eM PAcienTeS diABÉTicOS nA eSTRATÉGiA de SAÚde dA FAMÍLiALima RAO1, Lopes GAP1, Fernani dcGL1, Freitas ceA1, najas cS1, Pissulin FdM1, Lopes FS1
1 Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), Fisioterapia, SP, Brasil
Introdução: A síndrome do pé diabético é uma das complicações mais frequentes nos pacientes com diabetes melito (DM) e é caracterizada pela presença de lesões em decorrência das alterações vasculares e/ou neurológicas. Considerando que as complicações sensório-motoras e vasculares trazem grande morbidade para esses pacientes, torna-se ne-cessário que se identifiquem fatores de risco predisponentes a fim de que sejam evitados. O objetivo do estudo foi avaliar, detectar, orien-tar e prevenir complicações secundárias do DM por meio da atuação fisioterapêutica na Estratégia de Saúde da Família (ESF). Material e
métodos: Foram avaliados 21 indivíduos com diagnóstico de DM da ESF do Jardim Belo Horizonte de Presidente Prudente, SP. Depois de avaliados, os indivíduos foram orientados quanto aos cuidados com os pés diabéticos para a prevenção de complicações secundárias e re-comendações quanto à realização de exercícios físicos para o controle glicêmico. Resultados: Dos indivíduos avaliados, 16 eram do sexo feminino e 5 do sexo masculino, com faixa etária de 64,3 ± 11,04 anos. Apresentaram hipertensão arterial sistêmica 90,47%, 23,8% são obesos, 19,1% têm dislipidemia, 9,5% tiveram episódio de infarto agu-do do miocárdio e 9,5% não apresentam patologias concomitantes. A glicemia capilar foi de 157,66 ± 61,33 mg/dl. A tumefação este-ve presente em 38% dos casos, 85,8% apresentavam desidratação e 33,4%, arco plantar do tipo plano. Na sensibilidade superficial foram observadas as seguintes alterações: tátil 4,8% anestesia e na dolorosa 14,2% hipoestesia e 23,8% anestesia. Na sensibilidade profunda, ape-nas a artroestesia estava alterada, em 4,8% dos indivíduos. Na avaliação do pulso pedioso foi constatada diminuição em 52,4% no membro inferior direito e 47,6% no membro inferior esquerdo. Nenhum indi-víduo apresentou alteração motora. Discussão: Houve a ocorrência de alterações cutâneas, sensitivas e vasculares precedendo as motoras. Esses indivíduos foram orientados quanto aos cuidados gerais para prevenção de incapacidades minimizando os problemas. Indivíduos sem alterações aparentes nos pés já apresentaram alterações sensitivas e vasculares, reforçando o caráter insidioso do desenvolvimento da neuropatia diabética (Boulton et al., 2004). Vários autores têm enfa-tizado a importância de um trabalho preventivo em indivíduos diabé-ticos (Obrosova, 2003). Um dos fatores que predispõem ao apareci-mento da neuropatia periférica é o valor glicêmico alto. Todos foram orientados sobre medidas preventivas, como a maneira adequada para hidratar corretamente seus pés, os cuidados com higiene, calçados e meias adequadas, reconhecimento de sinais ocasionados por alterações sensitivas e exercício físico para o controle glicêmico e receberam fo-lhetos explicativos sobre esses cuidados e o risco de complicações nos pés. As alterações no pé diabético foram frequentes e acompanhadas por elevação da taxa glicêmica, o que mostra a necessidade de imple-mentação de programas direcionados para o controle e prevenção das complicações do DM. Referências: 1. Boulton AJ, Malik RA, Are-zzo JC, Sosenko JM. Diabetic Somatic Neuropathies. Diabetes Care. 2004;1458-86. 2. Obrosova IG. Update on the pathogenesis of dia-betic neuropathy. Curr Diab Rep. 2003;439-45.
123ALTeRAÇÕeS BiOQUÍMicAS dO diABeTeS eXPeRiMenTAL OBSeRVAdAS eM cOBAiAS TRATAdAS cOM cURcUMinA incORPORAdA eM iOGURTeHakime-Silva RA1, Gutierres VO2, Pinheiro cM2, nunes Tn2, Vendramini Rc2, Pepato MT3, Brunetti iL2
1 Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Farmacêuticas (Unesp/FCF), campus de Araraquara, Bioquímica Clínica. 2 Unesp/FCF, Araraquara, Análises Clínicas. 3 Unesp/FCF, campus Araraquara, SP, Brasil
Introdução: Diabetes melito constitui uma síndrome metabólica que causa hiperglicemia, proteinúria e hiperuremia. Seu tratamento con-vencional realizado com insulina apresenta certos inconvenientes e, assim, mais estudos nessa área são justificáveis. Nesse sentido, muitas investigações têm sido conduzidas com produtos naturais, entre eles a curcumina (extraída do rizoma da Curcumina longa L.), que apresenta um interessante potencial. Contudo, as suas formas de administração não estão completamente exploradas em virtude das dificuldades de sua biodisponibilidade. Assim, avaliou-se o efeito do tratamento crôni-co de ratos diabéticos com curcumina incorporada em iogurte sobre a glicemia, ureia e proteinúria no diabetes experimental. Métodos: Após adaptação de ratos machos Wistar em gaiola metabólica, o diabetes foi induzido com estreptozotocina (STZ) (40 mg/peso corporal). No terceiro dia pós-STZ, os ratos foram divididos de acordo com os níveis
S139
ReSUMOS de PÔSTeReS
glicêmicos (sangue colhido da cauda) em quatro grupos, os quais fo-ram tratados com: água (DTH2O); iogurte (DTIOG); insulina (DTI) e curcumina 60 mg/kg de peso corporal/dia (DTC60). O tratamento iniciado no quarto dia pós-STZ foi conduzido por 27 dias. Os grupos receberam duas vezes ao dia: DTC60 – 0,5 mL de curcumina incorpo-rada no iogurte; DTIOG – 0,5 mL de iogurte; DTH2O – 0,5 mL de água e DTI – 2,0 U/mL de insulina subcutaneamente. Durante um período de 27 dias, semanalmente foram monitorados os valores de glicemia, ureia e proteinúria. Resultados: Para todos os parâmetros monitorados, observou-se que os grupos DTI e DTC60 apresentaram, em relação aos grupos DTH2O e DTIOG, valores significativamen-te menores. Como esperado para o modelo experimental, os grupos DTH2O e DTIOG não apresentaram diferenças significativas entre si. Discussão: A curcumina incorporada em iogurte nessa posologia de-monstrou adequada biodisponibilidade para a ação antidiabética, fato evidenciado pela redução dos parâmetros analisados quando compa-rados com o grupo DTH2O. O modelo experimental realizado fora validado em razão da diferença significativa entre os grupos DTH2O e DTI, uma vez que a insulina é farmacoterapia oficial para o diabetes melito tipo 1. Agradecimento: Fapesp, CNPq, PADC-FCF Araraqua-ra-Unesp; apoio técnico: Marcos A. Dangona.
124PReVALÊnciA de AUTOAnTicORPOS eM UMA POPULAÇÃO de cRiAnÇAS e AdOLeScenTeS PORTAdOReS de diABeTeS MeLiTO TiPO 1Savoldelli Rd1, Ybarra M1, della Manna T1, damiani d1
1 Instituto da Criança, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICr-HC-FMUSP), Pediatria, SP, Brasil
Introdução: Diabetes melito tipo 1(DM1) é a forma mais preva-lente de diabetes em crianças e adolescentes e frequentemente está associado a outras doenças autoimunes. Dosagens de autoanticor-pos (AAC) específicos são úteis para estabelecer o diagnóstico de DM1, tireoidites autoimunes e doença celíaca. Esse trabalho tem como objetivos avaliar a presença de AAC específicos numa popula-ção pediátrica brasileira de diabéticos tipo 1. Métodos: Foram dosa-dos os anticorpos antidescarboxilase do ácido glutâmico (antiGAD), antitirosina-fosfatase (anti-IA2), anti-insulina (IAA), antitiroperoxi-dase (antiTPO), antitireoglobulina (antiTg) e antiendomísio (AAE) em 215 crianças portadoras de DM1, entre janeiro/2005 e janei-ro/2010. Os dados foram analisados pelo teste do qui-quadrado ou Fisher, considerando-se significativo p < 0,05. Resultados: Dentre os pacientes avaliados, 61% eram do sexo feminino, com idade média de 10,7 anos e tempo médio de doença de 6,8 anos. Houve pre-sença de IAA em 65,3% dos pacientes testados, antiGAD em 48%, anti-IA2 em 42,1%, e 28,8% dos pacientes avaliados apresentavam antiGAD e anti-IA2 negativos; antiTPO esteve presente em 19,4%, antiTg, em 24,8% e AAE, em 5,3% dos avaliados. Tireoidite clínica esteve presente em 60% e 47% dos pacientes com antiTPO e antiTg positivos, respectivamente. Dentre os pacientes com AAE positivo, 60% apresentavam doença celíaca confirmada por biópsia. Não hou-ve associação entre gênero e a presença de AAC. A presença de anti-IA2 associou-se ao menor tempo de DM (p = 0,01). Discussão:O AAC mais frequente na população estudada foi o IAA, no en-tanto a maioria dos pacientes já estava em uso de insulina exógena na época da coleta, o que provavelmente interferiu nos resultados. AntiTg foi mais prevalente nessa população, mas o antiTPO esteve mais relacionado à doença clínica. Houve associação entre a presença de antiIA2 e o menor tempo de DM, sugerindo que a dosagem de antiGAD seja um melhor parâmetro para o diagnóstico de DM1 autoimune em pacientes com DM de longa duração. Mais de um quarto dos pacientes avaliados apresentaram antiGAD e anti-IA2 ne-gativos, mas em somente 30% dessa população a pesquisa dos AAC foi realizada no primeiro ano de doença.
125deTeRMinAÇÃO dA FReQUÊnciA e de cARAcTeRÍSTicAS cLÍnicAS ASSOciAdAS A OUTRAS FORMAS de diABeTeS MeLiTO ALÉM dO TiPO 1 eM UM AMBULATÓRiO de endOcRinOLOGiA PediÁTRicASavoldelli Rd1, Ybarra, M1, della Manna T1, damiani d1
1 Instituto da Criança, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICr-HC-FMUSP), Pediatria, SP, Brasil
Introdução: Apesar de o diabetes melito (DM) tipo 1 ser o mais frequente entre crianças e adolescentes, outras formas de DM po-dem acometer essa faixa etária, implicando prognóstico e tratamento diferentes. Esse estudo teve como objetivo avaliar a frequência e as características clínicas de outras formas de DM em uma população de crianças e adolescentes acompanhados em nosso ambulatório de diabetes. Métodos: A partir da avaliação dos prontuários ativos de pacientes consultados entre janeiro de 2009 e janeiro de 2010, foi determinada a frequência das diversas categorias diagnósticas dife-rentes do DM tipo 1, assim como se procurou identificar caracte-rísticas clínicas associadas a elas, como idade e nível de peptídeo-C ao diagnóstico, dosagens dos autoanticorpos antidescarboxilase do ácido glutâmico (antiGAD) e antitirosina-fosfatase (anti-IA2) e mé-dia de HbA1c no último ano. A análise estatística foi realizada utili-zando-se um teste t não paramétrico para as variáveis contínuas e o teste do qui-quadrado para as variáveis categóricas, considerando-se significativo p < 0,05. Resultados: De um total de 249 pacientes em seguimento ativo, 217 (87,2%) tiveram diagnóstico de DM tipo 1 e 32 pacientes (12,8%) de outros tipos de DM, incluindo as seguin-tes categorias: diabetes relacionado à fibrose cística (31,2%), DM relacionado a drogas (18,7%), DM pós-pancreatectomia (12,5%), DM tipo 2 (9,3%), síndrome de Berardinelli (9,3%), DM neonatal transitório (6,2%), DM neonatal permanente (6,2%), síndrome de Wolfram (3,1%), síndrome de Fanconi-Bickel (3,1%). Os pacien-tes portadores de outras formas de DM, quando comparados aos portadores de DM tipo 1, apresentaram idade média mais elevada ao diagnóstico (8,7 vs. 4,5 anos; p < 0,0001), média de peptídeo-C mais elevada (3,7 vs. 0,5 ng/ml; p < 0,0001), melhor controle metabólico com média de HbA1c significativamente inferior (7,3 vs. 9,9%; p < 0,0001). Dentre os pacientes com outras formas de DM avaliados, apenas 1 apresentou antiGAD fracamente positivo e todos eles apresentaram anti-IA2 negativo, frequência significati-vamente menor quando comparada aos pacientes com DM tipo 1 (p < 0,005 e p < 0,005). A média de idade desses pacientes foi de 12,2 anos, e o tempo médio de doença foi de 5,2 anos. Discussão: 12,8% das crianças e adolescentes em seguimento em nosso serviço apresentam diagnóstico de outras formas de DM que não o tipo 1. Diante de um paciente com início do DM nos primeiros seis meses de vida, histórico de doenças associadas ou uso prévio de medicações diabetogênicas e/ou negatividade dos autoanticorpos relacionados ao DM, deve-se considerar a possibilidade do diagnóstico de outras formas além do tipo 1.
126eSTAdO HiPeROSMOLAR nÃO ceTÓTicO e RABdOMiÓLiSe – ReLATO de cASO Penhalbel RSR1, Pinheiro A1, Leite cn1, dias FG1, Spressão M1, Matos Pn1, Tacito LHB1, dias MAF1, Pires Ac1
1 Hospital de Base da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp), Departamento de Endocrinologia e Metabologia, SP, Brasil
Introdução: A rabdomiólise é uma entidade comum, de etiologia multifatorial, e a variante não traumática pode ter como causas: hipe-rosmolaridade, hipocalemia e hipofosfatemia. Relato: VFS, masculi-no, 49 anos, pardo, atendido em pronto-atendimento com história
S140
ReSUMOS de PÔSTeReS
de 10 dias de hiporexia, fraqueza, cefaleia, febre não aferida e epigas-tralgia. Os familiares relataram o início do quadro após falecimento da mãe do paciente, quando, após intensa agitação, ofereceram-lhe excesso de líquido doce. Exame físico: mau estado geral, sonolento, desidratado 3+/4, corado, febril (41ºC), taquipneico (FR: 40 ipm), taquicárdico (FC: 131 bpm), pressão arterial de 114 x 70 mmHg, saturação de O2 de 80% em ar ambiente, hálito cetônico e glice-mia capilar HI; sistema cardiorrespiratório sem alterações; abdome plano, flácido, doloroso à palpação superficial, ruídos hidroaéreos presentes, sem visceromegalias; exame neurológico: rebaixamento do nível de consciência (CGS:14), déficits motores e de sensibili-dade ausentes, pupilas isocóricas e fotorreagentes. Antecedentes pessoais: epilepsia em uso de carbamazepina 200 mg/dia e déficit cognitivo após quadro de meningite aos 8 anos de idade. Labora-tório: leucócitos 17.100, sódio: 125 mEq/L, potássio: 2,2 mEq/L, glicemia: 1.446 mg/dl, creatinina 3,5 mg/dL, fósforo: 1,1 mg/dL, pH: 7,22; HCO3: 14,6 mEq/L e osmolaridade plasmática calculada 330,33 mOsm/L; CPK: 117.468 UI/L. Realizada hidratação in-travenosa (10.2 L em 24h) e insulina regular em bomba de infusão contínua. Nesse período, apresentou diurese de 1.200 mL e picos febris persistentes. Iniciou-se antibioticoterapia com ceftriaxona para infecção do trato urinário (leucocitúria: 44000) e investigação de outras causas de descompensação com acidose metabólica. Após 72 horas, evoluiu com rebaixamento do nível de consciência, ne-cessidade de intubação orotraqueal e ventilação mecânica invasiva, sendo transferido para unidade de terapia intensiva. Foram iniciados hemodiálise e diálise peritoneal, com melhora da função renal após 30 dias, e CPK de 72 UI/L. Após 18 dias, evoluiu com controle glicêmico. Recebeu alta no 50º dia com orientação dietética e in-sulina NPH 8 UI/dia. Exames na alta: creatinina 2,3 mg/dL, K: 4 mEq/L, Na: 137 mEq/L, ureia: 111 mg/dL, glicemia de jejum: 180 mg/dL. Discussão: A patogêneses da rabdomiólise envolve de-pleção de ATP no miócito, que desregula a atividade de bombas e canais gerando aumento persistente do cálcio intracelular, contração muscular persistente, depleção energética e ativação de proteases e fosfolipases. O resultado é a desintegração do miócito, liberação de mioglobina e possível insuficiência renal aguda (IRA) – complicação mais séria da rabdomiólise –, representando de 7% a 10% dos casos de IRA nos Estados Unidos. A rabdomiólise não traumática é multi-fatorial e pode ter como causas metabólicas a hiperosmolaridade e a hipofosfatemia. Neste relato, o paciente apresentava hipofosfatemia grave e hiperosmolaridade. A depleção de fósforo limita a produção de ATP. Nos estados hiperosmolares não está esclarecido se o me-canismo para a ocorrência de rabdomiólise é decorrente da hiperos-molaridade ou somente da hiperglicemia, que levaria à inativação da bomba Na+K+ATPase, aumento dos valores de sódio e cálcio intrace-lulares e ativação de proteases com lesão muscular.
127incReASed cHOLeSTeROL AccUMULATiOn in MAcROPHAGeS indUced BY SiMULTAneOUS incUBATiOn OF HdL And LdL FROM POORLY cOnTROLLed TYPe 2 DIABETES MELLITUS indiVidUALSPereira PHGR1, nunes VS1, Oliveira KS1, Lottenberg SA2, Machado-Lima A1, iborra RT1, Quintão ecR1, Passarelli M1, nakandakare eR1
1 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Laboratório de Lípides (LIM 10). 2 Hospital das Clínicas da FMUSP, Endocrinologia, SP, Brasil
Type 2 diabetes melito (D) is associated with lipoprotein modifica-tions and premature atherosclerosis. HDL from diabetic patients has a reduced capacity to remove cholesterol from cholesterol-loaded macrophages and to protect against macrophage-induced LDL oxidation. The cellular cholesterol content of the arterial wall also depends on the interaction between LDL and HDL. In the pres-
ent study mouse peritoneal macrophage (MPM) cholesterol content was measured after its simultaneous incubation with LDL + HDL or LDL alone obtained from both poorly controlled D individuals (n = 11) and from non-diabetic control individuals (C, n = 11). Lipoproteins were separated by ultracentrifugation and incubated (100 mg protein/mL) during 48 hours, according to the following protocol: LDL(C); LDL(C) + HDL(C); LDL(C) + HDL(C)pool; LDL(D); LDL(D) + HDL(D), or LDL(D) + HDL(C)pool. After extraction with hexane: isopropanol (3:2) the cellular contents of total (TC), free (FC) and esterified cholesterol (EC: linoleate, oleate and palmitate) were measured by HPLC (mean µg/mg cell protein ± SEM). Age, BMI, fasting plasma glucose, HbA1c and triglycerides were higher in D than in C. In the D group, fasting plasma glucose and HbA1c were 227 ± 26 mg/dL and 10.8 ± 0.5%, respectively. There was a lower percentage of apo A-I and a trend toward a great-er percentage of TG in HDL(D) than in HDL(C). MPM incubation with LDL(D)+HDL(D) elicited greater MCM TC content (607 ± 99; p = 0.033) compared to LDL(D) alone (356 ± 73). Also, the MPM EC content was greater in the LDL(D) + HDL(D) incuba-tion (430 ± 86, p = 0.023) than in LDL(D) (209 ± 51), or than in the LDL(D) + HDL(C)pool incubation (208 ± 70). The MPM EC content was ascribed to accumulations of the linoleate and ole-ate fractions. It was observed that cell TC, EC and FC levels were significantly greater in incubations of LDL(D) + HDL(D) than in LDL(C) + HDL(C)pool (607 ± 99; 430 ± 86; 177 ± 21 vs 266 ± 66;176 ± 53; 89 ± 16, respectively). These findings indicate that incubations of mouse peritoneal macrophages with HDL and LDL from uncontrolled type 2 diabetes lead to cholesterol accumulation.
128A cenTRAL ROLe FOR neUROnAL MTOR in cAnceR-indUced AnOReXiAMarin RM1, Ropelle eR1, Rocha GZ1, dias MM1, Prada PO1, Saad MJA1, carvalheira JBc1
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Clínica Médica, SP, Brasil
Background and aims: Accumulating evidence indicates that the pathogenesis of cancer anorexia is mediated by persistent anorexige-nic signals into the hypothalamus. Several factors are considered to be putative mediators of cancer anorexia, including interleukin 1 and 6 (IL-1, IL-6) and tumor necrosis factor (TNF). Recently, hypotha-lamic mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling has been considered a cellular fuel sensor for regulation of food intake. The aim of this study was to examine the role of hypothalamic mTOR in the control of food intake model of cancer-induced anorexia in rodents. Methods: Walker-256 tumor and Lewis Lung Carcinoma (LLC) cells were implanted in rat and mouse, respectively. Intrahy-pothalamic infusion of Rapamycim was performed in tumor-bearing (TB) rats during 4 days before analysis, whereas recombinant IL-1b and TNF-a were acutely infused into the third ventricle of con-trol rats. Food intake analysis, dissection of hypothalamic regions and Western Blotting were combined to evaluate the hypothalamic mTOR activity. Results: Here we show that neuronal mTOR pa-thway is activated in anorexic TB rat and mouse model. As expected, we found high levels of TNF-a and IL1-β in the hypothalamus of TB rat group. Interestingly, intrahypothalamic infusion of recombi-nant IL-1β or TNF-a increases mTOR activity and evokes anorexia in control rats. Moreover, central infusion of specific inhibitor of mTOR rapamycin partially blunts the anorectic effect in TB rats. We also observed that the mTOR expression was most intense in the arcuate nucleus, DMH/VMH and PVN when compared to LH in control rats. Conclusion: Taken together, our data demonstrated that hypothalamic mTOR activity is critical to decreases food intake in tumor-bearing (TB) rodent models.
S141
ReSUMOS de PÔSTeReS
129PeRFiL LiPÍdicO e HiPeRTenSÃO ARTeRiAL: iMPAcTO dO TReinAMenTO FÍSicO de ALTA inTenSidAde eM RATOS SHRdalia RA1, cambri LT1, Botezelli Jd1, Ribeiro c1, Almeida-Leme JA1, Moura LP1, Araujo GG1, Mello MAR1, Luciano e1
1 Universidade Estadual Paulista (Unesp), Departamento de Educação Física, SP, Brasil
O risco de morbidade e mortalidade de adultos e pessoas idosas aumenta consideravelmente quando se associa a hipertensão arterial sistêmica (HAS) com a arteriosclerose. Para que ocorra a diminuição do risco de doenças cardiovasculares e renais e redução na arterioscle-rose, é necessária a diminuição nos níveis séricos de colesterol total, mediante, e principalmente, inclusão de um programa de atividade física regular. A partir do treinamento físico de alta intensidade ou re-sistido, os resultados encontrados são ainda contraditórios e ainda são escassos na literatura estudos que abordem a associação das alterações do perfil lipídico, hipertensão arterial e essa modalidade de exercício. O objetivo deste estudo foi verificar a influência de um programa de treinamento físico de alta intensidade sobre o perfil lipídico sérico de tecidual de ratos espontaneamente hipertensos. O experimento uti-lizou ratos machos da linhagem de animais espontaneamente hiper-tensos (SHR) e ratos Wistar Kyoto (WKY), com 20 semanas de vida, divididos em quatro grupos: SHRS (sedentário), SHRT (treinado), WKYS (sedentário) e WKYT (treinado). O treinamento físico de alta intensidade constitui-se de exercício de natação, que consistiu de sal-tos em tanque com água, com força de resistência de 50% do peso corporal do animal acoplado ao tórax dos ratos por meio de bolsas com velcro, sendo essa resistência na forma de chumbinhos. Cada ses-são de exercício era composta por quatro séries de 10 saltos, tendo um intervalo de 1 minuto entre cada série. O período de treinamento foi de cinco dias por semana durante oito semanas consecutivas. Ao final do período experimental, os animais foram eutanasiados e o soro foi utilizado para dosagens de triglicerídeos, colesterol total, HLD e LDL-colesterol e ácidos graxos livres (AGL). Amostras do coração e do fígado foram pesadas em balança analítica e utilizadas para avalia-ção do conteúdo de triglicerídeos teciduais. Como resultado, o coles-terol total e o LDL colesterol entre os animais dos grupos hipertensos apresentaram valores significativamente maiores em relação aos gru-pos normotensos; HDL-colesterol entre os animais dos grupos SHRS e SHRT apresentou valores significativamente menores comparados com os grupos WKYS e WKYT. Uma explicação possível para a não al-teração do perfil lipídico diante do protocolo de treinamento físico de alta intensidade denotaria alguns mecanismos fisiológicos comumente desenvolvidos pelo exercício aeróbio ou de endurance. Aumento da atividade da enzima lípase lipoproteica presente no músculo esque-lético, enzima lípase hormônio-sensível, levando esses a um aumento da mobilização e utilização de lipídios como substrato energético du-rante e após o exercício, o que provavelmente não ocorre na muscu-latura após o exercício de alta intensidade. Em conclusão, os animais espontaneamente hipertensos apresentam alterações no perfil lipídico, desenvolvendo um quadro de dislipidemia. Após um período de trei-namento físico de alta intensidade, os animais hipertensos não reverte-ram o quadro de dislipidemia. Apoio financeiro: CNPq, Fapesp.
130MeTABOLiSMO dA GLicOSe e inSULinA de RATOS eSPOnTAneAMenTe HiPeRTenSOS: inFLUÊnciA de TReinAMenTO FÍSicO de ALTA inTenSidAdedalia RA1, cambri LT1, Botezelli Jd1, Ribeiro c1, Almeida-Leme JA1, Moura LP1, Ghezzi Ac1, Mello MAR1, Luciano e1
1 Universidade Estadual Paulista (Unesp), Departamento de Educação Física, SP, Brasil
Introdução: Pacientes que apresentam o quadro de hipertensão arterial sistêmica desenvolvem concomitantemente quadro de alte-
rações no metabolismo da glicose, hiperinsulinemia e comprome-timento na ação da insulina nos tecidos periféricos. O efeito bené-fico do exercício pode variar também por causa da intensidade do exercício; tanto os exercícios aeróbios quanto os exercícios de força apresentaram efeito positivo sobre a sensibilidade à insulina. Porém, o exercício físico resistido ou de alta intensidade para a população hipertensa apresenta ainda algumas restrições e controvérsias. Este trabalho tem como objetivo analisar in vivo a tolerância a glicose e a sensibilidade a insulina de animais espontaneamente hipertensos (SHR) após treinamento físico de alta intensidade. Métodos: Foram utilizados ratos machos da linhagem de animais espontaneamente hipertensos (SHR) e ratos Wistar Kyoto (WKT), com 20 semanas de vida. Foram separados aleatoriamente em: SHR sedentário (n = 9), SHR treinado (n = 9), WKT sedentário (n = 9) e WKT treinado (n = 9). Antes do início do protocolo de treinamento, os animais passaram por duas semanas de adaptação ao meio liquido. Após a adaptação, os animais iniciaram o treinamento físico com exercício de natação, que consistiu de saltos em tanque com água, com uma força de resistência de 50% do peso corporal do animal acoplado ao tórax dos ratos por meio de bolsas com velcro, sendo essa resistência na forma de chumbinhos. Cada sessão de exercício era composta por quatro séries de 10 saltos, tendo um intervalo de 1 minuto entre cada série. O período de treinamento foi de cinco dias por semana durante oito semanas consecutivas. As avaliações foram feitas por meio dos testes de tolerância oral a glicose (GTTo) e tolerância a insulina (ITT). Resultados: Durante GTTo ambos os grupos hiper-tensos, tanto sedentários quanto treinados, apresentaram glicemia significativamente maior, comparados com o grupo normotenso. Já para os dados de insulinemia, o grupo SHRS obteve maiores valo-res, comparado com os grupos WKTS e WKTT. No ITT os ratos do grupo SHRT apresentaram valores significativamente maiores de Kitt comparados com o grupo WKTS. Discussão: Os resultados de-monstraram que o exercício físico de alta intensidade foi eficaz para melhora da sensibilidade a insulina e do metabolismo da glicose de ratos espontaneamente hipertensos, por meio, provavelmente, dos mecanismos de sinalização intracelular da insulina e também na me-lhora do fluxo sanguíneo periférico muscular, altamente relacionado com o oxido nítrico (NO). Apoio financeiro: CNPq, Fapesp.
131VARiABiLidAde GLicÊMicA cOMO FATOR PRediTOR de HiPeRGLiceMiA eM PAcienTeS inTeRnAdOS eM UMA UnidAde de TRAnSPLAnTe de ÓRGÃOS Ribeiro RS1, costa MLM2, Almeida SS2, Ramos RAc2, Yamamoto MT3, Ferraz-neto BH4, durão Junior MS4, carvalho JAM1
1 Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE), Centro de Medicina Preventiva. 2 HIAE, Unidade de Transplante. 3 HIAE, Educação em Diabetes. 4 HIAE, Diretoria de Prática Médica, Transplante de Órgãos, SP, Brasil
Introdução: A hiper e a hipoglicemia aumentam o risco de com-plicações e o tempo e o custo de internação tanto em pacientes portadores de diabetes tipo 1 (DM1) e tipo 2 (DM2) quanto em pacientes sem história prévia de diabetes expostos a fatores de estres-se glicêmico como cirurgias, infecções ou medicações. Em pacientes transplantados, a variação da função renal e hepática, a suscetibilida-de a infecções e o uso de imunossupressores aumentam a variabili-dade glicêmica de forma mais intensa e imprevisível se comparado a outros pacientes, porém poucos estudos analisaram a variabilidade glicêmica em transplantados internados. Objetivo: Avaliar a variabi-lidade e o controle glicêmico em pacientes internados na Unidade de Transplante de Órgãos do Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE). Métodos: Para análise da prevalência de hiper e hipoglicemia, fo-ram utilizados dados de monitorização de glicemia capilar de 2.615 pacientes internados num período de dois meses, mensurados por um glucosímetro Precision PCx e rastreados pelo software Precisio-
S142
ReSUMOS de PÔSTeReS
nWeb (Abbott). A hiper e a hipoglicemia em pacientes internados foram definidas como glicemia acima de 180 mg/dL e abaixo de 60 mg/dL, respectivamente. A presença de hiperglicemia em pa-cientes sem história prévia de diabetes foi denominada hiperglicemia hospitalar (HH). Para análise da variabilidade glicêmica na unida-de de transplante, foram avaliados 38 pacientes com DM1, DM2 e HH internados por mais de um dia durante o período de um mês. As variáveis estudadas foram idade, sexo, tempo de internação, tipo de transplante (renal, pâncreas-rim, hepático ou cardíaco), etiologia da hiperglicemia (DM1, DM2 ou HH em uso de corticoide), es-quema de insulinoterapia (basal-bolus ou suplementação), glicemia capilar média, variabilidade glicêmica e ocorrência de hipoglicemia. Para análise estatística foi utilizado software GraphPad 4.0 (Prism), aplicando testes paramétricos e não paramétricos, conforme a neces-sidade. Resultados: A unidade de transplante apresentou maior pre-valência de hiperglicemia comparada a outras unidades não intensivas (36,5% versus 15%, P < 0,001), mas não de hipoglicemia (5% versus 2,9%, P = 0,12). No período de estudo da variabilidade glicêmica, foram internados na unidade de transplante 38 pacientes com DM ou HH, sendo 26 do sexo masculino (68%). A mediana de idade foi de 53 anos (variação: 14-78 anos). Desses, 32 pacientes foram inter-nados por mais de um dia (mediana de 9,5 dias, variação: 2-33 dias), sendo 16 pacientes (50%) acompanhados no protocolo de transplan-te hepático, 13 (41%) acompanhados no transplante renal, 2 (6%) no transplante duplo pâncreas-rim e 1 no transplante cardíaco. Quanto à etiologia principal da hiperglicemia, 7 (22%) apresentavam DM1, 11 (34%) apresentavam DM2 e 14 (44%) apresentaram HH associada ao uso de imunossupressor. Os grupos DM1 e DM2 apresentaram maior glicemia média (DM1 vs. DM2 vs. HH: 181 vs. 199 vs. 156 mg/dL, respectivamente; P < 0.05), maior frequência de glicemias acima de 180 mg/dL (44%, 48% e 27%; P = 0.06) e maior desvio-pa-drão da glicemia (76 vs. 71 vs. 42 mg/dL, respectivamente; P < 0.01) em relação ao grupo HH. Os grupos DM1 e DM2 não apresentaram diferenças significativas de variabilidade glicêmica. O desvio-padrão da glicemia se correlacionou com a frequência de glicemias acima de 180 mg/dL (P < 0.01, r = 0,46) e com o pico de glicemia durante internação (P < 0.001, r = 0,82), mas não com a glicemia na admis-são (P = 0.34). Durante a internação, os grupos DM1 e DM2 rece-beram insulina em esquema basal bolus de forma mais frequente que o grupo HH (100% x 72% x 29%; P < 0.01). No período analisado ocorreram apenas dois episódios de hipoglicemia no grupo DM1, dois no grupo DM2 e um no grupo HH. Conclusão: A hiperglice-mia é mais frequente em pacientes internados na unidade de trans-plantes do HIAE comparada a outras unidades, provavelmente pela elevada prevalência de HH nessa população. A hiperglicemia é mais intensa e frequente nos portadores de diabetes do que nos pacientes com HH e se correlaciona com a variabilidade glicêmica durante in-ternação, mensurada pelo desvio-padrão da glicemia.
132eFeiTOS dA SUPLeMenTAÇÃO cOM MeLATOninA e dO TReinAMenTO FÍSicO AeRÓBiO SOBRe O QUAdRO cLÍnicO de RATOS diABÉTicOS indUZidOS POR eSTRePTOZOTOcinAMelo RM1, Hirabara SM1, Lopes AMS1, Buonfiglio dc1, Amaral FG1, cipolla-neto J1
1 Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo (ICB/USP), Fisiologia e Biofísica, SP, Brasil
O exercício físico aeróbio exerce papel fundamental no controle da glicemia, estimulando a captação de glicose por meio da contração muscular, independente da ação da insulina. A insulina e o exercício físico são os estimuladores fisiologicamente mais relevantes do trans-porte de glicose no músculo esquelético. A glândula pineal, por meio da síntese e secreção de melatonina, desempenha importante função fisiológica e regulatória no metabolismo de carboidratos, influen-
ciando a secreção e a ação da insulina; e o animal pinealectomizado apresenta quadro de resistência insulínica e diminuição na síntese de GLUT4. Além disso, esses animais são incapazes de apresentar as adaptações metabólicas musculares e do tecido adiposo típicas do treinamento físico aeróbio. Por outro lado, dados recentes eviden-ciam que o animal diabético apresenta redução de 50% na produção de melatonina. Objetivos: Investigar os efeitos da suplementação com melatonina e do treinamento físico aeróbio sobre a sensibili-dade a insulina em ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina. Metodologia: Para o presente projeto, foram utilizados ratos albi-nos machos da linhagem Wistar, com aproximadamente 3 meses de idade, pesando de 200–250 g, subdivididos nos seguintes grupos: controles sedentários – CS; controles treinados – CT; diabéticos se-dentários – DS; diabéticos treinados – DT; diabéticos suplementa-dos sedentários – DMS; diabéticos suplementados treinados – DMT. O protocolo de treinamento físico dos animais teve a duração de cinco semanas, com intensidade de aproximadamente 50%-60% do consumo máximo de oxigênio. Ao término do protocolo, os animais foram sacrificados e a captação de 2-deoxi [2,6-3H]-D-glicose, a sín-tese de [14C]- glicogênio e a oxidação de [U-14C]-D-glicose foram determinados no músculo sóleo segundo os métodos descritos por Challiss et al. (1986), Espinal et al. (1983) e Leighton et al. (1985), respectivamente. Resultados: Ao final do protocolo experimental, observou-se que no músculo sóleo não houve diferença significativa com relação à taxa basal de oxidação de glicose e síntese de glico-gênio entre os grupos avaliados. Porém, o grupo diabético estimu-lado com insulina apresentou redução tanto na oxidação de glicose quanto na síntese de glicogênio em relação ao grupo controle. Essa deficiência foi corrigida de maneira eficaz pela suplementação com melatonina. Discussão: Até o presente momento, os dados corro-boram com a literatura, mostrando que o diabetes melito prejudica a sensibilidade da musculatura esquelética à ação da insulina, redu-zindo a captação de glicose e a síntese de glicogênio. Tal evento, contudo, é corrigido pela suplementação diária com melatonina. Mesmo não tendo sido observado em nossos resultados, já é sabido da literatura que o exercício físico melhora a via de sinalização de insulina e aumenta o pool de Glut4 translocado pela via de ativação da AMPK. Dessa forma, continuará sendo investigada a combina-ção dessas terapias não farmacológicas representadas pelo exercício físico e pela suplementação com melatonina sobre o quadro clínico de ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina. Agradecimento: Fapesp 04/06767-2 e 09/52920-0 e CNPq.
133eFeiTOS dA SUPLeMenTAÇÃO cOM MeLATOninA e dO TReinAMenTO FÍSicO AeRÓBiO SOBRe A PROdUÇÃO de MeLATOninA eM RATOS diABÉTicOS indUZidOS POR eSTRePTOZOTOcinAMendes c1, Melo RM1, Peres R1, Taneda M1, Ferreira RFd1, cipolla-neto J1
1 Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo (ICB/USP), Fisiologia e Biofísica, SP, Brasil
Introdução: Em todo o mundo, o diabetes melito é considerado um grande problema de saúde pública e está associado a diversas desordens como elevados níveis glicêmicos e dano e insuficiência de vários tecidos. A glândula pineal, por meio da síntese e secreção de melatonina, desempenha importante função fisiológica e regulatória no metabolismo de carboidratos, influenciando a secreção e a ação da insulina. O exercício físico aeróbio também exerce papel funda-mental no controle da glicemia, estimulando a captação de glicose por meio da contração muscular, independente da ação da insuli-na. Como os animais diabéticos apresentam redução da síntese de melatonina e essa é fundamental para a adaptação bioquímica dos
S143
ReSUMOS de PÔSTeReS
tecidos sensíveis à insulina ao treinamento físico aeróbio, o presen-te estudo teve por objetivo investigar os efeitos da suplementação com melatonina e do treinamento físico aeróbio sobre a produção de melatonina pela glândula pineal em ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina. Metodologia: Neste experimento, foram uti-lizados ratos albinos machos da linhagem Wistar, que foram subdi-vididos em grupos controle e diabético, na condição sedentários, treinados e suplementados com melatonina, totalizando seis grupos distintos (controles sedentários – CS; controles treinados – CT; dia-béticos sedentários – DS; diabéticos treinados – DT; diabéticos com melatonina sedentários – DMS; diabéticos com melatonina treina-dos – DMT). O protocolo de treinamento físico dos animais teve a duração de cinco semanas, com intensidade de aproximadamente 50%-60% do consumo máximo de oxigênio. Resultados e discus-são: Ao final do protocolo experimental, não foi observada qualquer diferença de peso no grupo treinado em relação ao seu grupo con-trole, porém houve redução significante do peso corporal no grupo diabético, provavelmente por causa de uma atividade proteolítica e lipolítica intensificada nesse grupo, o que foi trazido de volta às con-dições normais pela suplementação com melatonina, que foi eficaz em atenuar esses processos degenerativos tanto nos treinados quan-to nos sedentários. O treinamento físico foi eficaz em reduzir os níveis glicêmicos no grupo treinado e treinado suplementado com melatonina de maneira significativa em relação ao grupo diabético sedentário, confirmando a importância do exercício no controle da glicemia. Um dado interessante em neste trabalho mostrou que o treinamento físico aumenta a síntese de melatonina pela glândula pineal. Por outro lado, o diabetes reduziu a produção de melatonina pela glândula pineal, que foi corrigida pelo treinamento e pela suple-mentação com melatonina em relação ao grupo controle sedentário. De modo geral, os dados sugerem que tanto o treinamento físico aeróbio quanto a suplementação com melatonina têm efeitos benéfi-cos na prevenção e no controle do diabetes melito. PIBIC – CNPq; Fapesp 04/06767-2 e 09/52920-0).
134PReGnAncY ReSTOReS inSULin SecReTiOn BUT nOT GLUcOSe TOLeRAnce in cAFeTeRiA dieT-indUced OBeSe RATSVanzela ec1, Ribeiro RA1, Bonfleur ML2, Oliveira cAM1, carneiro eM1, Boschero Ac1
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Anatomia, Biologia Celular e Fisiologia e Biofísica, SP. 2 Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, PR, Brasil
Introduction: Pregestational obesity increases the risk for develop-ment of gestational diabetes. Here, we investigated glucose toler-ance and pancreatic islets functionality in control nonpregnant (C) and pregnant (CP), and cafeteria diet-induced obese nonpregnant (Caf) and pregnant (CafP) Wistar rats. Methods: After 14 weeks of treatment, and at 14th day of pregnancy, an intraperitoneal glucose tolerant test (ipGTT) was performed. At 16th day of pregnancy, the rats were sacrificed and isolated islets were used for measurement of: insulin secretion (RIA); glucose-induced cytosolic Ca2+ levels (FU-RA-2AM) and; a1.2 subunit of the voltage-sensitive Ca2+ channel gene expression (CaVa1.2; Real-time PCR). Results and discus-sion: At the end of the diet period, an impaired glucose tolerance was observed in Caf and CafP compared with C and CP rats. The dose-response curve of insulin secretion (2.8-27.7 mmol/L glucose) was shifted to the right in Caf compared with C, but was normal in CP and CafP islets (12.3 ± 0.6, 10.6 ± 0.2, 9.3 ± 0.1 and 9.6 ± 0.5 mmol/L, respectively; P < 0.05). Also, at 2.8 mmol/L of glucose, insulin secretion induced by KCl (40 mmol/L) or tolbutamide was reduced in islet from Caf rats, compared with the other groups. The glucose-induced Ca2+ increase, the frequency and amplitude of the
Ca2+ oscillations, and the CaVa1.2 gene expression were significantly lower in Caf islets compared with the other groups. In conclusion, cafeteria diet-induced obesity impairs insulin secretion in islets from nonpregnant rats, and these alterations seem to be due to impair-ment of Ca2+ handling in Caf islets. Although pregnancy improves Ca2+ handling and restores insulin secretion in the islets, these altera-tions were not sufficient to overcome the impaired glucose tolerance observed in CafP rats. Supported by Brazilian foundations: Fapesp, CNPq, Capes.
135BUScA de cASOS nOVOS de diABeTeS MeLiTO: UMA AÇÃO eFeTiVA dA ATenÇÃO BÁSicA nA cidAde de BAURU/SPReigota RMS1
1 Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, Departamento de Planejamento, Avaliação e Controle, SP, Brasil
Introdução: A expectativa de vida da população tem sofrido gradual aumento no Brasil e no mundo. Em 1980, a esperança de vida ao nascer era de 61 anos, em 2000, de 68,5 e em 2020 será de 75,5 anos. A proporção crescente de idosos na população pode gerar efei-tos marcantes sobre os serviços de saúde, em razão do aumento da incidência de doenças crônico-degenerativas e de incapacidades di-versas. O diabetes melito é uma das causas mais importantes de mor-bimortalidade na população em geral. No Brasil, a prevalência é de 11% na população acima de 40 anos. O controle da doença e a detec-ção precoce de casos é a melhor prevenção contra o aparecimento de complicações. Estudos têm demonstrado que modificações no estilo de vida são muitas vezes mais importantes que o tratamento farma-cológico. Em Bauru, a Secretaria Municipal de Saúde tem acompa-nhado 7.000 diabéticos, o que representa 7% da população acima de 40 anos frequentadora do Sistema Público. O esperado seriam 9.900 pessoas, o que justifica a realização de campanhas de busca de casos novos. Método: Com o objetivo de buscar casos novos da doença, por meio do Programa de Controle do Diabetes, realizaram-se nos anos de 2007, 2008 e 2009 campanhas voltadas para a população em geral. Essas campanhas seguiram o calendário da Associação Na-cional de Diabéticos e consistiram na realização de testes de glicemia capilar em todos os indivíduos que comparecessem nas unidades de saúde e em pontos estratégicos da cidade. Os casos alterados foram encaminhados para consulta médica e/ou de enfermagem para a solicitação de exames laboratoriais e diagnóstico definitivo. Resul-tados: Entre os resultados alterados, foram detectados casos novos da doença, sendo 7% no ano de 2007, 9.5% no ano de 2008 e 9.7% em 2009, conforme demonstra a tabela 1. Discussão: A atividade em questão cumpre o papel de busca de casos novos. Ao se com-parar os resultados encontrados nos anos 2007 e 2009, observa-se um incremento positivo de 2.5 pontos percentuais. Essa atividade também favorece a avaliação dos casos em acompanhamento, uma vez que foram, entre os testes realizados, identificados pacientes com diagnóstico prévio de diabetes e glicemia alterada, o que comprova a necessidade de maior e melhor controle desses pacientes demons-trados na tabela 1 de forma decrescente, sendo uma diferença de 1,1 ponto percentual entre os anos 2007 e 2009.
Tabela 1. Distribuição dos resultados de testes de glicemia capilar segundo tipo distribuídos por ano
Testes de glicemia capilar alterados 2007 2008 2009
Nº %* Nº %* Nº %*
Sem diagnóstico prévio de diabetes 356 7.2 668 8.5 301 9.7
Com diagnóstico prévio de diabetes 937 9.0 591 7.5 245 7.9
* Percentual em relação ao número de testes realizados.
S144
ReSUMOS de PÔSTeReS
136eSTUdO dO PROceSSO inFLAMATÓRiO SUBcLÍnicO nO TecidO AdiPOSO de AniMAiS OBeSOS SOB O eFeiTO de BLOQUeAdOReS dO RecePTOR de AnGiOTenSinAAmaya Sc1, Perrella BP2, Saad MJA3
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Clínica Médica. 2 Unicamp, Faculdade de Ciências Médicas. 3 Unicamp, Clínica Médica, SP, Brasil
Introdução: O sistema de transdução do sinal de insulina tem inú-meros efetores comuns aos de angiotensina II (AII), ou seja, um hormônio pode modular a resposta celular do outro, um efeito co-nhecido como cross-talk. Clinicamente, os bloqueadores do sistema renina-angiotensina, em especial os inibidores da enzima conversora de angiotensina e os bloqueadores dos receptores de AII, são ampla-mente utilizados como drogas anti-hipertensivas. Alguns estudos re-centes sugerem efeitos antiaterogênicos e antidiabéticos dessas dro-gas, além da redução da pressão sanguínea. Objetivo: Investigar o efeito das drogas bloqueadoras do receptor de angiotensina (losartan e telmisartan) nos níveis teciduais de proteínas da via de transmis-são do sinal de insulina (IR, IRS-1 e 2, Akt) e da lipogênese (FAS, SREBP1c) e de algumas adipocitoquinas (IL-6, TNF-a, MCP-1) em tecido adiposo, bem como no desenvolvimento e diferenciação desse tecido em animais com obesidade induzida por dieta. Material e método: Foram utilizados camundongos Swiss machos divididos em quatro grupos, que receberam dieta-padrão; dieta hiperlipídica (DH); DH mais losartan; DH mais telmisartan. Durante o período de tratamento os animais foram pesados e foram realizados teste de tolerância à insulina (ITT) e teste de tolerância à glicose (GTT). Foi retirada amostra de gordura epididimal, perirrenal e subcutâneo para estudos anatomopatológicos. Tecidos musculares, hepáticos e adipo-sos foram removidos para serem estudados pela técnica de Western Blotting. Resultados: Os tratados com DH mais ambas as drogas são mais leves que os tratados somente com a DH. No GTT e no ITT não houve diferenças significativas. Em relação à droga Losar-tan, no músculo e no tecido adiposo há diminuição da expressão de IR nos animais tratados, a expressão do Akt do tecido adiposo também diminuiu, a expressão de IRS-1 não foi alterada. No fígado, a expressão de IRS-1 e AKT nos animais obesos não é revertida pela sua administração. Em relação ao Telmisartan, ocorreu aumento na fosforilação em tirosina de IRS-1, menor expressão de p-JNK nos animais tratados. Conclusão: As drogas bloqueadoras do receptor de angiotensina II, losartan e telmisartan, não interferem na via de sinalização de insulina de modo significativo e pouco interferem na lipogênese e na inflamação subclínica associada à obesidade abdomi-nal, mostrando-se pouco eficientes. Apoio financeiro: CNPq.
137MOdULAÇÃO PeLA GLicOSe dA ARHGAP21 e SUAS PROTeÍnAS ASSOciAdAS eM cÉLULAS Min6Ferreira SM1, Barbosa Hc2, Rezende LF1, Bigarella cL3, Saad ST4, Boschero Ac5
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Departamento de Anatomia, Biologia Celular e Fisiologia e Biofísica. 2 Unicamp, Departamento de Fisiologia e Biofísica. 3 Unicamp, Hemocentro. 4 Unicamp, Centro de Hematologia e Hemoterapia. 5 Unicamp, Fisiologia e Biofísica, SP, Brasil
Introdução: A ARHGAP21 pertence à família das Rho-GAP e é altamente expressa em tecido muscular esquelético e cardíaco, neural e placentário. Está relacionada à diferenciação de células HL-60 e se associa às proteínas PKCζ (proteinocinase C zeta), FAK (cinase de adesão focal) e CDC42. A associação à PKCζ em cardiomióci-tos sugere efeitos relacionados à sua sobrevivência, e a associação à FAK sugere participação no rearranjo do citoesqueleto. A CDC42 é modulada pela ARHGAP21 e está envolvida na formação de com-plexos v e t-SNARES em células betapancreáticas. O objetivo des-
te trabalho foi avaliar a expressão e a localização da própria ARH-GAP21, da PKCζ, da FAK e da CDC42, bem como as associações de ARHGAP21/PKCζ e ARHGAP21/FAK em células MIN6 em concentrações de 5.6 ou 22 mM de glicose. Métodos: Células beta MIN6 foram cultivadas em lamínulas de vidro e fixadas em solução de PBS-paraformaldeído (PFA) a 4%, incubadas com o anticorpo pri-mário antiARHGAP21 e com secundário marcado com fluoróforo e com faloidina-TRITC e, então, montadas em lâminas pelo meio de montagem para fluorescência e analisadas por escaneamento a laser em um LSM-510 (Zeiss) montado sobre um microscópio Axioplan (Zeiss) utilizando objetiva 63X de imersão em óleo. Para coimuno-precipitação, extratos proteicos foram incubados com o anticorpo de interesse, os imunocomplexos foram recuperados por incubação com proteína-A-Sepharose (GE) e sua formação analisada por Western Blotting. Células beta MIN6 foram cultivadas por três dias em meio RPMI com 5,6 ou 22 mM de glicose. Após esse período, as proteínas foram extraídas e a expressão proteica, avaliada por Western Blotting. Resultados e discussão: Nas células MIN6, a ARHGAP21 está lo-calizada em todo o citoplasma e em alguns pontos está colocalizada com citoesqueleto de actina, ao contrário do observado em outras células, como cardiomiócitos (nuclear), em linhagens celulares de fibroblasto e glioblastoma humano e células HeLa (perinuclear e nu-clear). ARHGAP21 se associa às proteínas FAK e PKCζ, sugerindo que possa realmente modular as funções dessas proteínas. Finalmen-te, o tratamento das células MIN6 com 22 mM de glicose reduziu a expressão da própria ARHGAP21 (-32%) e das outras proteínas estu-dadas: FAK (-15%), PKCζ (-42%) e CDC42 (-17%), indicando que não só se associam, como são moduladas por glicose. Conclusão: Os resultados indicam que a ARHGAP21 é expressa em células betapan-creáticas, possui localização definida e diferente da observada em ou-tros tipos celulares e está associada e modula a expressão de diversas proteínas envolvidas em processos fundamentais à função secretória dessas células. Além disso, a expressão dessas proteínas é modula-da por glicose, indicando que a ARHGAP21 não só é importante constituinte das células betapancreáticas, como também possui um papel na sua função secretória. Referências: 1. Borges L. Biochem Biophys Res Commun. 2008 Oct 3;374(4):641-6. Epub 2008 Jul 26. 2. Bigarella CL. Biochim Biophys Acta. 2009 May;1793(5):806-16. Epub 2009 Mar 4. Agência de fomento: Fapesp.
138AVALiAÇÃO dOS MOTORiSTAS dA UniVeRSidAde eSTAdUAL PAULiSTA: incidÊnciA de diABeTeS e FATOReS de RiScOS ASSOciAdOSOlbrich SRLR1, Trevizani nitsche MJ1, Olbrich J2, Mori n1
1 Universidade Estadual Paulista (Unesp), Enfermagem. 2 Unesp, campus Botucatu, Pediatria, SP, Brasil
Introdução: O interesse da doença e suas complicações no ambiente de trabalho por muitos anos esteve focado no grau de exposição ocu-pacional, porém essa ênfase tem mudado para as doenças crônicas não transmissíveis, e os locais de trabalho passaram a atrair interesse como lugar potencial para estudos causais e de intervenções. A aten-ção à categoria profissional dos motoristas ganha importância quan-to ao propósito de poder dimensionar o risco primário, contribuindo para a redução das taxas de incidência e prevalência de doenças car-diovasculares. Essa profissão possui rotina extremamente desgastan-te, com horários de trabalho irregulares, ocasionando sedentarismo e contribuindo para o aparecimento de hipertensão arterial, diabetes e obesidade. Objetivos: Identificar indivíduos com glicemia alterada e analisar a relação dessa condição com fatores de riscos associados à doença cardiovascular. Métodos: Foram avaliados, de forma volun-tária, 164 (71,3%) motoristas da Unesp que trabalham em diversos campi. Todos preencheram questionário com dados pessoais e epi-
S145
ReSUMOS de PÔSTeReS
demiológicos; foram verificados peso, altura, circunferência abdomi-nal pressão arterial e coletado sangue por punção digital para realiza-ção de exames de glicemia, colesterol total e triglicérides. Todos os participantes que apresentaram anormalidades foram orientados por meio de consulta de enfermagem. Resultados: 17% apresentaram glicemia alterada, dos quais metade não realizava acompanhamento do diabetes. A média de idade foi de 50,8 anos, e foi maior entre os diabéticos (p = 0,014) quando comparados aos não diabéticos. 96,4% dos diabéticos e 81,6% dos não diabéticos se encontravam com pré-obesidade, mostrando tendência (p = 0,051) maior entre os diabéticos. Os valores médios de glicemia foram maiores entre os fumantes (p > 0,001). Observou-se maior proporção de hipertensão entre os diabéticos (p = 0,004); 26,9% já realizavam tratamento para hipertensão. O colesterol total estava aumentado em pequena parce-la, diferentemente do observado com os valores de triglicérides, em que 67,1% estavam elevados; proporção de diabéticos com triglicéri-des elevados foi maior que a dos não diabéticos (p = 0,037). 80,9% eram sedentários, sem diferença entre diabéticos e normais. Con-clusão: Evidenciaram-se vários fatores de risco para doenças cardio-vasculares, principalmente naqueles com glicemia elevada; muitos desconheciam os problemas detectados, indicando necessidade da implementação de ações educativas voltadas principalmente para a mudança de estilo de vida. O envolvimento das universidades não só na avaliação do perfil de risco de seus servidores, como também no processo educacional, esclarecendo os benefícios advindos com a adoção de um estilo de vida saudável é de grande valia. Referências: 1. Conceição TV. Arq Bras Card. 2006;86:26-30. 2. Bittencourt RJ. Cad Saude Publica. 2004;20:761-70. 3. Coelho MM. Enf Integral. 2005;29-35. Apoio: PROEX e Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp.
139ATiVAÇÃO dAS ViAS PROTeOLÍTicAS LiSOSSOMAL e UBiQUiTinA-PROTeASSOMA indUZ ATROFiA eM cORAÇÃO de RATOS diABÉTicOSPaula-Gomes S1, Zanon nM2, Baviera AM3, carvalho L1, Gonçalves dAP2, Lira ec2, Filippin eA1, navegantes Lcc2, Kettelhut ic1
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Bioquímica e Imunologia, SP. 2 FMRP-USP, Fisiologia. 3 Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Bioquímica, MT, Brasil
Introdução: Estudos prévios de nosso laboratório demonstraram que a deficiência de insulina promoveu perda da massa muscular es-quelética em ratos diabéticos. Essa redução foi devida ao aumento da atividade dos processos proteolíticos dependente de Ca2+ e de-pendente de ubiquitina-proteassoma, após um e três dias à adminis-tração de estreptozotocina (STZ). No entanto, a importância da in-sulina no controle do metabolismo proteico em tecido cardíaco tem sido pouco estudada. Este trabalho teve como objetivo investigar o papel da insulina no controle da massa muscular cardíaca, investigan-do o seu papel na atividade dos sistemas proteolíticos lisossomal e ubiquitina-proteassoma (UPS) em coração de ratos diabéticos, bem como a participação das proteínas AKT/Foxo envolvidas na via in-tracelular de sinalização da insulina. Métodos: Ratos machos Wistar (70-80 g) foram divididos em dois grupos: animais normais (N) e diabéticos (D) (três dias após administração de STZ 135 mg/kg, i.v.). Em ambos os grupos foram analisados o peso do coração, o conteúdo proteico das proteases lisossomais (catepsinas B e L) e das proteínas autofágicas (GABARAP e LC3 II), bem como o estado de fosforilação das proteínas AKT/Foxo envolvidas na via de sinaliza-ção da insulina por Western Blotting. Além disso, foi quantificada a expressão do RNAm dos genes atróficos GABARAP, LC3, MuRF1 e atrogina-1 no coração dos animais dos dois grupos. Resultados: Os animais diabéticos apresentaram diminuição de 30% na massa do co-ração em relação aos controles, com concomitante aumento no con-
teúdo proteico das catepsinas (B = 62% e L = 80%) e LC3II (43%). Foi observada no coração desses animais diminuição no conteúdo proteico total da AKT (63%) e nas fosforilações em seus resíduos de serina473 (77%) e treonina308 (36%) e na fosforilação de Foxo3a (28%) em relação aos controles. A deficiência de insulina promoveu aumento na expressão do RNAm dos genes autofágicos LC3 e GA-BARAP (2x e 7x, respectivamente) e das enzimas E3 ligases MuRF1 (5x) e atrogina-1 (7x), envolvidas na atividade UPS. Discussão: Os resultados mostram que a perda de massa cardíaca induzida pelo dia-betes foi decorrente, pelo menos em parte, da ativação das vias pro-teolíticas lisossomal e ubiquitina-proteassoma. Ainda esses achados sugerem a participação da via de sinalização envolvendo as proteínas AKT/Foxo no controle desses sistemas proteolíticos, os quais po-dem ser regulados pela insulina. Apoio financeiro: CNPq, Capes e Fapesp.
140PARTiciPAÇÃO dO endOTÉLiO nA MAnUTenÇÃO dA ReSPOSTA VASOcOnSTRiTORA À nORAdRenALinA eM AORTAS de RATAS diABÉTicAS: PAPeL dO nO e dA endOTeLinASartoretto SM1, Akamine eH1, Tostes Rc1, carvalho MHc1, Fortes ZB1
1 Universidade de São Paulo (USP), Farmacologia, SP, Brasil
Introdução: A hiperglicemia crônica afeta a composição e estrutura de tecidos vasculares. Essas modificações levam à depressão cardio-vascular, caracterizada pela diminuição da pressão arterial, da fre-quência cardíaca e da resposta pressórica a agentes vasoativos. As alterações vasculares, como a resposta vasoconstritora e os mecanis-mos envolvidos nessa alteração, estão bem caracterizadas em ma-chos diabéticos, mas poucos estudos têm sido realizados em fêmeas. O objetivo foi avaliar a mobilização de cálcio (Ca2+) induzida pela noradrenalina (NA) em aortas de ratas diabéticas (D) e a capacidade contrátil do músculo liso, assim como a participação do óxido nítrico (NO), da endotelina (ET), da angiotensina II (Ang) e dos produtos da ciclo-oxigenase (COX) na resposta de contração à NA. Métodos: O diabetes foi induzido em ratas Wistar por injeção intravenosa de aloxana (40 mg/kg). Após 30 dias da indução e caracterizado o dia-betes, foram avaliadas a mobilização de Ca2+, analisando a contração induzida pela NA (0,1 µM) após a retirada e subsequente reposição do Ca2+ extracelular (2,5 mM), e a resposta contrátil, realizando cur-va concentração efeito (CCE) ao cloreto de potássio (KCl) (5 mM-10 mM) e à NA (0,1 nM-30 µM), em anéis de aorta com (E+) e sem (E-) endotélio de ratas controles (C) e D. Para avaliar a participação do NO, da ET, da Ang e dos produtos da COX na resposta à NA, os anéis de aorta E+ foram incubados com L-NAME (100 µM), inibi-dor da síntese de NO, tezosentan (0,01 µM), bloqueador não seleti-vo dos receptores de endotelina, losartan (10 µM), bloqueador dos receptores AT1 de angiotensina II e indometacina (10 µM), inibidor inespecífico da ciclo-oxigenase respectivamente, 30 minutos antes do início da CCE à NA. Resultados: Na ausência de Ca2+ extracelular, a contração à NA (0,1 µM) em aortas E+ e E- de ratas D foi reduzida em 50%, e a adição do Ca2+ ao meio manteve a resposta reduzida quando comparada às respectivas aortas de ratas C. A resposta con-trátil ao KCl foi reduzida em aortas E+ (29%) e E- (43%) de ratas D. Em aortas E+, a resposta máxima (Rmáx) à NA de ratas D foi seme-lhante à de C. A retirada do endotélio promoveu aumento da respos-ta contrátil à NA em aortas de C (56%), porém esse aumento foi de menor magnitude em D (29%). A inibição da síntese de NO com L-NAME aumentou a Rmáx à NA apenas em aortas de ratas C (45%). O bloqueio dos receptores de endotelina com tezosentan reduziu a Rmáx à NA somente em aortas de ratas D (35%). Tanto o losartan quanto a indometacina reduziram a Rmáx à NA em aortas de ratas C (24% e 48%, respectivamente) e D (30% e 45%, respectivamente).
S146
ReSUMOS de PÔSTeReS
Conclusões: Alterações no aparato contrátil, como redução da libe-ração dos estoques intracelulares e do influxo de Ca2+, podem ser os responsáveis pela redução da resposta contrátil do músculo liso de aorta de ratas D. O endotélio de ratas D é capaz de manter a resposta vasoconstritora à NA semelhante à de C. A redução da modulação do NO sobre a resposta à NA ou o aumento da liberação de endo-telina pelo endotélio podem ser os responsáveis pela manutenção da resposta contrátil à NA em aortas E+ de ratas D. A angiotensina II e os produtos da COX participam de forma semelhante na resposta à NA em aortas de C e D, não podendo ser responsabilizados pela diferença observada. Apoio financeiro: Fapesp/CNPq.
141POLiMORFiSMOS nO Gene QUe cOdiFicA O GLUT-1 e dOenÇA RenAL eM PAcienTeS diABÉTicOS TiPO 1 Rocha T1, Monteiro MB1, Vieira SMS1, nery M1, Queiroz MS1, Vendramini MF2, Azevedo MJ3, Giannella-neto d1, canani LHS4, Machado UF5, correa-Giannella MLc1
1 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Endocrinologia, SP. 2 Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp/EPM), Endocrinologia, SP. 3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Serviço de Endocrinologia, RS. 4 Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 5 USP, Fisiologia e Biofísica, SP, Brasil
Introdução: Há evidências de que a predisposição genética participe na suscetibilidade para as complicações microvasculares do diabe-tes melito (DM). Estudos com animais diabéticos mostraram que a expressão do gene SLC2A1, que codifica o GLUT-1, está aumen-tada no glomérulo e em células mesangiais. A combinação do alelo polimórfico (T) do polimorfismo de um único nucleotídeo (SNP) rs3820589 ao alelo polimórfico (T) do SNP rs3754218 confere maior risco para o desenvolvimento de nefropatia diabética em algu-mas populações. O SNP rs3754218 (intrônico) está localizado em um provável sítio de ligação ao fator de transcrição USF, que regula a expressão do gene SLC2A1 em resposta à hiperglicemia. Não se sabe se o SNP rs3820589 é funcional, no entanto há evidências de que esteja localizado próximo a uma região de ligação ao HIF, fa-tor de transcrição induzível por hipóxia que regula a expressão do GLUT-1. O objetivo deste estudo foi avaliar em uma população bra-sileira de pacientes portadores de DM1 a associação entre a presença de doença renal crônica (DRC) e os polimorfismos rs3754218 e rs3820589. Métodos: 344 pacientes com 15 anos ou mais de diag-nóstico e mau controle glicêmico foram divididos em dois grupos: (1) 214 pacientes sem DRC a DRC estágio 2 (RFG < 60 mL/min) e (2) 130 pacientes com DRC estágios 3 a 5 (RFG < 60 mL/min) ou em terapia de reposição renal ou com história de transplante re-nal. O RFG foi estimado pela fórmula do MDRD. As genotipagens foram feitas pelo sistema de detecção TaqMan® utilizando-se PCR em tempo real. Resultados: Os dois grupos de pacientes não diferi-ram entre si quanto ao controle glicêmico, porém os pacientes com RFG < 60 mL/min apresentavam pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica e trigliceridemia significativamente maiores que os pacientes com RFG > 60 mL/min. Não foi possível avaliar a asso-ciação de DRC com o SNP rs3754218, pois não foram detectados heterozigotos (GT) ou homozigotos (TT) para o alelo polimórfico na população estudada. Não se observou diferença na frequência dos alelos do SNP rs3820589 entre os pacientes com RFG > ou < que 60 mL/min, no entanto a frequência do alelo polimórfico (em homozigose [TT] ou heterozigose [AT]) foi maior entre os pa-cientes sem hipertensão arterial sistêmica (70,3%), em comparação aos pacientes hipertensos (29,7%) (p = 0,057). O alelo polimórfico conferiu proteção para a presença de HAS (OR = 0,598; IC 95% = 0,330 – 1,082). Conclusões: Este estudo demonstra a importância da validação de dados genéticos obtidos em outras populações na população brasileira, na qual os SNP do gene SLC2A1 não parecem se associar com a nefropatia diabética. Um aumento da casuística
será necessário para confirmar a associação do SNP rs3820589 com a HAS, já que a significância estatística foi limítrofe.
142eSTUdO ePideMiOLÓGicO de PAcienTeS cOM diABeTeS MeLiTO TiPO 1 A (dM1) dO AMBULATÓRiO de diABeTeS dO HOSPiTAL dAS cLÍnicAS dA FMUSPMattana Tc1, costa VS1, correa MRS1, Santos AS1, Rossi FB1, Mainardi-novo dTO2, nery M3, davini e1, crisostomo LG2, Gamberini M2, Ruiz MO4, Fukui RT1, Silva MeR1
1 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Laboratório de Investigação Médica, LIM 18. 2 Hospital das Clínicas, FMUSP, Endocrinologia. 3 FMUSP, Clínica Médica. 4 Laboratório de Imunologia de Marília, SP, Brasil
DM1 é uma doença autoimune que resulta da interação de fatores genéticos e ambientais, com fenótipos que variam com a região e a etnia. São escassas as informações epidemiológicas do DM1 na Amé-rica do Sul, considerada região de baixa prevalência da doença. Ob-jetivo: Caracterizar a população de pacientes DM1 na cidade de São Paulo e identificar fatores relevantes relacionados ao seu desenvolvi-mento. Pacientes e métodos: Foram analisados glicemia, valores e frequência de autoanticorpos e de peptídeo C, frequência de alelos HLA-DR, manifestações ao diagnóstico e condições de parto (teste t de Student e de Fisher) de pacientes com DM1, segundo idade de diagnóstico, cor e sexo. Resultados: Foram analisados 609 pacientes (22 ± 18 anos); 58,8% do sexo feminino (F); idade ao diagnóstico de 11,6 ± 7,9 anos (75,2% £15 anos de idade), duração da doença de 10,4 ± 9,8 anos, sendo 44,5% o primeiro filho da prole. Bran-cos compreenderam 81,7% e não brancos (pardos e negros), 17,7%. Nascimentos por parto normal (81,1% x 50,6% p < 0,001) e perda de peso ao diagnóstico (98,4% x 90,1% p = 0,03) predominaram em não brancos. Determinações: glicemia de 185,27 ± 115,14 mg/dL, ICA: 26,7 ± 73,7 U JDF, presente em 30,3%, antiGAD: 10,3 ± 28,0 U/mL, presente em 49,2%, e anti-IA2: 3,8 ± 7,3 U/mL, em 42%; 28,1% apresentavam os dois anticorpos. AntiGAD: maiores valores no sexo F (12,71 x 6,75 U/mL; p = 0,02), nos brancos (11,3 x 6,29 U/ml; p = 0,018) e naqueles com diagnóstico após os 25 anos (25,6x9,4 U/mL; p = 0,003). AntiGAD foi mais frequente no sexo F (53,5% x 42,8%; p = 0,025) e em pacientes com diagnóstico > 25 anos (78,5% x 46,3%; p = 0,001). Anti-IA2 prevaleceu na faixa etária de diagnóstico de 10-15 anos (51,6%) versus 15 a 20 (32%; p = 0,025) e 20 a 25 anos (25,9%; p = 0,027). Os valores de anti-IA2 foram maiores naqueles com diagnóstico > 25 anos versus ≤ 5 anos (p = 0,047) e 10 a 15 anos (p = 0,0004). Dois anticorpos predominaram na faixa etária de diagnóstico de 10 a 15 anos (40%) em relação às de 15 a 20 (19,2%; p = 0,01) e ≤ 5 anos (19,7%; p = 0,005). Valores de peptídeo C > 0,5 ng/mL prevaleceram nos ho-mens (22,3% x 10,20%; p = 0,015) e naqueles com diagnóstico > 25 anos (33,3%) versus 15 a 20 anos (4% p = 0,03). Em 470 pacientes, os alelos HLA-DR3 (52,7%) e -DR4 (56,8%) foram os mais fre-quentes, independente do sexo e cor. O alelo -DR11 prevaleceu nas mulheres, o -DR9, nos negros e o -DR1, nos brancos (p < 0,007). Alelos HLA-DR3 prevaleceram naqueles com diagnóstico entre 15-20 anos (21,3%), alelos -DR4, de 10 a 15 anos (35,3%) e -DR13, no grupo acima de 25 anos (15,9%). A frequência do alelo -DR15 não diferiu entre as faixas etárias de diagnóstico. Conclusão: Nos 609 pacientes DM1 da cidade de São Paulo, a doença predominou nos mais jovens (< 15 anos), brancos e com alelos HLA-DR3 e/ou -DR4. Valores de antiGAD e anti-IA2 foram maiores naqueles com diagnóstico > 25 anos. Anti-IA2 prevaleceu nos jovens (< 15 anos) e antiGAD, nas mulheres, nos brancos e naqueles com diagnósti-co após os 25 anos. Os resultados semelhantes entre brancos e não brancos evidencia o alto grau de miscigenação da nossa população e sugere que esta não influiu na ação de demais fatores de risco. Apoio: Fapesp.
S147
ReSUMOS de PÔSTeReS
143cd226 Gene POLYMORPHiSM And SUScePTiBiLiTY TO TYPe 1A diABeTeS in A BRAZiLiAn cOHORTMattana Tc1, costa VS1, Santos AS1, Pinto eM1, Fukui RT1, davini e1, Silva MeR1
1 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Laboratório de Investigação Médica, LIM 18, SP, Brasil
Introduction: CD226 molecule is a 67 kDa Type 1 membrane, intra-cellular adhesion protein involved in coestimulation and activation of effector functions of T-helper Type 1 (Th1) cells. Cd226 appears to contribute to multiples and adaptative responses, which include leu-kocyte migration, activation, expansion, and differentiation of CD8 T cells and CD4 cells, and effector responses of T cells and NK cells. Observations of CD226 and its receptors expression in thymocytes suggests that this interaction may regulate the generation of auto-reactive T cells, futher emphasizing the importance of Cd226 in the immune response. Influences in CD4 T cells and perhaps T reg cell responses remains to be explained. Genome Wide Studies has recently identified a robust association of type 1 diabetes with a nonsynony-mous single nucleotide polymorphism (SNP) rs763361 Gly307Ser in exon 7 of Cd226 gene. This amino acid change could alter the molecule phosphorilation sites. Objective: Identify variants and poly-morphism in the Cd226 coding sequence in type 1 diabetes (T1D) patients and compare the prevalence of SNP rs763361 Gly307Ser in exon 7 with the results previously described in other studies. Patients and methods: Genomic DNA was extracted from 70 T1D patients (25M/45F) aged 15,17 ± 9,819, ketosis-prone and treated with insulin. Coding regions (exon 2, 3,4,5,6, and 7) and boundaries of Cd226 gene (ENSG00000150637) were amplified. Direct sequenc-ing of PCR amplified products was performed using ABI 3100 capil-lary sequencer. Results were compared with 50 health controls and databases. Results: Frequency of polymorphisms already described and identified in this cohort of T1D was similar to healthy controls. Also, in disagreement with literature data, the SNP rs 763361 (T/C) in exon 7, related to diabetes susceptibility, didn´t show neither allelic (P = 0,876) or genotype (P = 0,375) difference. Unexpected a huge prevalence of rs763361 TT genotype was observed in diabetic female patients (p = 0,035). Conclusion: In this Brazilian cohort of T1D patients, polymorphism in CD226 gene seems not to contribute to diabetes risk nevertheless an increase in sample should be necessary. Prevalence of TT genotype of the SNP rs763361 in female gender re-mains to be study to conclude some association. Supported by Fapesp.
144SUPLeMenTAÇÃO cOM TAURinA PReVine O deSenVOLViMenTO de OBeSidAde e inTOLeRÂnciA A GLicOSe eM cAMUndOnGOS ALiMenTAdOS cOM dieTA HiPeRLiPÍdicABatista TM1, Silva PMR1, carneiro eM1
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Anatomia, Biologia Celular e Fisiologia e Biofísica, SP, Brasil
Introdução: A obesidade é um problema de saúde pública e se en-contra entre os preditores para o desenvolvimento da resistência a insulina e diabetes melito tipo 2. A taurina é um aminoácido presente em altas concentrações no plasma de mamíferos e dentre suas diversas ações fisiológicas destaca-se o controle sobre a secreção de insulina e homeostase glicêmica. Nesse trabalho, o objetivo foi avaliar os efeitos da suplementação com taurina sobre o ganho de peso e tolerância a glicose e insulina em animais alimentados com dieta rica em gordu-ra. Métodos: Camundongos C57BL/6 com 75 dias de vida foram divididos em três grupos: controles (C) – alimentados com dieta nor-mocalórica; obesos (CH) – alimentados por oito semanas com dieta
hiperlipídica (35 g%); e obesos suplementados com 5% de taurina na água de beber (CHT). Durante todo o período experimental o peso corpóreo foi registrado semanalmente e, ao final do tratamento, os animais foram submetidos ao teste intraperitoneal de tolerância a gli-cose (ipGTT) e insulina (ipITT). Resultados e discussão: O grupo CH, a partir da quarta semana, apresentou peso corpóreo significa-tivamente maior que o grupo C (C = 31,04 ± 0,61; CH = 36,24 ± 1,06 g; P < 0,01; n = 8). O peso dos animais CHT foi significativa-mente menor (CHT = 32,08 ± 1,04 g; P < 0,01) que o do grupo CH, mantendo-se semelhante a C até a oitava semana de tratamento (C = 36,15 ± 1,86; CHT = 38,13 ± 1,33 g). Animais CH e CHT tiveram maior glicemia de jejum comparados ao grupo C (C = 71,0 ± 2,32; CH = 100,2 ± 6,92; CHT = 97,36 ± 8,26 mg/dl; P < 0,05; n = 5-6). A análise das curvas glicêmicas obtidas durante o ipGTT mostra que os animais CH são intolerantes a glicose em relação a C (C = 22851 ± 2082; CH = 35483 ± 4589 mg/dl.min; P < 0.05, n = 5-6). A suplementação com taurina preveniu o desenvolvimento da intolerância a glicose nos animais CHT, sendo evidenciada, aos 30 e 60 min do ipGTT, glicemia similar à observada para o grupo C (30’ C = 366,2 ± 24,39; CHT = 433,2 ± 29,43 mg/dl; 60’ C = 275,6 ± 22,78; CHT = 354,7 ± 36,06 mg/dl). A área abaixo da curva da glicemia durante o ipITT do grupo CH foi maior que C e a suple-mentação impediu a resistência a insulina nos camundongos CHT (C = 439,6 ± 57,71; CH = 645,1 ± 11,71; CHT = 502,4 ± 96,66 mg/dl.min; P < 0,05; n = 5-6). Camundongos alimentados com die-ta hiperlipídica por oito semanas desenvolvem obesidade e intolerân-cia a glicose. A suplementação com taurina foi eficiente em prevenir o ganho de peso nesses animais, além de melhorar a tolerância a gli-cose. Os mecanismos pelos quais esse aminoácido produz esse efeito ainda necessitam de maior esclarecimento. Vias de controle da fome e saciedade e regulação do gasto energético podem estar relacionadas com as ações antiobesidade da taurina Apoio financeiro: Fapesp.
145AVALiAÇÃO dO cOnTROLe MeTABÓLicO de PAcienTeS cOM diABeTeS MeLiTO eM SeGUiMenTO eM UM PROGRAMA de AUTOMOniTORiZAÇÃO dA GLiceMiA cAPiLAR nO dOMicÍLiOVeras VS1, Teixeira cRS1, Torquato MTcG2, Zanetti ML1
1 Universidade de São Paulo (USP), Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. 2 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), USP, SP, Brasil
Estudo retrospectivo realizado em quatro Unidades Básicas de Saú-de, em uma cidade do interior do Estado de São Paulo, em 2009. O objetivo foi avaliar a glicemia capilar e o controle metabólico das pessoas com diabetes melito (DM) cadastradas no Programa de Au-tomonitorização da Glicemia Capilar no domicílio, em quatro Uni-dades Básicas de Saúde do Distrito Oeste da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto – SP. A amostra foi constituída por 97 usuários com DM, no período de novembro de 2005 a dezembro de 2008. Para a coleta de dados, foram utilizados dois formulários com as variáveis demográficas e clínicas relacionadas ao programa e ao controle metabólico. Os dados foram obtidos mediante consul-ta às planilhas de perfil glicêmico e ao prontuário de saúde. Para a análise, utilizaram-se estatística descritiva e o teste de Shapiro-Wilk, o teste de Levene, o teste de Wilcoxon, o teste de Mann-Whitney e o teste de Kruskal-Wallis. Os resultados mostraram que a maioria dos sujeitos era do sexo feminino (73,2%), com predomínio da faixa etária de 60 a 69 anos. O tempo de participação no programa variou de 5 a 42 meses, mediana de 33 meses. A média do número de me-didas de glicemia capilar no domicílio ao longo de um mês, no início do programa, foi de 34,08 medidas e após, no mínimo, seis meses teve discreta redução para 33,61 medidas. O percentual de medidas realizado foi de aproximadamente 65,15% no início e 64,89% após
S148
ReSUMOS de PÔSTeReS
seis meses de participação no programa de AMGC. No que diz res-peito à glicemia capilar no domicílio, observou-se que houve melhora nas glicemias de jejum, depois do almoço e durante a madrugada (p < 0,05). Em relação ao número de hipoglicemias, nota-se discreta melhora na média após, no mínimo, seis meses de participação no programa (0,49/± 1,09). A porcentagem de hipoglicemia no início da participação foi de 2,28% episódios (± 5,26%) e, no mínimo, seis meses de participação no programa foi de 1,68% episódio (± 3,80%). No início da participação no programa, os episódios de hiperglicemia foram de 36,65% episódios (± 27,88%), com mediana de 32,22% e, no mínimo, seis meses de participação no programa foi de 30,80% episódios (± 29,15%), com mediana de 23,08%. Ao investigar o nú-mero de medidas de glicemia capilar no domicílio em relação ao sexo, obteve-se que, no início da participação no programa, as mulheres realizavam uma média de 36,27 ± 17,53 medidas de glicemia capilar ao longo de um mês, enquanto os homens, 28,12 ± 14,60, portanto estatisticamente significativo (p = 0,029). Após, no mínimo, seis me-ses de participação no programa, os homens realizaram um número maior de medidas ao longo de um mês (35,61/± 22,43). Por outro lado, constatou-se redução de medidas de glicemia capilar das mulhe-res (28,15/± 14,85), quando comparado o início e, no mínimo, seis meses de participação no programa, não sendo estatisticamente signi-ficativo (p = 0,141). Recomenda-se ao Programa de Automonitoriza-ção da Glicemia Capilar no domicílio um programa de educação em diabetes melito visando à obtenção de resultados efetivos quanto ao controle glicêmico e metabólico dos usuários com DM.
146ÁcidO GRAXO eSTeÁRicO AdMiniSTRAdO ViA inTRAceReBROVenTRicULAR PROMOVe inFLAMAÇÃO HiPOTALÂMicA, diMinUiÇÃO nA SecReÇÃO de inSULinA BASAL e eSTiMULAdA cOM GLicOSe e AUMenTO nA eXPReSSÃO dAS PROTeÍnAS PGc1A e UcP2 eM iLHOTAS PAncReÁTicAS iSOLAdAS de RATOS: PARTiciPAÇÃO dO SiSTeMA neRVOSO SiMPÁTicOcalegari Vc1, Vanzela ec1, Zoppi cc1, Sbragia L2, Silveira LR3, carneiro eM1, Velloso LA2, Boschero Ac1
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Anatomia, Biologia Celular e Fisiologia e Biofísica. 2 Unicamp, Clínica Médica. 3 Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo (ICB/USP), Fisiologia e Biofísica, SP, Brasil
Introdução: Estudos demonstram que diabetes melito tipo 2 e obe-sidade estão associados à inflamação crônica. Ratos alimentados com dietas ricas em ácidos graxos saturados (AGS) apresentam elevada expressão de citocinas pró-inflamatórias e resistência hipotalâmica à insulina. As proteínas PGC1a e UCP2 são expressas em ilhotas pancreáticas e inibem a secreção de insulina. No presente estudo, foram investigados o efeito da administração intracerebroventricular (icv) do AGS esteárico sobre a secreção de insulina e a expressão de PGC1a e UCP2 em ilhotas pancreáticas isoladas. Além disso, a participação do sistema nervoso simpático no processo foi analisada. Métodos: Ratos Wistar machos adultos foram submetidos à cirurgia estereotáxica para implantação de cânula no ventrículo lateral do hi-potálamo. Após recuperação e teste com angiotensina II, eles foram tratados duas vezes ao dia, por cinco dias consecutivos, com veículo BSA (90 mM) ou AGS (90 mM). Grupos de animais foram sujeitos à simpatectomia cirúrgica pancreática (SCP) e, em seguida, à cirur-gia estereotáxica e tratamento icv, como descrito. Outros animais, já com cânula implantada, receberam, via ip, oligonucleotídeo antisense (AS) para PGC1a durante os cinco dias do tratamento icv com BSA ou AGS. No quarto dia de tratamento, foram submetidos ao teste de tolerância à insulina (ITT) ou glicose (GTT), via ip. Decorrido o tratamento, o hipotálamo foi dissecado para análise por immunoblot-ting de citocinas; o sangue, coletado para dosagens bioquímicas; e as ilhotas, isoladas e sujeitas à secreção estática de insulina em diferentes
concentrações de glicose, conteúdo total de insulina e análise por immunoblotting de PGC1a e UCP2. Resultados: Ocorreu elevação na expressão das citocinas IL1b, IL6 e TNF-a no hipotálamo de animais tratados com AGS (p < 0.05). Houve significativa redução da secreção de insulina em animais tratados com AGS se compara-dos com grupo BSA, em condições basal e estimulada com glicose (2.8,11.1 e 22.2 mM) e do conteúdo total e plasmático de insuli-na. Glicemia, concentração de ácidos graxos livres plasmáticos, bem como sensibilidade à insulina e glicose, foram similares em ambos os grupos. A expressão protéica de PGC1a e UCP2 em ilhotas foi 50% e 56% maior, respectivamente, no grupo AGS comparado com BSA. Animais tratados com AS para PGC1a durante administração icv de AGS apresentaram diminuição significativa (p < 0,05) na expressão de PGC1a e, consequentemente, de UCP2 em ilhotas pancreáticas e aumento significativo na secreção de insulina (p < 0,05). Animais submetidos à SCP e concomitante tratamento icv com AGS apresen-taram significativo aumento na secreção de insulina basal e estimu-lada com glicose, além de apresentarem elevação no conteúdo total e plasmático de insulina (p < 0,05). Também foram mais sensíveis à insulina e mais tolerantes à glicose (p < 0,05). Em adição, demonstra-ram expressiva diminuição no conteúdo protéico de PGC1a e UCP2 (p < 0,05). Discussão/Conclusão: O tratamento de animais com AGS esteárico, via icv, promoveu inflamação hipotalâmica, reduziu a secreção de insulina e aumentou a expressão de PGC1a e UCP2 em ilhotas pancreáticas isoladas, enquanto a SCP foi capaz de reverter esses efeitos, sugerindo possível participação do sistema nervoso sim-pático no processo.Apoio financeiro: Fapesp.
147HiPeRSenSiBiLidAde AdRenÉRGicA indUZidA PeLA deSneRVAÇÃO SiMPÁTicA LOMBAR RedUZ A deGRAdAÇÃO PROTeicA e eSTiMULA O MeTABOLiSMO de GLicOSe eM MÚScULOS edL de RATOSSilveira WA1, Zanon nM1, Garófalo MAR1, Godinho RO2, Kettelhut ic3, navegantes Lcc1
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Fisiologia. 2 Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp/EPM), Farmacologia. 3 FMRP-USP, Bioquímica e Imunologia, SP, Brasil
Introdução: Embora estudos neuroanatômicos tenham demonstra-do que fibras simpáticas noradrenérgicas da cadeia simpática lombar inervam diretamente a musculatura esquelética, independentemente da vasculatura, o seu papel fisiológico sobre as propriedades metabó-licas e funcionais do músculo ainda é completamente desconhecido. Assim, o objetivo deste estudo foi investigar os efeitos da desner-vação simpática lombar na degradação proteica e no metabolismo de glicose em músculos extensor digitorum longus (EDL) de ratos. Material e métodos: Músculos EDL de ratos Wistar (~ 70 g) foram examinados três e sete dias após a desnervação simpática lombar (re-moção cirúrgica do segundo e terceiro gânglio da cadeia simpática lombar). O conteúdo de noradrenalina e AMPc intracelular foram determinados por HPLC e ELISA, respectivamente. A degradação proteica total e a atividade do sistema proteolítico dependente de ubiquitina-proteassoma (UPS) foram avaliadas medindo-se a libera-ção de tirosina em músculos incubados in vitro de ratos alimentados e jejuados (48 horas). O conteúdo de glicogênio muscular foi deter-minado pelo método da antrona. As taxas de síntese de glicogênio e oxidação de glicose foram determinadas in vitro utilizando-se [14C]-glicose (0,5 µCi/ml) na ausência ou presença de insulina (0,05 U/ml). Todos os protocolos foram aprovados pelo comitê de ética em experimentação animal da FMRP/USP (017/2009). Resultados: A desnervação simpática lombar reduziu (85%) o conteúdo de no-radrenalina, aumentou o conteúdo de AMPc intracelular (~ 192%) e a atividade da adenilato ciclase (~ 111%) e reduziu a degradação proteica total (10%) em músculos EDL de ratos, três dias após o
S149
ReSUMOS de PÔSTeReS
procedimento cirúrgico. A proteólise total também estava reduzida sete dias após a desnervação simpática lombar em músculos de ratos alimentados (21%) e jejuados por 48 horas (11%). O aumento na ati-vidade do UPS induzida pelo jejum de 48 horas (147%) foi abolido em músculos de ratos desnervados por sete dias. Embora a desner-vação não tenha alterado o conteúdo de glicogênio, esta aumentou a taxa de incorporação de [14C]-glicose em glicogênio (~ 70%) e a oxidação de glicose estimulada pela insulina (70%). Conclusões: Esses resultados sugerem que a redução de noradrenalina muscular causada pela desnervação simpática lombar induz hipersensibilidade adrenérgica, resultando na inibição da degradação proteica e na es-timulação do metabolismo de glicose em músculos EDL de ratos.Apoio financeiro: Capes, Fapesp (08/06694-6).
148MOdeLO MULTi-inSTRUMenTAL PARA cARAcTeRiZAR A ATiVidAde eLeTROMecÂnicA dO eSTÔMAGO de RATOS diABÉTicOSSinzato YK1, Americo MF1, Marques RG2, Spadella cT2, Miranda JR1
1 Instituto de Biociências de Botucatu, Universidade Estadual Paulista (IBB/Unesp), Física e Biofísica. 2 Unesp, Botucatu, Cirurgia e Ortopedia, SP, Brasil
Introdução: O diabetes melito (DM) é um problema de saúde públi-ca mundial (DCCT. N Engl J Med. 1993;329:977); anormalidades na motilidade gástrica ocorrem em 30%-50% dos pacientes com longo histórico de DM (Long et al. World J Gastroenterol. 2004;18:132). Além disso, cerca de 20% dos casos de gastroparesia decorrem do dia-betes (Hishiguchi et al. Auton Neurosci-Basic Clin. 2002;95:112). Portanto, a origem da gastroparesia precisa ser mais bem compre-endida, porque afeta, também, a qualidade de vida dos pacientes, acarretando deterioração do controle glicêmico e sintomas incapaci-tantes como desnutrição e desbalanço de água e eletrólitos (Long et al. World J Gastroenterol. 2004;18:132). Considerando que diversos modelos foram utilizados para monitorar a motilidade do trato gas-trintestinal com resultados dificilmente comparáveis, torna-se impres-cindível o desenvolvimento de novos modelos animais. O protocolo proposto neste estudo preliminar envolve correlacionar o registro da atividade mecânica, pelo método biomagnético de biossusceptome-tria de corrente alternada (BAC), e o registro da atividade elétrica, mediante eletromiografia (EMG), com o objetivo de caracterizar a atividade eletromecânica gástrica de ratos diabéticos e suas possíveis alterações com o decorrer do tempo. Métodos: Foram utilizados ratos machos Wistar adultos com diabetes grave (glicemia de jejum > 300 mg/dL) induzido por aloxana (42 mg/kg). Após 15 dias da indução do diabetes, foi realizada a cirurgia de implante de eletrodo e marcador magnético na serosa gástrica de oito animais. O registro das atividades elétrica e mecânica do estômago no estado alimentado foi realizado em dois períodos distintos: uma semana após a cirurgia e novamen-te após seis meses. Os registros tiveram duração de 1 hora e foram realizados, simultaneamente, com taxa de 20 Hz por um registrador multicanais (Biopac MP100 System) conectado a um computador. A análise dos sinais foi efetuada por meio de inspeção visual, com o emprego da transformada rápida de Fourier (FFT) e da análise espec-tral (RSA – running spectrum analysis). Resultados: Os sinais elétricos e mecânicos obtidos seis meses após indução do diabetes apresenta-ram perfil bastante irregular quando comparados aos obtidos no pri-meiro mês. A frequência de contração registrada variou entre 50 e 80 mHz (três a cinco contrações por minuto). Além disso, uma análise comparativa entre os sinais elétricos e mecânicos demonstrou baixa correspondência temporal entre ambos. Discussão: Nosso modelo experimental permite avaliar as alterações causadas pela neuropatia diabética durante a evolução da síndrome, uma vez que no diabetes o acometimento da motilidade gástrica é progressivo (Cesarini et al. Rev Ass Med Brasil. 1997;43:163). Além disso, o registro da frequência de
contração e da dissociação no acoplamento eletromecânico do tecido muscular gástrico fornece importantes dados sobre o acometimento do sistema nervoso autônomo ao longo do tempo. O modelo empre-gando BAC e EMG é de baixo custo, muito sensível e flexível já que pode ser realizado sem cirurgia com ingestão de material magnético e eletrodos de superfície. Desse modo, modelos animais fornecem subsí-dios para melhor compreensão fisiopatológica dessa síndrome e novas abordagens na prática clínica. Auxílio financeiro: CNPq e Fapesp.
149FATOR de ATiVAÇÃO PLAQUeTÁRiA PARTiciPA dO cOnTROLe dA AdiPOSidAde e dO PROceSSO inFLAMATÓRiO nO TecidO AdiPOSO ePididiMAL de cAMUndOnGOS deSAFiAdOS cOM dieTA PALATÁVeLMenezes Z1, Oliveira, Mc2, Shang FLT2, Lima RL3, Souza dG2, Teixeira MM4, Santiago AF5, Ferreira AVM6
1 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Fisiologia e Farmacologia. 2 UFMG, Microbiologia. 3 UFMG, Instituto de Ciências Biológicas. 4 UFMG. 5 UFMG, Bioquímica e Imunologia. 6 UFMG, Fisiologia e Biofísica, MG, Brasil
Introdução: A obesidade vem crescendo, virtualmente, em todas as sociedades do mundo. Vários estudos têm demonstrado que o tecido adiposo de indivíduos obesos secreta vários mediadores pró-inflamató-rios, gerando inflamação sistêmica crônica subclínica. O fator de ativa-ção plaquetária (PAF) é um potente mediador inflamatório fosfolipídi-co secretado por diferentes tipos celulares, apresentando vários efeitos, inclusive ação quimiotática. O presente trabalho avaliou o papel do receptor do PAF na resposta inflamatória no tecido adiposo de camun-dongos alimentados com uma dieta palatável. Materiais e métodos: Camundongos C57B/6, com deleção genética do receptor para o PAF (PAFR-/-) e selvagens (WT) foram divididos de acordo com a dieta que receberam: WT com dieta controle (C), WT com dieta palatável (P), PAFR-/- com dieta controle e PAFR-/- com dieta palatável, durante oito semanas. Os animais foram sacrificados e amostras do tecido adiposo epididimal (TAE) mesentérico (TAM) e retroperitonial (TAR) foram pesadas. A dosagem plasmática de triacilglicerol (TAG) e colesterol total foi realizada por meio de kits enzimáticos. Com a técnica ELISA, deter-minou-se a concentração das citocinas no TAE. Por meio da técnica de citometria de fluxo, foi determinada a porcentagem das populações de células inflamatórias com marcadores para GF-/F4 80+ e CD4+CD5+, presentes no estroma vascular do TAE. Adipócitos isolados foram utili-zados para PCR em tempo real. Resultados: Observou-se que o RNA mensageiro para o receptor do PAF está presente em adipócitos. A dieta palatável foi capaz de aumentar o peso dos tecidos adiposos epididimal, mesentérico e retroperitonial quando comparados com os controles (2 ± 0,18 vs. 0,74 ± 0,08; 0,53 ± 0,08 vs. 0,32 ± 0,04; 0,45 ± 0,07 vs. 0,2 ± 0,04 g/100 g PC, respectivamente). Na ausência do receptor para o PAF, a dieta promoveu grande acúmulo de tecido adiposo nos três sítios analisados quando comparados com PAFR-/--C (3 ± 0,21 vs. 1, ± 0,09; 0,85 ± 0,05 vs. 0,32 ± 0,04; 1 ± 0,1 vs. 0,23 ± 0,03 g/100 g PC). A concentração de triacilglicerol foi aumentada nos animais PAFR-/--P quando comparados com os controle (101 ± 8 vs. 45 ± 4). A dieta pro-moveu aumento do colesterol total em relação ao grupo controle (90 ± 3 vs. 73 ± 2 mg/dL), entretanto esse aumento foi bem maior no grupo PAFR-/--P quando comparado com o controle (126 ± 2 vs. 84 ± 3). As citocinas TNF-a, IL10, RANTES, IL6, MIP1a e IL1b foram aumenta-das pela dieta em relação ao grupo controle (1405 ± 87 vs. 1056 ± 153; 1304 ± 65 vs. 991 ± 95; 1279 ± 64 vs. 951 ± 77; 701 ± 79 vs. 504 ± 50; 424 ± 20 vs. 321 ± 33; 559 ± 29 vs. 341 ± 35). Na ausência do receptor para o PAF, a dieta promoveu diminuição das citocinas avaliadas em relação ao grupo controle (599 ± 83 vs. 1485 ± 131; 683 ± 87 vs. 1152 ± 102; 721 ± 107 vs. 1259 ± 104; 274 ± 39 vs. 604 ± 51; 259 ± 26 vs. 420 ± 33; 219 ± 29 vs. 513 ± 25). A dieta aumentou a porcentagem de células que expressam os marcadores GF-/F4 80+ (74 ± 6 vs. 55 ± 8), entretanto a deleção genética do receptor para o PAF não alterou
S150
ReSUMOS de PÔSTeReS
esse perfil. Os animais PAFR-/--P apresentaram aumento na população de células CD4+CD25+ em relação ao grupo controle (37 ± 4 vs. 17 ± 1). Discussão: Os resultados indicam que o PAF é importante para o controle da adiposidade e da concentração plasmática de lipídios depois de desafiado com dieta palatável. Apoio financeiro: Capes e CNPq.
150PROGRAMA VidA & SAÚde – PROGRAMA de PReVenÇÃO, edUcAÇÃO e cOnTROLe dO diABeTeS e HiPeRTenSÃO – eQUiPe MULTiPROFiSSiOnAL PARA MeLHOR AcOMPAnHAMenTO dO PAcienTe Ferreira Kd1
1 Cidades do Entorno de Brasília, Coordenação
Introdução: As doenças do aparelho circulatório e o diabetes re-presentam importantes problemas de saúde pública em nosso País. Há algumas décadas, as doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no Brasil, segundo os registros oficiais (Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM). Em 2000, corresponderam a mais de 27% do total de óbitos, ou seja, nesse ano 255.585 pesso-as morreram em consequência de doenças do aparelho circulatório. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes melito (DM) constituem os principais fatores de risco para as doenças do aparelho circulatório. A HA está relacionada a 80% dos casos de AVE e 60% dos casos de doença isquêmica do coração. Objetivo: Programar ações de prevenção e assistência à saúde à população portadora de diabetes melito e hipertensão arterial e promover tratamento clínico e/ou medicamentoso, quando necessário. Objetivos específicos: Foram traçados de acordo com o Plano de Reorganização da Aten-ção à HAS e DM, a saber: realizar ações de atenção primária (redu-ção e controle de fatores de risco); identificar, cadastrar e vincular às equipes de atenção básica os portadores de DM e HAS; implantar, na atenção básica, o protocolo de assistência básica ao portador de DM e HAS DM e HAS; reorganizar a rede de serviços, em todos os níveis de complexidade, para o atendimento de DM e HAS; firmar convênios com as Secretarias Estaduais e Municipais para o recebi-mento de medicações e equipamentos, bem como a realização de cursos para treinamento das equipes multiprofissionais; desenvolver atividades no campo da promoção para educação em saúde; fornecer as medicações aos portadores de DM e HAS, no elenco mínimo definido pelo MS; informatizar o cadastro de portadores de HAS e DM, a fim de permitir o acesso rápido às informações do tratamento clínico e medicamentoso, facilitando a transmissão online dos dados sobre cada interno aos diversos setores envolvidos no atendimento (ambulatório, hospital, farmácia, serviço social); realizar o monito-ramento da população na busca ativa de novas ocorrências desses agravos; executar ações informativas e elaborar folhetos explicativos destinados aos portadores de DM e HAS. Resultados esperados: Perspectivas e barreiras a serem vencidas – o programa educativo leva tempo para fazer o paciente entender a compensação obtida pela normalização da Hba1c (hemoglobina glicosilada). Para isso, o pro-jeto investirá três meses de educação continuada intensiva para poder mostrar sua eficiência. A readaptação dietética com conhecimento de contagem de CHO, índice glicêmico, gorduras saturadas e necessi-dades calóricas visa tornar a dieta mais maleável e promover a saúde, por meio de ações educativas com ênfase nas mudanças do estilo de vida, correção dos fatores de risco e produção de material educativo. Detalhes sobre as atividades assistenciais e educacionais: o paciente que fará parte do Projeto Vida & Saúde desfrutará de um serviço complexo feito para facilitar e melhorar o manejo do diabetes-hi-pertensão, assim se pode dizer que os nossos pacientes desfrutaram de vantagens especiais. Citam-se as mais importantes – é direito do paciente do Projeto Vida & Saúde: medicamentos necessários para seu tratamento; materiais necessários à sua aplicação e à monitoração
da glicemia capilar; participar das reuniões didáticas previstas em sua agenda; utilizar-se do serviço de emergência em diabetes/hiperten-são no Hospital Bom Jesus (com o cartão de diabéticos e hiperten-sos, o paciente terá prioridade no atendimento hospitalar); utilizar-se do serviço de apoio ao diabetes-hipertensão online (em que se criará um site) ou via telefone, durante período previamente fixado; dispor do auxílio de uma equipe multiprofissional composta por médico (endocrinologista-cardiologista), psicólogo, nutricionista, enfermei-ra, fisioterapeuta, assistente social, educador físico, fonoaudióloga, dentista, farmacêutico; receber material de apoio didático impresso.
151RATAS diABÉTicAS eXPOSTAS À FUMAÇA de ciGARRO: AnÁLiSe dO eSTReSSe OXidATiVO MATeRnO e de AnOMALiAS FeTAiSdallaqua B1, Sinzato YK1, Lima PHO1, Souza MSS2, campos Ke3, iessi iL1, Bueno A1, Saito FH1, Rudge MVc1, damasceno dc1
1 Universidade Estadual Paulista (Unesp), Ginecologia e Obstetrícia. 2 Universidade de Marília (Unimar), Farmacologia. 3 Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), Unesp, SP, Brasil
Introdução: As gestações complicadas pelo diabetes causam altera-ções no metabolismo lipídico e hiperglicemia materna e fetal (Mer-zouk et al. Clin Sci. 2000;98:21), acarretando anormalidades repro-dutivas, abortos espontâneos e morbimortalidade neonatal (Eriksson. Semin Fetal Neonatal Med. 2009;14:85). O tabagismo representa um perigo significativo à saúde e, quando associado à gravidez, apre-senta efeitos nocivos à mãe e à criança (Varvarigou et al. Neonatolo-gy. 2009;95:61). O objetivo do estudo foi avaliar as repercussões da associação entre diabetes e exposição à fumaça de cigarro no estresse oxidativo de ratas prenhes e na frequência de anomalias fetais. Mé-todos: Com relação à indução do diabetes, ratas adultas (3 meses) receberam droga betacitotóxica (streptozotocin, 40 mg/kg, via intra-venosa). Em seguida, foram acasaladas com machos normoglicêmicos e, após o diagnóstico positivo de prenhez, a glicemia foi aferida. Ratas com glicemia superior a 300 mg/dL (diabetes grave) foram inclusas. Considerando a associação com a exposição à fumaça de cigarro, as ratas foram distribuídas aleatoriamente em quatro grupos (n = 15 ratas/grupo): C = ratas não diabéticas expostas ao ar filtrado; D = diabéticas expostas a ar filtrado (controle); DFS = diabéticas expos-tas à fumaça de cigarro (30 min, 2 x/dia) da 6ª semana de vida até o final da prenhez e DFPP = ratas diabéticas expostas à fumaça de cigarro da 6ª semana de vida até a confirmação da prenhez (Souza et al. Reprod Biomed Online. 2010;11). No 21º dia de prenhez, as glicemias foram aferidas e as ratas foram anestesiadas e mortas para coleta de amostras de sangue para determinação de marcadores de estresse oxidativo (oxidante: malonaldeído; e antioxidantes: superó-xido dismutase e sistema de glutationas) e análise de anomalias exter-nas, esqueléticas e viscerais dos fetos. Os dados foram analisados por ANOVA seguida pelo teste de Student-Newman-Keuls (p < 0,05). Resultados: As ratas do grupo DFPP apresentaram nível aumentado de MDA (malonaldeído – marcador de lipoperoxidação = 571.43 ± 154.03) comparado ao grupo C (50,34 ± 7,84 nmol/gHb) e eleva-ção de GSH (glutationa reduzida = 14,17 ± 11,15 µmol/gHb) com-parado aos outros grupos experimentais que mostraram valores me-nores aos do grupo DFPP. As atividades de SOD não diferiram entre os grupos diabéticos, mas foram superiores às do grupo C. Os grupos DFS e DFPP apresentaram número reduzido de falanges anteriores e metatarsos, comparado ao grupo D. Houve redução no número de vértebras caudais no grupo DFPP em relação ao D. Discussão: O ambiente intrauterino balanceado é essencial para o desenvolvi-mento normal do concepto. A presença do diabetes na gestação altera hormônios e metabolismo uterino, resultando em anomalias congêni-tas e hipoglicemia neonatal (Aerts & Van Assche. Int J Biochem Cell Biol. 2006;38:894). Este trabalho mostrou que ratas que deixaram
S151
ReSUMOS de PÔSTeReS
de ser ou que continuaram a ser expostas à fumaça de cigarro durante a prenhez apresentaram fetos com redução nos pontos de ossificação, caracterizados pela contagem de falanges e metatarsos. O aumento do nível do marcador de lipoperoxidação (MDA) nas ratas diabéticas facilitou a elevação da concentração de GSH das ratas DFPP e de SOD em todos os grupos diabéticos, mas esses aumentos nas taxas de agentes antioxidantes não foram suficientes para conter o estresse oxidativo exacerbado, contribuindo para a presença de um ambiente intrauterino desfavorável para o desenvolvimento embriofetal. Por-tanto, parar de fumar momentos antes da prenhez não foi suficiente para minimizar as repercussões causadas pela exposição materna ao cigarro. Agradecimento: Fapesp (Processo nº 04/01077-8) e Capes.
152A HiPeRGLiceMiA MATeRnA ReLAciOnAdA A nÍVeS PLASMÁTicOS de iL-10 e TnF-a e MARcAdOReS dO cReSciMenTO e deSenVOLViMenTO FeTAL Moreli JB1, Ruocco AMc1, Sinzato YK1, Morceli G1, Rosa L1, damasceno dc1, calderon iMP1
1 Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Ginecologia e Obstetrícia, SP, Brasil
Introdução: O fator de necrose tumoral-a (TNF-a) é fator diabeto-gênico adicional à resistência à insulina, e a interleucina 10 (IL-10) é fundamental na formação da placenta, órgão responsável pela nutrição e oxigenação fetal. A concentração dessas citocinas sofre influência dos níveis de glicemia materna (Kirwan. Diabetes. 2002;51:2207; Aga-rwal. Endocrinol. 2000;14:305) e, indiretamente, pode interferir no crescimento fetal. Assim, a proposição foi comparar os níveis plasmáti-cos maternos de TNF-a e IL-10 com marcadores do crescimento fetal, entre grupos de mães portadoras de hiperglicemia. Método: Acompa-nhou-se uma coorte de mães e seus recém-nascidos (RN), portadoras de diabetes melito, pré e gestacional (DM; n = 64), hiperglicemia leve (HL; n = 32) e não diabéticas (ND; n = 62), com idade máxima de entrada no protocolo de tratamento de 30 semanas e parto a partir da 34ª semana. Para o diagnóstico de DM, pré e gestacional, seguiu-se o critério da ADA (Diabetes Care. 2009;32:S-62); a HL foi diagnos-ticada de acordo com os critérios de Rudge (Braz J Med Biol Res. 1990;23:1079), associando-se o TTG100g com o PG, entre 24 e 28 semanas de gestação. Foram avaliados média das glicemias (MG/gli-cose-oxidase), hemoglobina glicada (HbA1c/cromatografia) e níveis de TNF-a e IL-10 (ELISA) maternos no terceiro trimestre. Dentre os marcadores da nutrição intrauterina, foram avaliados: peso RN, índi-ce ponderal, índice placentário e níveis de glicemia, insulina e leptina de cordão (ELISA) ao nascimento. Os resultados foram submetidos à análise estatística no software SPSS®, com p < ,05. Resultados: Foram estatisticamente significativos: (1) os valores de MG e HbA1c, mais elevados nos grupos DM (109.80 mg/dL; 6.54%) e HL (98.43 mg/dL; 5.81%), que no grupo ND (81.02 mg/dL; 5.49%); (2) os valores de TNF-a, mais elevados no grupo DM (9.46 pg/mL) que nos grupos HL (5.88 pg/mL) e ND (2.36 pg/mL); (3) o peso RN e a concentra-ção de leptina, mais elevados no grupo HL (3697.83 g; 219 pg/mL) e DM (3178.23 g; 183,55 pg/mL) que no grupo ND (3167.54 g; 56,83 pg/mL); (4) nível de insulina de cordão, mais elevado no grupo DM (10.12 mU/ml) e HL (8.90 mU/ml) que no grupo ND (5.54 mU/ml). Discussão: A glicemia materna e os níveis correspondentes de HbA1c diferenciaram as portadoras de hiperglicemia na gestação. A glicemia materna, mais elevada nos grupos DM e HL, se relacionou ao aumento de TNF-a no grupo DM e aos maiores valores de peso RN e de seus respectivos marcadores – insulina e leptina de cordão, nos grupos HL e DM. Essa relação direta entre níveis de glicemia materna e TNF-a já foi observada (Gao. Chin Med J. 2008;121:701). As con-centrações de IL-10 não se diferenciaram entre os grupos e, portanto, não puderam ser relacionadas aos marcadores do crescimento fetal. A IL-10 está diminuída em gestações associadas à restrição do cresci-mento fetal (Amu. Pediatr Res. 2006;59:254) e, no diabetes, o cres-
cimento fetal exagerado é mais comum (Calderon. Rev Bras Ginecol Obstet. 2006;28). Neste estudo, a hiperglicemia e a hiperinsulinemia intrauterinas, associadas ao aumento de TNF-a, se associaram à ma-crossomia fetal, confirmada por maiores pesos dos RN e níveis aumen-tados de leptina de cordão nas gestações complicadas pela hiperglice-mia materna. Fapesp 07/00771-6, 08/04597-3 e 09/03253-1.
153eXTReMA ReSiSTÊnciA À inSULinA SUBcUTÂneA e inTRAMUScULAR eM dM TiPO 1: ReLATO de cASOSPinheiro A1, Penhalbel RSR1, Leite cn1, Tacito LHB1, Pires Ac1
1 Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp), Endocrinologia e Metabologia, SP, Brasil
Diabetes resistente à ação da insulina no subcutâneo (SC) e intra-muscular (IM) DRIASM consiste em reduzida ação hipoglicemiante desse hormônio SC e IM com ação normal endovenosa (EV). Foram relatados dois casos de DRIASM que se assemelham pela manifesta-ção tardia do DM tipo1 e presença de complicações crônicas. Caso 1: RMSP, 45 anos, feminina, negra, procedente de São José do Rio Preto, encaminhada ao nosso ambulatório em 2007 por DM de difícil controle, perda de 30 kg, polidipsia, polifagia, retinopatia diabética, diarreia crônica e episódios de síncope há oito meses e diagnóstico em 2001 com antidescarboxilase de ácido glutâmico (antiGAD) negativo (0,2 U/mL) e peptídeo C baixo (1,5 ng/mL). Na ocasião, com 55 kg e índice de massa corpórea (IMC) de 22 kg/m2, em uso de doses diárias de 400 UI de insulina NPH, 150 UI de insulina regular SC, 2.550 mg de metformina e 100 mg de vildagliptina, mantendo níveis glicêmicos médios de 450 mg/dL. O uso de corticoides e insuli-na IM não se mostraram efetivos no controle glicêmico. Submetida a insulinoterapia em bomba de infusão EV contínua (BIC), obteve adequado controle glicêmico, com infusão média de 0,3 UI/kg/h. Segue estável com adequado controle metabólico. Caso 2: APPN, 45 anos, feminina, negra, em acompanhamento ambulatorial com nossa equipe desde 2006, apresentando poliúria, polidipsia, polifagia, perda de 36 kg e glicemias médias de 400 mg/dL, em uso de 145 UI de insulina NPH SC e 850 mg de metformina. Pesava 52 kg com IMC de 19,6 kg/m2, glicemia de jejum de 366 mg/dL, HbA1c de 16,8% e retinopatia diabética. Confirmou-se diagnóstico de DM 1 (antiGAD de 55,2U/mL e peptídeo C de 0,1 ng/mL). Submetida a infusão de Insulina R EV em BIC e em 24 horas utilizou 214 UI, com glicemias variando de 39 a 246 mg/dL. Administração de insulina NPH IM obteve boa resposta, porém temporária. Retornou ao serviço com diarreia explosiva relacionada à descompensação metabólica. Refe-ria dois episódios de síncope, hiperglicemias (HI), perda de 5 kg. Reiniciada insulinoterapia EV domiciliar, obteve melhora metabóli-ca. Propostas terapêuticas descritas consistem em vias alternativas de aplicação de insulina. Apresentam-se como soluções paliativas, pois relacionam-se a complicações como infecções de corrente sanguínea e\ou respostas progressivamente reduzidas do controle glicêmico.
154ÁcidOS GRAXOS POLiinSATURAdOS ÔMeGA-3 RedUZeM A ReSiSTÊnciA À inSULinA indUZidA PeLO ÁcidO PALMÍTicO eM cÉLULAS MUScULAReS eSQUeLÉTicAS c2c12Koshiyama LT1, nachbar, RT1, Fiamoncini J1, Barquilha G2, Gorjao R2, Lambertucci RH1, Martins AR3, cury-Boaventura MF1, Silveira LR4, Leandro cG5, Pithon-curi Tc6, curi R1, Hirabara SM3
1 Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo (ICB/USP), Fisiologia e Biofísica. 2 Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL), Programa de Pós-graduação em Ciências do Movimento Humano − ICAFE. 3 Universidade Federal do Ceará (UFC), Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas. 4
Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP), USP. 5 Universidade Federal de Pernambuco (UPE), Nutrição. 6 UNICSUL, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, SP, Brasil
Introdução: O aumento de ácidos graxos (AG) livres no plasma ocorre em condições de resistência à insulina, como obesidade e dia-
S152
ReSUMOS de PÔSTeReS
betes melito. Por esse motivo, o envolvimento desses metabólitos no desenvolvimento dessa resistência tem sido postulado, apesar de os mecanismos envolvidos ainda não serem completamente conheci-dos. AG poli-insaturados ômega-3 (AGPI n-3), por outro lado, têm sido relacionados com aumento na sensibilidade à insulina. Assim, esse estudo teve como objetivo investigar se AGPI n-3 previnem ou reduzem a resistência à insulina induzida pelo ácido palmítico (AG saturado) em células musculares esqueléticas (CME) C2C12. Méto-dos: CME C2C12 foram cultivadas por 72 h na presença ou ausên-cia de 50 uM dos AGPI n-3 eicosapentaenoico (EPA) ou docosa-hexaenoico (DHA). Após esse período, as células foram cultivadas por 24 h na ausência ou presença de 100 uM de ácido palmítico. Ao final, avaliou-se a captação de glicose na ausência ou presença de 7 nM de insulina e a expressão de citrato sintase e PGC-1a. Re-sultados: O ácido palmítico induziu resistência à insulina, como de-monstrado pela inibição completa da captação de glicose estimulada pelo hormônio (p < 0,001), enquanto os AGPI n-3 (EPA e DHA) não alteram essa resposta. A expressão de citrato sintase e PGC-1a foi reduzida pelo ácido palmítico em 127% e 51% (p < 0,01), res-pectivamente, enquanto os AGPI n-3, EPA e DHA aumentaram a expressão desses genes. EPA aumentou a expressão de citrato sintase e PGC-1a em 44% e 72%, respectivamente (p < 0,05). Já o DHA aumentou em 1,9 e 2,6 vezes a expressão desses genes, respecti-vamente (p < 0,01). Quando as CME C2C12 foram previamente tratadas com EPA ou DHA por 72 h, a resistência à insulina induzida pelo ácido palmítico foi reduzida em 75 e 71%, respectivamente (p < 0,05). Conclusão: Esses resultados são sugestivos de que AGPI n-3, especificamente EPA e DHA, reduzem a resistência à insulina induzida pelo ácido palmítico, e esse efeito está relacionado com aumento na expressão de genes envolvidos na capacidade oxidativa e biogênese mitocondrial (citrato sintase e PGC-1a) em CME. Apoio financeiro: Fapesp, CNPq, Capes, INCT de obesidade e diabetes.
155nAd(P)H OXidASe PARTiciPA dA PROdUÇÃO de SUPeRÓXidO e SecReÇÃO de inSULinA eSTiMULAdAS PeLO PALMiTATO eM iLHOTAS PAncReÁTicAS de RATASGraciano MFR1, Santos LRB1, Britto LRG1, carpinelli AR1
1 Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo (ICB/USP), Fisiologia e Biofísica, SP, Brasil
Introdução: O palmitato aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) em músculo liso aórtico, células endoteliais, músculo esquelético e adipócitos, por meio da ativação da NAD(P)H oxidase. É demonstrado o envolvimento desse complexo enzi-mático no processo de secreção de insulina estimulado pela glicose. O ácido palmítico é também um ligante endógeno do receptor GPR40 (receptor acoplado à proteína G), o qual é altamente expres-so nas células betapancreáticas. Por meio da ativação do receptor e de outras vias metabólicas, como a produção de LC-CoAs (acil-coenzi-ma A de cadeia longa), o palmitato é capaz de ativar a proteinocinase C (PKC) e potencializar a secreção de insulina. O objetivo é avaliar os efeitos do ácido palmítico na produção de superóxido por ilhotas pancreáticas isoladas, os mecanismos envolvidos e sua influência na secreção de insulina. Métodos: Ilhotas pancreáticas isoladas de ratas foram pré-incubadas durante 30 minutos em Krebs-Henseleit com 1% de albumina e 5,6 mM de glicose e incubadas durante 1 hora na presença de 5,6 ou 10 mM de glicose com ou sem adição de 1 mM de palmitato, 10 µM DPI (difenilenoiodônio – inibidor da NAD(P)H oxidase), 1 µM de calphostin C (inibidor de PKC) e 50 µM de etomoxir (inibidor da carnitina palmitoil transferase-I). Avaliou-se o conteúdo de ânions superóxido pelo método da oxidação do di-idroetídeo; a translocação da p47PHOX por imunoistoquímica; a ex-pressão do GPR40, da PKC e das subunidades da NAD(P)H oxidase
por Western Blotting; a expressão gênica do GPR40, da pró-insulina e da NAD(P)H oxidase por RT-PCR em tempo real e a secreção de insulina por radioimunoensaio. Resultados: O palmitato aumentou a produção de superóxido na presença de 5,6 e 10 mM de glicose, sendo em maior magnitude em 5,6 mM de glicose. Tal efeito fora inibido pela incubação com calphostin C e DPI. A incubação com etomoxir inibiu a indução de superóxido pelo palmitato em 5,6 mM de glicose. O palmitato estimulou a translocação da p47PHOX para a membrana plasmática. A estimulação da secreção de insulina pelo palmitato em alta glicose fora reduzida pela inibição do complexo NAD(P)H oxidase. A incubação com o ácido graxo aumentou o conteúdo proteico da p47PHOX e aumentou a expressão de RNAm do GPR40 e da pró-insulina em alta glicose e de p47PHOX, p22PHOX
e gp91PHOX em ambas as concentrações de glicose. Discussão: Foi observado que a estimulação da NAD(P)H oxidase é preponderante para a produção de superóxido induzida pelo palmitato em ilhotas pancreáticas. Porém, observou-se uma produção diferencial segundo a concentração de glicose, o que deve advir da intensa participação da oxidação do ácido graxo como fonte produtora de EROs em 5,6 mM de glicose, bem como da ativação das defesas antioxidantes, como a Cu/Zn superóxido dismutase, em 10 mM de glicose. A ge-ração de diacilglicerol e o aumento no influxo de cálcio secundários à sinalização/metabolização do ácido graxo são responsáveis pela ativação da PKC, a qual consequentemente atuaria estimulando a NAD(P)H oxidase. Conclusão: A NAD(P)H oxidase ativada pela PKC e a oxidação dos ácidos graxos são importantes fontes de ra-dicais superóxido em ilhotas pancreáticas. Também, a ativação e o aumento da expressão da NAD(P)H oxidase estão envolvidos no controle da secreção de insulina estimulada pelo palmitato. Apoio financeiro: Fapesp, CNPq, Capes.
156ÁcidO OLeicO AUMenTA A SecReÇÃO de inSULinA POR MeiO de SeU MeTABOLiSMOSantos LRB1, carpinelli AR1
1 Universidade de São Paulo (USP), Departamento de Fisiologia e Biofísica, SP, Brasil
Introdução: A secreção de insulina é induzida a partir do metabo-lismo da glicose, que, ao entrar na célula beta, sofre glicólise e pos-teriormente é oxidada na mitocôndria e gera ATP. O aumento no ATP fecha canais KATP, despolariza a célula e induz aumento de Ca2+ intracelular, que culmina na extrusão dos grânulos de insulina. Áci-dos graxos são capazes de aumentar a secreção de insulina quando administrados por períodos curtos. O ácido oleico (AO) é um ácido graxo monoinsaturado e um dos principais ácidos graxos presentes na circulação de roedores e humanos. Ele apresenta função prote-tora em diversos tipos celulares, inclusive na célula betapancreática, ao diminuir danos induzidos por ácidos saturados. No entanto, seus efeitos no processo de secreção de insulina ainda não estão total-mente esclarecidos. Materiais e métodos: As ilhotas pancreáticas foram isoladas de ratas Wistar (± 250 g) pelo método da colagenase. Após obtenção das ilhotas, estas foram pré-incubadas em Krebs-Hanseleit (5,6 mM de glicose) durante 30 minutos a 37oC. Em se-guida, foram expostas às concentrações basal (5,6 mM) e alta (16,7 mM) de glicose durante uma hora, a 37oC, na presença ou não de 100 µM de ácido oleico (em 0,1% de BSA). Foi realizada também a avaliação da oxidação dos ácidos graxos na secreção de insulina por meio da inibição da enzima CPT-1 pelo etomoxir (50 µM). A dosagem da secreção de insulina for realizada por RIE. A oxidação da glicose e do AO foi realizada com utilização de U-14C Glicose e 1- 14C Oleato, respectivamente. As ilhotas foram expostas às mes-mas concentrações de glicose e AO utilizadas anteriormente para avaliação da secreção de insulina. Em seguida ao processo de incu-
S153
ReSUMOS de PÔSTeReS
bação, a produção de 14CO2 foi avaliada em cintilador Beckman-LS 5000 TD (Beckman instruments, Fulerton, USA). Resultados: O ácido oleico induziu aumento de 50% na secreção de insulina em presença de alta concentração de glicose. A inibição da oxidação dos ácidos graxos com etomoxir (50 µM) diminuiu a secreção de insulina em aproximadamente 50%. A oxidação da glicose diminuiu em 60% e a oxidação do ácido oleico aumentou mais de três vezes nesse mesmo grupo. Discussão: O aumento da oxidação da glicose tem sido reconhecido como o principal fator indutor da secreção de insulina, no entanto foi obtida menor oxidação da glicose e maior secreção de insulina após estímulo com ácido oleico. Como o me-tabolismo dos ácidos graxos também gera acetil-CoA, que entra na mitocôndria e pode ser oxidado até gerar ATP, é possível que a oxidação do ácido oleico tenha sido responsável pelo aumento na secreção de insulina. O excesso de acetil-CoA gerado pela metaboli-zação do AO também pode inibir a piruvato desidrogenase (PDH), enzima responsável pela formação de acetil-CoA a partir de piruva-to, e assim diminuir a oxidação da glicose. A diminuição da secreção de insulina observada após inibição da oxidação dos ácidos graxos pelo etomoxir também sugere importância da oxidação do ácido oleico no processo de secreção de insulina. Assim sendo, concentra-ções próximas a fisiológicas de ácido oleico estimulam a secreção de insulina mediante o aumento em seu metabolismo. Financiamento: CNPq e Fapesp.
157cARAcTeRÍSTicAS de ALGUnS FATOReS de RiScO dA dOenÇA cARdiOVAScULAR eM ViRTUde dAS cOncenTRAÇÕeS de inSULinA PLASMÁTicAKim V1, Gerez R1, Marques McA1, Sakon JR1, Oliveira LeM1, Barreto Ac1, Giacaglia LR1, Silva MeR1, Santos RF1
1 Liga da Síndrome Metabólica, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), Laboratório de Carboidratos e Radioimunoensaio, LIM 18, Disciplina de Endocrinologia e Metabologia, SP, Brasil
Introdução: A associação de doença cardiovascular (DCV), diabetes tipo 2 (DM2) e síndrome metabólica (SM) tem sido explicada em virtude da resistência à insulina (RI), que se encontra presente nessas patologias. A sequência do desenvolvimento dos fatores de risco, en-tretanto, não está bem esclarecida, tendo sido atribuído, à associação de características genéticas, étnicas, ambientais, etc., à RI. Objetivo: Verificar, em corte transversal de uma população com SM, com ou sem diabetes tipo 2, a relação entre fatores de risco da DCV, em virtude das concentrações plasmáticas da insulina e da glicemia nos tempos basal e 120 min do teste de tolerância à glicose oral (TTGO), em pacientes com SM e DM2. Material e métodos: 53 indivíduos; sexo: 37 feminino e 17 masculino; idade: F -54 ± 2 x M- 55 ± 4, em atendimento na LSM, foram avaliados em relação aos seguintes pa-râmetros: pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) mmHg; perímetro da cintura (cm), índice de massa corporal (IMC); glice-mias (mg/dl) e insulinas (MG/dl) de jejum e 120 min do TTGO; HDL-c (mg/dl); triglicérides (mg/dl). Foi feita a correlação entre esses fatores. A análise estatística foi feita pelo teste de correlação de Spearmann, nível de significância 5% (p < 0,05). Resultados: Os dados preliminares mostraram que a insulina basal apresentou re-lação direta com o IMC (p < 0.01) e com o perímetro da cintura (p < 0,001) e relação inversa com o HDL-c (p < 0.01). Não foram obtidas correlações entre as concentrações de glicose (0 ou 120 min) e insulina 120 min com os fatores da DCV avaliados. Discussão: Na população em estudo, os dados preliminares mostraram que as concentrações plasmáticas de glicose não guardaram correlação com os fatores de risco da DCV. Entretanto, observou-se que as concen-trações de insulina de jejum foram diretamente relacionados ao IMC e ao perímetro da cintura e inversamente relacionados ao HDL-c, estando a prioridade da relação na seguinte sequência: perímetro da
cintura e posteriormente IMC e HDL-c. Conclusões: Os resultados sugerem que a insulina de jejum, primeiramente relacionada à RI, está diretamente e mais fortemente associada ao perímetro da cintu-ra e posteriormente ao IMC. A correlação com o HDL-c é inversa, embora no mesmo grau de significância que o IMC. Referências: 1. Yeni-Komshian H. Diabetes Care. 2000 Feb;23(2):171-5; 2. Lima NKC. Am J Hypertension. 2009 Jan;22(11):106-11.
158cURcUMinA incORPORAdA eM iOGURTe MeLHORA AS ALTeRAÇÕeS FiSiOLÓGicAS dO diABeTeS eXPeRiMenTAL Gutierres VO1, Pinheiro cM1, nunes Tn1, Vendramini Rc1, Pepato MT1, Brunetti iL1
1 Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade Estadual Paulista (FCF/Unesp), Campus de Araraquara, Análises Clínicas, SP, Brasil
Introdução: O diabetes melito constitui uma síndrome metabólica que causa hiperglicemia, polidipsia, poliúria e perda de peso cor-poral apesar da polifagia. Seu tratamento convencional realizado com insulina apresenta certos inconvenientes e, assim, mais estudos nessa área são justificáveis. Nesse sentido, muitas investigações têm sido conduzidas com produtos naturais, e entre eles a curcumina (extraída do rizoma da Curcumina longa L.) apresenta interessan-te potencial. Contudo, as suas formas de administração não estão completamente exploradas em virtude das dificuldades de sua bio-disponibilidade. Apesar de raros, alguns estudos têm apresentado a curcumina como candidata a exercer efeito benéfico nas alterações metabólicas do diabetes. Assim, avaliou-se o efeito do tratamento crônico de ratos diabéticos com curcumina incorporada em iogurte, sobre a ingestão alimentar e hídrica, volume urinário, peso corporal e glicemia no diabetes experimental. Métodos: Após adaptação de ratos machos Wistar em gaiola metabólica, o diabetes foi induzido com estreptozotocina (STZ) (40 mg/peso corporal) via jugular. No terceiro dia pós-STZ, os 32 ratos foram divididos, de acordo com os níveis glicêmicos (sangue colhido da cauda), em quatro grupos com oito animais cada, os quais foram tratados com: água (DTH2O); io-gurte (DTIOG); insulina (DTI) e curcumina 60 mg/kg de peso cor-poral/dia (DTC60). O tratamento iniciado no quarto dia pós-STZ foi conduzido por 27 dias. Os grupos receberam duas vezes ao dia: DTC60 – 0,5 mL de curcumina incorporada no iogurte; DTIOG – 0,5 mL de iogurte; DTH2O – 0,5 mL de água e DTI – 2,0 U/mL de insulina subcutaneamente. Semanalmente, foram determinados ingestão hídrica e alimentar, volume urinário, peso corporal e glice-mia. O programa utilizado para análise foi Anova One Way, em que foram considerados estatisticamente diferentes os valores que apre-sentavam p < 0,05. Resultados: Os parâmetros fisiológicos foram analisados após 27 dias de tratamento.
GruposIngestão alimentar
(g/24h.100 g)
Ingestão hídrica
(mL/24h.100 g)
Peso corporal (g)
Volume urinário
(mL/24h.100 g)
Glicemia (mg/dL)
DTH2O 20,52 ± 2,04 90,42 ± 11,88 203,42 ± 16,01 65,21 ± 10 672,14 ± 56,63
DTIOG 14,35 ± 2,55 63,17 ± 8,63 247,25 ± 30,53 47,11 ± 9,29 583,25 ± 87,72
DTC60 12,37 ± 2,17 53,16 ± 9,14 248,50 ± 16,37 29,65 ± 11,02 325,16 ± 48,45
DTI 11,29 ± 1,05 30,53 ± 9,73 268,07 ± 15,20 15,17 ± 6,09 138,42 ± 6,38
Discussão: A curcumina incorporada em iogurte nessa posologia demonstrou adequada biodisponibilidade para a ação antidiabética, pois reduziu todos os parâmetros analisados. Estudos com outras concentrações de curcumina, com outros parâmetros relacionados ao diabetes e com a função de agente coadjuvante da insulina estão sendo ainda conduzidos. Agradecimento: CNPq, Fapesp, PADC-FCF Araraquara, Unesp; apoio técnico: Marcos A. Dangona.
S154
ReSUMOS de PÔSTeReS
159eSTAdO nUTRiciOnAL e cARAcTeRiZAÇÃO dO cOnSUMO ALiMenTAR de PAcienTeS cOM diAGnÓSTicO de SÍndROMe de OVÁRiOS POLicÍSTicOS encAMinHAdAS AO AMBULATÓRiO BORGeS dA cOSTA – Hc/UFMG – BeLO HORiZOnTe, MinAS GeRAiSFerreira AVM1, Oliveira dAAB1, Ribeiro dO1, Santos Lc2, calixto cFS1, Mérici TdP1, Oliveira GFM1, cândido AL3, Souza GBP1, Ventura LLA1
1 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Enfermagem Básica. 2 UFMG, Materno Infantil e Saúde Pública. 3 UFMG, Clínica Médica, MG, Brasil
Introdução: A síndrome dos ovários policísticos (SOPC) é uma das desordens endocrinológicas mais frequentes em mulheres na idade reprodutiva. A resistência insulínica (RI) acomete cerca de 50% das portadoras de SOPC e a obesidade – particularmente a visceral – agrava a RI e a síndrome metabólica. A alimentação adequada, asso-ciada a outras modificações no estilo de vida, contribui para melhor controle da doença, prevenindo suas complicações e aumentando a qualidade de vida. Dessa forma, torna-se importante caracterizar o estado nutricional e o consumo alimentar de pacientes com diagnós-tico de SOPC, a fim de melhor direcionar a intervenção nutricional. Métodos: Estudo transversal realizado com mulheres portadoras de SOPC. Foram realizadas medidas antropométricas e avaliação quali-tativa do consumo alimentar. Os dados obtidos viabilizaram a análise descritiva. Resultados: Participaram do estudo 30 mulheres, com média de 31,1 (+ 5,5) anos, sendo 26,7% da amostra já portadoras de alguma outra comorbidade além da SOPC. Dentre as pacientes, 56,7% afirmaram realizar atividade física, das quais 88,2% relataram fazer atividade aeróbica, com mediana de tempo de 60 (IC 95%: 53,2
– 83,8) minutos. O hábito de “beliscar” foi encontrado em 70% da amostra e o alto consumo mensal de açúcar, em 81,5%. O consumo de carboidrato, proteína e lipídio estava adequado em apenas 30%, 40% e 3,3% da amostra, respectivamente. O consumo de fibra (96,7% < que o recomendado), cálcio (96,7% < Adequate Intake/AI) e ferro (100% < Estimated Average Requirement/EAR) apresentou-se, tam-bém, insuficiente. Na avaliação antropométrica, a mediana de índice de massa corporal encontrada foi de 31,4 (IC 95%: 31,4 – 35,2) kg/m²; 43,3% das mulheres foram classificadas com obesidade grau I, 16,6%, grau II e 13,3%, grau III. A média de relação cintura-quadril encontrada foi de 0,83 (0,05) cm, o que representou risco aumenta-do para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Em relação à circunferência da cintura, a média encontrada foi de 95,87 (+ 10,98) cm, caracterizando risco muito elevado de complicações associadas à obesidade. Discussão: Os objetivos do tratamento da SOPC não se restringem à abordagem das repercussões reprodutivas, sendo tam-bém direcionados à promoção e prevenção de doenças metabólicas. Medidas não farmacológicas de tratamento, especialmente orientação nutricional e prática regular de atividade física, têm sido enfatizadas. Os métodos utilizados para avaliação do consumo alimentar demons-tram consumo dietético inadequado da população em estudo. Além disso, a classificação antropométrica das pacientes e sua prática de atividade física evidenciaram necessidade de intervenção, uma vez que se acredita que a obesidade tenha papel crucial no desenvolvimento e/ou manutenção da SOPC e exerça grande influência nas alterações clínicas e metabólicas associadas a ela. Conclusão: A caracterização das pacientes permitiu direcionar de maneira mais eficaz as estratégias de promoção da saúde, com um foco especial na mudança dos hábi-tos de vida por meio de medidas não farmacológicas de tratamento.
S156
Índice ReMiSSiVO de AUTOReS
Abrams S ..............................................................IV.4Abreu LLF............................................................040, 077, 114Akamine EH .........................................................140, III.4Alberici LC ...........................................................079Alcântara CA ........................................................117Aleixo N ...............................................................025Almeida-Leme JA .................................................029, 030, 068, 076, 129, 130Almeida SS ...........................................................131Almeida-Pititto B ..................................................021, 022Alonso PA ............................................................106Alves T .................................................................113Amaral FG ............................................................132Amaral MEC ........................................................100Amaya SC .............................................................024, 136Ambrosio ACM ....................................................095Americo MF .........................................................148Andrade RCG .......................................................111Andrade TAM ......................................................097Anhe GF ...............................................................038, V.5, 104Antunes VR ..........................................................105Arantes L ..............................................................069, 070Arantes LM ..........................................................087Araujo AC ............................................................102Araujo EP .............................................................040, 077Araujo MB ............................................................030, 076Araujo GG ............................................................129Arruda AP ............................................................052, VI.3Ashino NG ...........................................................018, 055, 064Augusto TM .........................................................050Azevedo MJ ..........................................................098, 141Barbosa AMP .......................................................060Barbosa HC ..........................................................100, 137Barbosa MHN ......................................................096Barbosa MR ..........................................................079Barquilha G ..........................................................154Barreto AC ...........................................................157Barros ARSB.........................................................096Barros CR.............................................................015, 016, 088, 107, VI.4Barros RK .............................................................098Bassi D .................................................................035Batista MR ...........................................................025Batista TM ............................................................028, 078, 116, 144Baviera AM ...........................................................139, IV.5Beghetto M ..........................................................103Bellandi DM .........................................................106Benson C ..............................................................IV.4Bermudo FM ........................................................028Bicalho G .............................................................012Bigarella CL .........................................................137Bonfleur ML .........................................................134Bordin S ...............................................................086, IV.4Boschero AC ........................................................034, 036, 057, 065, 091, 092, 100, 134, 137, 146, 078Bosqueiro JR ........................................................093Botezelli JD ..........................................................069, 070, 129, 130
S157
Índice ReMiSSiVO de AUTOReS
Brandão BB ..........................................................007, 023, 039Britto LRG ...........................................................155Brunetti IL ...........................................................123, 158Bueno A ...............................................................006, 054, 151Bueno PCS ...........................................................102Bueno PG .............................................................035Buonfiglio DC ......................................................132Caetano MJT ........................................................117, 118Calderon IMP ......................................................009, 061, 118, 152Calegari VC ..........................................................146Caliri MHL ..........................................................027Calixto CFS ..........................................................159Calmon AC ..........................................................I.5Camargo LFT .......................................................II.2Camargo MR ........................................................003, 004Cambri LT ...........................................................010, 029, 069, 070, 076, 129, 130Campello RS .........................................................038Campi C ...............................................................III.5Camporez J ..........................................................III.4Campos KE ..........................................................151Canani LHS ..........................................................098, 141Cançado R ............................................................I.5Cândido AL ..........................................................159Candido JF ...........................................................018Capelli APG ..........................................................078Caperuto LC ........................................................086, III.4Caricilli AM ..........................................................011, 040, 077, 090, 114Carlos PV .............................................................102Carmen SG ...........................................................067Carneiro EM ........................................................028, 034, 036, 065, 078, 079, 091, 092, 116, 134, 144, 146Carpinelli AR ........................................................155, 156Carrara M .............................................................025Carreiro AB ..........................................................072, 073Carvalheira JBC ....................................................031, 128, II.4Carvalho AF .........................................................089Carvalho BM ........................................................011, I.4Carvalho CRO ......................................................III.4Carvalho HF ........................................................050Carvalho JAM ......................................................131Carvalho L ...........................................................083, 139, IV.5Carvalho MHC ....................................................053, 109, 140Casarri MB ...........................................................006Cassolla P .............................................................081Castilho G ............................................................072, 073, I.1Castro JHP ...........................................................071Castro RA .............................................................060Castro RB .............................................................III.1Castro-Barbosa T ..................................................086Catanozi S ............................................................072, 073, 082Centeno-Baez C ...................................................IV.4Cezaretto A ..........................................................016, VI.4Chaves VE ............................................................041Chaves V E ...........................................................083Chiba FY ..............................................................047, 048
S158
Índice ReMiSSiVO de AUTOReS
Chiyoda A ............................................................068Cintra DE .............................................................024, 031, 044, 050, I.4Cipolla-Neto J ......................................................132, 133Cipriani Frade M ..................................................096, 097Coelho FM ...........................................................063Cogliati B .............................................................086Colombo NH .......................................................047, 048Contin Moraes J ...................................................044, 050Coope A ...............................................................VI.3Cordeiro TL .........................................................096Correa MRS .........................................................142Correa-Giannella MLC .........................................001, 005, 051, 098, 141, II.1Corvino SB ...........................................................006, 054Costa FO ..............................................................062Costa MLM ..........................................................131Costa MM ............................................................093Costa VS ..............................................................142, 143Costal FSL ............................................................005, 051, II.1Crisostomo LG .....................................................019, 020, 142Crispim F .............................................................IV.2, V.2Crispim JO ...........................................................045, 046Curi R ..................................................................079, 154, II.2Curimbaba EC ......................................................089Cury-Boaventura MF ............................................154Dagli MLZ ...........................................................086Justa Pinheiro C ...................................................079Dal Fabbro AL .....................................................075Dalbosco I ............................................................V.2Dalia RA ...............................................................029, 030, 069, 070, 076, 129, 130Dallaqua B ............................................................006, 054, 151Damasceno DC ....................................................006, 009, 043, 054, 060, 061, 117, 118, 151, 152Damiani D ............................................................124, 125David-Silva A ........................................................038Davini E ...............................................................142, 143Abreu LLF............................................................011Almeida CAN .......................................................103Lana JM ...............................................................III.2Lego EC ...............................................................117Rosa L ..................................................................152Sousa MV .............................................................III.5Souza CT .............................................................044, 050Deghaide NNHS ..................................................045, 046Delazari DS ..........................................................102Della Manna T ......................................................124, 125Desjardins Y..........................................................IV.4Dias FG ................................................................126Dias MAF .............................................................126Dias MM ..............................................................031, 062, 128, II.4Dib AS .................................................................032, 033, 099, V.2Donadi EA ...........................................................045, 046Dorighello GG .....................................................065Santos RA .............................................................038Duart A ................................................................064Dullius J ...............................................................066, 067
S159
Índice ReMiSSiVO de AUTOReS
Durão Junior MS ..................................................131Fabbro ALD .........................................................111Faria CRS .............................................................003, 004Feijó AE ...............................................................045, 046Felicio HSC ..........................................................013Fernandes APM ....................................................045, 046Fernani DCGL .....................................................122Ferraz-Neto BH ...................................................131Ferraz CS .............................................................I.5Ferreira AVM ........................................................120, 149, 159Ferreira KD ..........................................................150Ferreira R. F. D ....................................................133Ferreira SM ..........................................................137Ferreira SRG .........................................................015, 016, 021, 022, 088, 107, 108, VI.4Ferreira ACP.........................................................008Fiamoncini J .........................................................079, 154, II.2Figueiredo RC ......................................................111Filgueira FP ..........................................................109Filho JET .............................................................100Filippin EA ...........................................................083, 139, IV.5Flores MBS ...........................................................050Fogaca V ..............................................................V.2Folchetti LD .........................................................015, 016, 088Fonseca CM .........................................................013Fonseca EAI .........................................................053Fonseca ATS .........................................................113Fores JP ................................................................020Fortes ZB .............................................................053, 109, 140Foss MC ...............................................................045, 046, 058, 059, 084, 085, 097, 111, II.3Foss-Freitas MC....................................................045, 046, 058, 059, 084, 085, 111, II.3França EL .............................................................061Franco LF .............................................................075, 089, IV.2Franco LJ .............................................................075, 111, IV.2Frasson D .............................................................041, 083Fregonesi CEPT ...................................................003, 004Freitas CEA ..........................................................122Freitas HS de ........................................................037, 104Fujiwara H ...........................................................II.2Fukui RT ..............................................................019, 074, 142, 143, III.5Furuya DT............................................................037, 038Fusco FB ..............................................................072, 073Gabbay M .............................................................032, 099, V.2Gaede Carrillo MRG .............................................012Gallinari MO ........................................................047Gamberini M ........................................................142Garbin CAS ..........................................................047Garofalo MAR ......................................................041, 083, 147Gelaleti RB ...........................................................117, 118Gerez R ................................................................157Ghezzi AC ............................................................029, 069, 070, 130Giacaglia LR .........................................................157Giachini FRC ........................................................109Giannella MLCC ..................................................106Giannella-Neto D .................................................005, 051, 098, 141, II.1, VI.5
S160
Índice ReMiSSiVO de AUTOReS
Gimeno SGA ........................................................021, 022Giuffrida FMA ......................................................032Godinho RO ........................................................147Góis L ..................................................................081Gomes MB ...........................................................032Gomes PM ...........................................................111Gomes PRL ..........................................................110, 112Gomes RJ .............................................................030Gomes WDS .........................................................047Gonçalves DAP .....................................................042, 139, IV.5Gorjao R ..............................................................154, II.2Goulart ML ..........................................................089Graciano MFR ......................................................155Griffin S ................................................................022Guadagnini D .......................................................050, I.4Guezzi AC ............................................................010Guglielmotti A .....................................................120Guiguer E L .........................................................102Guimarães LMMV ................................................106Gurgel LC ............................................................V.2Gutierres VO ........................................................123, 158Haddad JM ..........................................................060Hakime-Silva RA ..................................................123Harima HA ..........................................................021Herculiani AP .......................................................102Hirabara SM .........................................................079, 132, 154, II.2Hirai AT ...............................................................021, 022Honorio ACF .......................................................061Iborra RT .............................................................001, 072, 073, 127Iessi IL .................................................................006, 054, 151Junta CM .............................................................045, 046Katashima CK .......................................................031Kettelhut IC .........................................................041, 042, 049, 081, 083, 139, 147, IV.5Kim V ...................................................................157Kokubun E ...........................................................030, 068Komatsu WR ........................................................099Koshiyama LT ......................................................154, II.2Kublikowiski I ......................................................008Kuhn PC ..............................................................IV.2Lambertucci RH ...................................................154, II.2Laurindo FRM .....................................................I.1Lavigne C .............................................................IV.4Leal AMO ............................................................035Leal PB .................................................................017, 018, 055Leal PB .................................................................064Leandro CG .........................................................154, II.2Leite CN ..............................................................126, 153Leite SN ...............................................................096Lellis-Santos C ......................................................086, IV.4Lima AA ...............................................................012Lima GA ...............................................................I.2Lima MHM ..........................................................040, 077, IV.1Lima PHO ...........................................................043, 117, 118, 151Lima RAO ............................................................122
S161
Índice ReMiSSiVO de AUTOReS
Lima RL ...............................................................120, 149Lira EC ................................................................042, 049, 081, 083, 139, IV.5, V.3Lobato NS ............................................................109Loewen M ............................................................IV.4Lopes AMS ...........................................................132Lopes FS ..............................................................122Lopes GS ..............................................................063Lopes GAP ...........................................................122Lottenberg SA ......................................................127Lucchesi MBB ......................................................099Luciano E .............................................................030, 068, 129, 130Lucio PA ..............................................................100Luiz RGS .............................................................086Mondelli M ..........................................................071Machado JT ..........................................................072, 073Machado SM ........................................................063Machado UF ........................................................037, 104, 105, 112, 113, 115, 141, I.2Machado FF .........................................................102Machado-Lima A ..................................................001, 072, 073, 127, I.1, II.1Magalhães VB .......................................................009, 061Maia GA ...............................................................012Mainardi-Novo DTO ............................................142Marçal AC ............................................................III.4Marcelino ACR .....................................................103Marcellino M ........................................................002Marchisotti FG .....................................................089Marette A .............................................................IV.4Marin RM ............................................................050, 128Marini G ...............................................................060Marques LAS ........................................................080Marques MCA ......................................................157Marques MFSF .....................................................104Marques RG .........................................................148Martinelli AR ........................................................003, 004Martins MR ..........................................................095, 095Martins AR ...........................................................154, II.2Martins JC ............................................................018, 064Masson DS ...........................................................097Mastropietro AP ...................................................080Matheus SMM ......................................................060Matos PN .............................................................126Mattana TC ..........................................................142, 143Medeiros CC ........................................................V.2Mela Umeda L .....................................................VI.2Mello ED .............................................................103Mello MAR ..........................................................010, 029, 030, 069, 070, 076, 129, 130Melo AM ..............................................................014, 017, 018, 064Melo ME ..............................................................019Melo MR ..............................................................I.5Melo RM ..............................................................132, 133Melo-Lima B ........................................................045, 046Mendes C .............................................................133Menezes JGK .......................................................086Menezes Z ............................................................120, 149
S162
Índice ReMiSSiVO de AUTOReS
MériciTDP ...........................................................159Meyer A ...............................................................106Migliorini RH .......................................................041Milanski M ...........................................................VI.3Miranda JR ...........................................................148Paula MMF ..........................................................078Mobiolli DDM .....................................................036Moimaz SAS .........................................................048Moisés RS .............................................................075, IV.2, V.2Monfort-Pires M ..................................................107, 108Monteiro LZ ........................................................058, 059, 084, 085, II.3Monteiro MB .......................................................098, 141Montenegro Jr RM ...............................................058, 059, 084, 085, II.3Moraes PA ............................................................115Morarij J ...............................................................044, 050, 052Morceli G .............................................................009, 061, 118, 152Moreira RJ ...........................................................112Moreli JB..............................................................009, 118, 152Mori N .................................................................138Mori RCT ............................................................104Mori, NLR ...........................................................101Moura LP .............................................................029, 030, 069, 070, 076, 129, 130Moura RF .............................................................029Silva MRP .............................................................078Nachbar RT ..........................................................154, II.2Najas CS ...............................................................122Nakamura PM ......................................................068Nakandakare ER ...................................................001, 072, 073, 082, 119, 127, I.1Nakano MT ..........................................................102Nakazone MA ......................................................013Nakutis FA ...........................................................014, 055, 064Nakutis FS ............................................................018Navarro AM .........................................................059, 084Navegantes LCC ...................................................042, 049, 081, 083, 139, 147, IV.5, V.3Nery M ................................................................095, 098, 141, 142Netto AO .............................................................006, 054Nogueira KC ........................................................074Nonaka KO ..........................................................035Noro KA ..............................................................102Nozabielli AJL ......................................................003, 004Nunes MT ............................................................086Nunes TN ............................................................123, 158Nunes VS .............................................................127Nuñez CE ............................................................052Ochiai CM ...........................................................I.5Okamoto MM ......................................................104, 105Okuda LS .............................................................072, 082Olbrich J ..............................................................101, 138Olbrich SLR .........................................................101Olbrich SRLR .......................................................138Oliveira AC ...........................................................025Oliveira AG ..........................................................050Oliveira CAM .......................................................028, 065, 092, 134, II.5Oliveira ER ...........................................................005, 051, II.1
S163
Índice ReMiSSiVO de AUTOReS
Oliveira DAAB .....................................................159Oliveira GFM .......................................................159Oliveira J ..............................................................025Oliveira KS ...........................................................127Oliveira LEM ........................................................157Oliveira MAN .......................................................037, 112, 113Oliveira MB ..........................................................086Oliveira MA ..........................................................053Oliveira MC ..........................................................149Oliveira-Cardoso EA .............................................080Onii N ..................................................................020Pace AE ................................................................111Paim BA ...............................................................119Palomino GM .......................................................045, 046Panveloski AC .......................................................007, 023, 039Passarelli M...........................................................001, 072, 073, 082, 119, 127, I.1, II.1Passos GAS ...........................................................045, 046Paula FMM ..........................................................057Paula-Gomes S .....................................................042, 083, 139, IV.5Pauli JR ................................................................044, 050Penhalbel RSR ......................................................126, 153Pepato MT ...........................................................123, 158Pereira FA.............................................................058, 059, 084, 085, II.3Pereira PHGR ......................................................127Peres R .................................................................133Perrella BP............................................................024, 136Petry TBZ ............................................................I.5Picardi PK ............................................................011, 077, 114Pilon G .................................................................IV.4Pinheiro A ............................................................013, 126, 153Pinheiro CM.........................................................123, 158Pinto EM .............................................................019, 143, 158Pinto Junior ..........................................................023Pinto Júnior DAC .................................................007, 039Pinto RS ...............................................................072, 073, 119Pires AC ...............................................................013, 032, 126, 153, V.2Pires MM .............................................................015, 016, 088Pissulin FDM ........................................................122Pithon-Curi TC ....................................................154, II.2Poletto AC ...........................................................037, 038Prada PO ..............................................................011, 090, 128Queiroz MS ..........................................................095, 098, 141, V.1Quintão ECR .......................................................127Rafacho A .............................................................071, 078, V.4Ramos RAC ..........................................................131Raposo ASA ..........................................................005, 051, II.1Rassi DM ..............................................................045, 046, I.3Rauber SB ............................................................067Reigota RMS ........................................................135Rezende LF ..........................................................091, 092, 137Ribas CRP ............................................................026, 027Ribas MG .............................................................103Ribeiro C ..............................................................010, 029, 030, 076, 129, 130Ribeiro RA ...........................................................028, 036, 065, 100, 134
S164
Índice ReMiSSiVO de AUTOReS
Ribeiro RS ............................................................131Ribeiro DO ..........................................................159Rocco DDFM .......................................................082Rocha DM ............................................................074Rocha GZ .............................................................031, 050, 062, 128, II.4Rocha JC ..............................................................072, 073Rocha N ...............................................................025Rocha T ...............................................................098, 141Rodrigues T ..........................................................043Roman EA ............................................................052Romanatto T ........................................................052Ropelle ER ...........................................................024, 031, 044, 050, 062, 128, II.4Rosa LF ................................................................090Rossi FB ...............................................................074, 142Rudge MVC .........................................................006, 043, 054, 060, 117, 118, 151Ruiz MO ..............................................................142Ruocco AMC .......................................................009, 152Sa JR ....................................................................033Saad MJA .............................................................011, 024, 031, 040, 044, 050, 077, 090, 114, 128, 136, I.4, II.4Saad ST ................................................................137Saito FH ...............................................................006, 054, 151Sakamoto-Hojo ET ..............................................045, 046Sakon JR ..............................................................157Salles JEN .............................................................I.5Sallum CFC ..........................................................032, 033Salvador EP ..........................................................015, 107, 108, VI.4Sampaio IH ..........................................................079Sândalo RH ..........................................................102Santiago AF ..........................................................149Santos AS .............................................................019, 020, 142, 143Santos CX .............................................................I.1Santos GA ............................................................014, 017, 018, 052Santos GJ .............................................................091, 092Santos LC .............................................................159Santos LRB ..........................................................155, 156Santos MA ............................................................027, 080Santos MC ............................................................I.5Santos MCC .........................................................120Santos RF .............................................................019, 074, 157Santos LMP ..........................................................102Sartorelli DS .........................................................021, 075Sartoretto SM .......................................................140Sartori CH ...........................................................001, I.1Savoldelli RD ........................................................124, 125Sbragia L ..............................................................146Scalissi N ..............................................................I.5Selistre-de-Araujo HS ...........................................035Sena CMS .............................................................086Seraphim PM ........................................................007, 023, 039, 110, 112, 113Shang FLT ...........................................................149Sharp S .................................................................022Shirakashi DJ ........................................................047, 048Silva AP ................................................................014, 018Silva GL ................................................................045, 046
S165
Índice ReMiSSiVO de AUTOReS
Silva MER ............................................................019, 020, 074, 142, 143, 157, III.5Silva PE ................................................................112, 113Silva PMR .............................................................028, 034, 116, 144Silva RS ................................................................104, 105Silva AP ................................................................055Silva SRF ..............................................................102Silveira LR ............................................................034, 078, 079, 146, 154, II.2Silveira WA ...........................................................147Sinzato YK ............................................................006, 043, 054, 118, 148, 151, 152Siqueira-Catania A ................................................015, 016, 108, VI.4Smaili SS ...............................................................063Soares Silva A........................................................075Sól NA .................................................................012Solon C ................................................................052Souza AC .............................................................080Souza CCC ..........................................................060Souza DG .............................................................120, 149Souza JC ..............................................................036, 065Souza KL ..............................................................057Souza MCFMC ....................................................012Souza MSS ...........................................................102, 151Souza GBP ...........................................................159Spada APM ...........................................................043Spadella CT ..........................................................148Spressão M ...........................................................126Stefanello TF ........................................................025Stela Pinto C ........................................................IV.3Sulzabach ML .......................................................033Sumida DH ..........................................................047, 048Tacito LHB ..........................................................013, 126, 153Takaki I ................................................................025Taneda M .............................................................133Teixeira CJ ............................................................025Teixeira CRS .........................................................145Teixeira MM .........................................................120, 149Toledo MAF .........................................................094Torquato MTCG ..................................................145Torsoni AS ............................................................014, 017, 018, 055, 064Torsoni MA ..........................................................014, 017, 018, 052, 055, 064Tosato M I ...........................................................102Tostes RC .............................................................140Tostes RCA ..........................................................053, 109Trevisan A ............................................................034Trevisan DD .........................................................040, 077Trevizan A ............................................................078Trevizani Nitsche MJ ............................................101, 138Tskumo DML.......................................................I.4Tufik S ..................................................................063Ueno M ...............................................................011, 090, 100, I.4Valente F ..............................................................056Vanzela EC ...........................................................065, 100, 146, 028, 036, 134Vasconcelos DM ...................................................020Velloso LA ............................................................044, 050, 052, 146. VI.3Vendramini MF ....................................................098, 141, V.2
S166
Índice ReMiSSiVO de AUTOReS
Vendramini RC .....................................................123, 158Ventura, LLA ........................................................159Veras VS ...............................................................145Vercesi AE ............................................................119Vicentim AL .........................................................002Vidotto TM ..........................................................033Vieira Filho JPB ....................................................075, IV.2Vieira SMS ...........................................................098, 141Vieira TC ..............................................................V.2Villares SMF .........................................................106Volpato GT ..........................................................054Voltarelli FA .........................................................029, 076Voltarelli JC ..........................................................080Wastowski IJ .........................................................045, 046Webb RC ..............................................................109Yamada AK ...........................................................010Yamamoto MT .....................................................131Ybarra, M .............................................................124, 125Yugar-Toledo JC ...................................................013Zanetti ML ...........................................................026, 027, 145Zanon NM ...........................................................042, 049, 081, 083, 139, 147, IV.5Zanquetta MM .....................................................106Zoppi CC .............................................................034, 078, 116, 146Zorzano A ............................................................I.2Zyngier SZ ...........................................................053