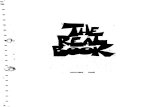Índices de sustentabilidade municipal - CORE · construction of indices of local sustainability,...
Transcript of Índices de sustentabilidade municipal - CORE · construction of indices of local sustainability,...
nova Economia_Belo Horizonte_14 (3)_11-33_setembro-dezembro de 2004
Índices de sustentabilidade municipal:o desafio de mensurar
Tania Moreira BragaPesquisadora do Cedeplar/UFMG
Bolsista Recém-Doutor FAPEMIG
Ana Paula Gonçalves de FreitasPesquisadora no Cedeplar/UFMG
Bolsista Apoio Técnico FAPEMIG
Gabriela de Souza DuarteAssistente de pesquisa no Cedeplar/UFMG
Bolsa de iniciação científica CNPq
Júlio Carepa-SousaAssistente de pesquisa no Cedeplar/UFMG
Bolsista de iniciação científica CNPq
ResumoEste artigo apresenta metodologia de constru-ção de índices de sustentabilidade local e a apli-ca para os municípios da região da bacia dorio Piracicaba (MG). A proposta metodológicaapresentada combina medidas de qualidade dosistema ambiental microrregional; qualidade devida no espaço urbano; pressão exercida pelasatividades antrópicas sobre as bases de repro-dução no espaço e sobre o sistema ambientalmicrorregional; capacidade política e institu-cional de intervenção local. O rio e sua baciahidrográfica são tomados como parâmetroprincipal de espacialização, integração e com-patibilização de indicadores construídos combase em metodologias e visões disciplinaresdistintas. Localizada na bacia do Médio RioDoce, a bacia do Piracicaba encontra-se naárea de influência do Parque Estadual do RioDoce. Possui um conjunto expressivo de ativi-dades econômicas (siderurgia, celulose e mi-neração de ferro) com alto grau de impactosantrópicos, expressiva concentração urbana emassivos reflorestamentos por monoculturade eucaliptos (carvão vegetal e celulose).
AbstractThis article presents methodology for theconstruction of indices of local sustainability,applied to the cities of the Piracicaba River Basin(Minas Gerais). The proposed methodologycombines measures of quality of the microregionalenvironmental system; the quality of life in urbanareas; the pressure exerted by anthropic activitieson reproduction bases in the area and on themicroregional environmental system; political andinstitutional capacity for local intervention. Theriver and its water basin are used as the mainparameters for spatialization, integration andcompatibility of indicators constructed on the basisof distinct methodology and disciplinary viewpoints.Located in the mid Rio Doce river basin, thePiracicaba River basin is within the area ofinfluence of the Rio Doce State Park. It comprisesa significant assembly of economic activities (steel,cellulose, and iron ore mining) with a high degree ofanthropic impact, considerable urban concentration,and massive reforestations through themonocultural plantation of eucalyptus trees (coaland cellulose).
Palavras-chaveíndices e indicadores,desenvolvimento sustentável,qualidade de vida, qualidadeambiental, capacidadepolítico-institucional.
Classificação JEL Q01, I31,I32.
Key words
indices and indicators,sustainable development; qualityof life; environmental quality,political/institutional capacity.
JEL classification Q01, I31,I32.
1_ IntroduçãoEstudos sobre qualidade ambiental e de-senvolvimento encontram o desafio fre-qüente de lidar com a incerteza e a carên-cia de informações sistematizadas. Grandeparte das decisões tomadas por órgãosreguladores na área ambiental ocorre va-lendo-se de informações imprecisas e cer-tezas fragilmente construídas. A naturezada relação entre meio ambiente e desen-volvimento é objeto de controvérsia ecampo de incertezas. Nesse contexto, tra-balhos empíricos capazes de criar indica-dores confiáveis que possam embasar es-tudos e tomadas de decisão política sãocruciais e urgentes.
O conceito de sustentabilidade, oudesenvolvimento sustentável, embora uti-lizado de forma ampla nas duas últimasdécadas a ponto de se tornar referênciaobrigatória em debates acadêmicos, polí-ticos e culturais, está longe de possuirsignificado consensual. É antes um con-ceito em permanente construção e re-construção, um campo de batalha sim-bólico e uma poderosa ferramenta demarketing que uma referência consolidadade padrões de relação entre conservaçãoambiental e crescimento econômico.
O que há subjacente às diversasversões do que seria o desenvolvimentosustentável é uma aproximação das di-
mensões ambiental, social e econômicado meio ambiente, como parte de um jo-go de poder em torno da apropriação doterritório e de seus recursos, que tem porobjetivo legitimar ou deslegitimar discur-sos e práticas sociais.
Portanto, qualquer proposta sériade mensuração do fenômeno desenvol-vimento sustentável deve iniciar pela de-claração das matrizes discursivas que lheservem de inspiração.
O conceito de sustentabilidade aquiadotado combina a definição adotada pe-lo Urban World Forum (2002)1 com a ter-ceira das matrizes discursivas de sustenta-bilidade urbana identificadas por Acserald(1999),2 relacionando questões relativas àvulnerabilidade social, política e econômicade comunidades humanas à capacidade domeio ambiente em absorver os impactos
nova Economia_Belo Horizonte_14 (3)_11-33_setembro-dezembro de 2004
Índices de sustentabilidade municipal12
1 While the priorities forlocal sustainability areovercoming poverty andequity, enhancing security andpreventing environmentaldegradation, there is a need topay more attention to socialcapital and cultural vitality inorder to foster citizenship andcivic engagement (UrbanWorld Forum, 2002).2 Noção de sustentabilidadeurbana centrada nareconstituição da legitimidade
das políticas urbanas, quecombina modelos deeficiência e eqüidade e remetea sustentabilidade àconstrução de pactos políticoscapazes de reproduzir suaspróprias condições delegitimidade e assim darsustentação a políticas urbanasque possam adaptar a ofertade serviços urbanos àsdemandas qualitativas equantitativas da população(Acserald, 1999).
das atividades antrópicas nele exercidas.Em nossa abordagem, um município éconsiderado mais ou menos sustentável àmedida que é capaz de manter ou melhorara saúde de seu sistema ambiental, minorara degradação e o impacto antrópico, redu-zir a desigualdade social e prover os habi-tantes de condições básicas de vida, bemcomo de um ambiente construído saudá-vel e seguro, e ainda de construir pactospolíticos que permitam enfrentar desafiospresentes e futuros.
Ademais, para ser considerada sus-tentável, não é suficiente que confiraa seus habitantes condições ambientaisequilibradas, mas que o faça mantendobaixos níveis de externalidades negativassobre outras regiões (próximas ou dis-tantes) e sobre o futuro. Isso implicaatentar não apenas para a escala local dasustentabilidade, mas também para a es-cala regional, constituída pelas relaçõescom o entorno, e a escala global, consti-tuída pelos impactos sobre questões glo-bais como efeito estufa e por questõesrelativas aos impactos agregados sobreo planeta (McGranahan e Satterthwaite,2002; Miller e Small, 2003).
Os indicadores de qualidade am-biental aqui construídos podem ser utili-zados não apenas para a avaliação com-parativa da qualidade de vida e do am-
biente entre as cidades nas regiões estu-dadas, como podem se constituir em fer-ramentas auxiliares no processo de pla-nejamento de cidades e microrregiões, aoindicar as áreas de melhor ou pior perfor-mance relativa, apontar tendências e cha-mar a atenção para pontos fracos.
2_ O desafio de mensurarData do final da década de 1980 o sur-gimento de propostas de construção deindicadores ambientais. Tais propostaspossuem em comum o objetivo de for-necer subsídios à formulação de políticasnacionais e acordos internacionais, bemcomo à tomada de decisão por atores pú-blicos e privados. Também buscam des-crever a interação entre a atividade antró-pica e o meio ambiente e conferir aoconceito de sustentabilidade maior con-cretude e funcionalidade.
As tentativas de construção de in-dicadores ambientais e de sustentabilida-de seguem três vertentes principais. Aprimeira delas, de vertente biocêntrica,consiste principalmente na busca por in-dicadores biológicos, físico-químicos ouenergéticos de equilíbrio ecológico deecossistemas. A segunda, de vertente eco-nômica, consiste em avaliações monetá-rias do capital natural e do uso de recur-
Tania Moreira Braga_Ana Paula Gonçalves de Freitas_Gabriela de Souza Duarte_Júlio Carepa-Sousa 13
nova Economia_Belo Horizonte_14 (3)_11-33_setembro-dezembro de 2004
sos naturais. Já a terceira vertente buscaconstruir indicadores de sustentabilidadee qualidade ambiental que combinem as-pectos do ecossistema natural a aspectosdo sistema econômico e da qualidade devida humana; em alguns casos, tambémsão levados em consideração aspectosdos sistemas político, cultural e institucio-nal. Os índices e indicadores aqui cons-truídos fazem parte do esforço de pes-quisa em torno da terceira vertente.
Os indicadores ambientais da ter-ceira vertente são, via de regra, modelosde interação atividade antrópica/meio am-biente que podem ser classificados emtrês tipos principais: estado, pressão eresposta. Enquanto os indicadores de es-tado buscam descrever a situação presen-te, física ou biológica, dos sistemas natu-rais, os indicadores de pressão tentammedir/avaliar as pressões exercidas pelasatividades antrópicas sobre os sistemasnaturais, e os chamados indicadores deresposta buscam avaliar a qualidade daspolíticas e acordos formulados para res-ponder aos impactos antrópicos e mini-mizá-los (Herculano, 1998; ESI, 2002).
Em geral, os indicadores exis-tentes incidem sobre o curto e o médioprazos,3 a escala preferencial é o planonacional e todos se defrontam com difi-culdades relativas à obtenção de dados. A
carência de informações sistemáticas ea dificuldade de comparação de dadosproduzidos com base em diferentes fon-tes/metodologias são um problema sem-pre presente para aqueles que trabalhamcom indicadores ambientais.
O surgimento dos indicadores daterceira vertente só pode ser compreen-dido como parte de um processo de refi-namento dos indicadores e índices de de-senvolvimento. A utilização sistemáticaem escala mundial de indicadores paramedir o desempenho econômico data dofinal da década de 1950, com a generali-zação do uso do PIB como indicador doprogresso econômico de um país. Já nadécada de 1960 surgiram medidas queampliam a mera concepção econômica re-tratada pelo PIB, com a utilização do PIBper capita como referencial em paralelo aalguns indicadores sociais como mortali-dade infantil e taxa de analfabetismo.
Nos anos 1990, com o patente re-conhecimento do caráter restritivo do PIB,surge o Índice de Desenvolvimento Hu-mano – IDH –, como ferramenta paramensurar o desenvolvimento econômicoe humano, sintetizando quatro aspectos,quais sejam: expectativa de vida; taxa de al-fabetização; escolaridade, e PIB per capita.
Embora imperfeito, por tentar cap-tar em um único número uma realidade
nova Economia_Belo Horizonte_14 (3)_11-33_setembro-dezembro de 2004
Índices de sustentabilidade municipal14
3 O ESI é uma destacadaexceção, pois incorporaindicadores que traduzem acapacidade política/institucional de resposta amudanças na condição desustentabilidade nomédio/longo prazos.
complexa sobre desenvolvimento huma-no e privações de necessidades básicas, oIDH atua como isca para alargar o inte-resse do público para aspectos do desen-volvimento não estritamente econômicos.O objetivo era construir uma medida como mesmo nível de vulgaridade do PIB –um único número – que, no entanto, nãofosse cego aos aspectos sociais do desen-volvimento, como é o PIB. Entretanto,tanto o IDH quanto suas versões aperfei-çoadas, os chamados índices de terceirageração,4 por não inserirem questões am-bientais, são inadequados como medidade desenvolvimento sustentável.
Índices sintéticos como o PIB e oIDH possuem a clara vantagem de co-municação ágil e grande impacto; issonão ocorre sem a perda de dimensões re-levantes do fenômeno que se quer retra-tar, sem o obscurecimento de diferençase desigualdades internas às unidades deanálise e tampouco sem escudar-se emjuízos de valor e escolhas arbitrárias dedifícil entendimento para o público emgeral. Entretanto, dada a força da mensa-gem que comunicam, índices sintéticos,ainda que imperfeitos, falam alto e claro(Índice Paulista, 2002).
No caso da busca por um índicesintético de desenvolvimento sustentá-vel, o processo se torna ainda mais intrin-
cado em razão da impossibilidade de con-tar com um elenco restrito de variáveis,uma vez que a dimensão ambiental dodesenvolvimento é composta por umasérie de aspectos relativos à saúde e capa-cidade de suporte do ambiente, ao con-trole de fontes poluentes, à administra-ção dos recursos naturais e à eqüidadeinter e intragerações.
Dada a complexidade e a diversi-dade de questões envolvidas, não é possí-vel compor um bom retrato do grau desustentabilidade atingido por um país, re-gião ou cidade, tomando por referênciaum pequeno número de variáveis. Men-surar a sustentabilidade requer a integra-ção de um número considerável de infor-mações advindas de uma pluralidade dedisciplinas e áreas de conhecimento. Co-municar tal riqueza de informações deforma coerente ao público não especia-lista se torna um grande desafio, o qual seconverte em expectativa pela produçãode sistema de indicadores enxutos ou ín-dices sintéticos, capazes de comunicarrealidades complexas de forma resumida.
Dentre as tentativas recentes deconstrução de índices sintéticos de sus-tentabilidade e desenvolvimento susten-tável, destaca-se o Environmental Sustaina-bility Index – ESI –, desenvolvido pelaUniversidades de Yale e de Columbia
Tania Moreira Braga_Ana Paula Gonçalves de Freitas_Gabriela de Souza Duarte_Júlio Carepa-Sousa 15
nova Economia_Belo Horizonte_14 (3)_11-33_setembro-dezembro de 2004
4 Dentre os chamadosíndices de terceira geração,podemos citar o ICV,construído para os municípiosmineiros pela FundaçãoJoão Pinheiro; o IPRS,construído para os municípiospaulistas pela Fundação Seade;o IDG (Índice deDesenvolvimento Ajustado aGênero), o IPH (Indice dePobreza Humana), tambémdesenvolvidos pelo PNUD.
com o apoio do World Economic Fo-rum. Com o objetivo de analisar e avaliara sustentabilidade ambiental ao longo dotempo e identificar os determinantes do“sucesso ambiental” e da sustentabilida-de no longo prazo, o ESI constrói umranking de países valendo-se de um am-plo, mas coerente e bem articulado, con-junto de indicadores relativos a desenvol-vimento e meio ambiente, passíveis decomparação entre um número significa-tivo de países. Também evidencia que aanálise comparativa no âmbito ambientalpode identificar sucesso ou falhas de in-tervenções políticas e chama a atençãopara a carência de informações ambien-tais de qualidade no âmbito mundial epara a urgência de investimentos em sis-temas de monitoramento ambiental e pro-dução de séries temporais de dados paraparâmetros e variáveis chave.
A dificuldade na obtenção de da-dos é problema recorrente, tanto no quese refere à mera disponibilidade dessesquanto à sua qualidade. A esse respeito,Esty e Porter (2002) afirmam ser neces-sária a construção de mecanismos queassegurem o controle de qualidade dosdados e proporcionem algum grau de pa-dronização, eliminando o risco de produ-ção extensiva de dados com baixa capa-cidade de informação.
Ao analisarmos diversas propostasde índices e indicadores de sustentabili-dade, observamos outros problemas co-muns aos indicadores até então construí-dos, tais como: ausência ou fragilidade daconcepção conceitual, fragilidade dos cri-térios de escolha das variáveis representa-tivas, falta de critérios claros de integraçãodos dados, baixa relevância dos dados uti-lizados. Em razão da falta de precisão emrelação aos conceitos de sustentabilidadee qualidade ambiental, o processo de es-colha dos dados e variáveis a ser utilizadasna mensuração dos referidos fenômenosé, por muitas vezes, obscuro, assim comoo são as relações de causalidade que dãosuporte aos sistemas de indicadores cons-truídos. Grande parte dos assim denomi-nados sistemas de indicadores são muitasvezes meras listas de dados e variáveis.Por se tratarem de iniciativas isoladas, emgeral restritas a um contexto local, a com-parabilidade dos indicadores e índices égeralmente baixa. A construção dos índi-ces envolve ainda a complicação adicionalde tornar comparáveis dados de diferen-tes fontes, produzidos com base em esca-las distintas, com cobertura e distribuiçãoespacial e temporal diversas, levando àbusca de formas alternativas e aproxima-das para imputar dados faltantes e cons-truir proxys adequadas e representativas deinformações inexistentes.
nova Economia_Belo Horizonte_14 (3)_11-33_setembro-dezembro de 2004
Índices de sustentabilidade municipal16
Os índices de sustentabilidade mu-nicipal aqui construídos fazem parte des-se esforço acadêmico recente de constru-ção de índices ambientais. Inspira-se, emespecial, em duas fontes:
i. o estudo sobre o ambiente, a po-pulação, a economia, a socieda-de e a vida política realizados empesquisa anterior desenvolvidapelo CEDEPLAR/UFMG e oICB/UFMG, que deu origem aolivro Biodiversidade, população e eco-nomia (Paula, 1997);
ii. o Environmental SustainabilityIndex (ESI, 2002).
Os índices aqui apresentados pode-rão ser utilizados não só para avaliar a qua-lidade de vida e do ambiente e auxiliar noprocesso de planejamento local em relaçãoà integração entre meio ambiente e cresci-mento/desenvolvimento econômico, co-mo também representam uma contribui-ção metodológica para o aperfeiçoamentodos sistemas de informação ambientais.
3_ Índices de sustentabilidademunicipal: concepçãometodológica
O sistema de índices de sustentabilidademunicipal aqui apresentado é compostopor quatro índices temáticos, a saber:
i. qualidade do sistema ambiental local;ii. qualidade de vida humana;iii. pressão antrópica;iv. capacidade política e institucional.
Combinados, os quatro índices bus-cam mensurar a sustentabilidade munici-pal, conforme definida na página 13. Oíndice de qualidade do sistema ambientalmensura o grau de saúde do sistema am-biental do município. O índice de qualida-de de vida humana mensura a capacidadedo município em reduzir a desigualdadesocial, prover os habitantes de condiçõesbásicas de vida e de um ambiente construí-do saudável e seguro. Já o índice de pres-são antrópica mensura o potencial de de-gradação e o grau de impacto antrópicono município. Finalmente, o índice de ca-pacidade político-institucional mensura arobustez nesse quesito para o enfrenta-mento de desafios presentes e futuros.Dentre eles, o índice de pressão antrópicamede o inverso da sustentabilidade. Caberessaltar que, de maneira similar a outrosindicadores de desenvolvimento sustentá-vel e de desenvolvimento social, esse nãoconsiste em proposta acabada, e sim emtrabalho em permanente construção.
O índice de qualidade do sistemaambiental5 mensura o grau de saúde dosistema ambiental através da qualidadede água do rio, visto como testemunha
Tania Moreira Braga_Ana Paula Gonçalves de Freitas_Gabriela de Souza Duarte_Júlio Carepa-Sousa 17
nova Economia_Belo Horizonte_14 (3)_11-33_setembro-dezembro de 2004
5 O índice de qualidadeambiental poderia serconstruído com base emindicadores de qualidade doar, o que não se deu por causada impossibilidade deobtenção de dados confiáveispara a região estudada. Caberessaltar que a proxy escolhida(o Índice de Qualidade daÁgua) incorpora indicadoresde biodiversidade aquática.
das condições ambientais de sua bacia ecomo depositário da degradação promo-vida pelas atividades humanas. O Índicede Qualidade das Águas (Barbosa, 1997)será tomado como proxy da qualidade dosistema ambiental local/regional. Cons-truído para a área piloto para os anos1990 no contexto da pesquisa Biodiversi-dade, População e Economia e para os anos2000 no contexto da pesquisa PIE/PELD,combina aspectos da biodiversidade aquá-tica e das características físico-químicasdas águas com base nas medidas sistemá-ticas em pontos selecionados ao longodo rio Piracicaba e de seus principaisafluentes. As variáveis físico-químicas quecompõem o índice fornecem uma visãoestática, um retrato momentâneo da dre-nagem de sua bacia, ao passo que as variá-veis biológicas permitem identificar pro-cessos mais permanentes, na medida emque a sobrevivência e/ou o desenvolvi-mento de certos microorganismos vivosrefletem as condições ambientais em seuleito por períodos mais dilatados (Paula,1997, p. 262-263).
O índice de pressão antrópica ava-lia o potencial de impacto e degradação,por meio do grau de estresse exercidopela intervenção antrópica – urbanizaçãoe principais atividades econômicas – so-bre o sistema ambiental local, com espe-cial atenção para seu potencial poluidor,ritmo de crescimento e concentração es-
pacial. São três os indicadores que entramem sua composição: pressão urbana, pres-são industrial e pressão agropecuária. Umindicador de pressão por atividades demineração e extrativismo, de importân-cia central na região estudada, não foiconstruído dada a não-obtenção de da-dos confiáveis.
O índice de qualidade de vida hu-mana mensura aspectos relacionados adesenvolvimento humano e a qualidadedo ambiente construído. As variáveis dedesenvolvimento humano são as mes-mas usadas no cálculo do IDH munici-pal, separadas em um indicador de quali-dade de vida e outro de renda. Por suavez, as variáveis de qualidade da habita-ção, serviços sanitários e segurança am-biental refletem a qualidade do ambienteconstruído no que se refere ao provi-mento de condições adequadas a umavida humana saudável; já as variáveis desaúde ambiental exprimem a incidênciade doenças causadas por fatores ambien-tais (ar e água).
Por fim, o índice de capacidadepolítico institucional mensura a capaci-dade dos sistemas político, institucio-nal, social e cultural locais de superar asprincipais barreiras e oferecer respos-tas aos desafios presentes e futuros desustentabilidade.
Portanto, tomados em conjunto, osquatro índices estabelecem indicadores de
nova Economia_Belo Horizonte_14 (3)_11-33_setembro-dezembro de 2004
Índices de sustentabilidade municipal18
estado, pressão e resposta, que refletemcondições presentes tanto na escala localquanto na escala regional. Indicadores ca-pazes de refletir o papel dos municípiosavaliados na sustentabilidade em escalaglobal, tais como produção de gazes deefeito estufa e avaliações de pegada ecoló-gica, não foram incluídos pela impossibili-dade de obtenção de dados.
Os indicadores e variáveis utiliza-dos foram selecionados baseando-se emrevisão bibliográfica,6 das matrizes do pro-jeto Biodiversidade, População e Econo-mia (Paula, 1997) e de revisão crítica porespecialistas, tendo como balizador a con-cepção de sustentabilidade local adotadana pesquisa. Os critérios considerados naescolha foram:
_ relevância, capacidade da variávelem traduzir o fenômeno. Sem-pre que possível, utilizamos va-riáveis que medem diretamenteo fenômeno, quanto não houveessa possibilidade, optou-se pelautilização de proxy;
_ aderência local, capacidade da va-riável (ou indicador) em captarfenômeno produzido ou passívelde transformação no plano local;
_ disponibilidade, cobertura e atua-lidade dos dados;
_ capacidade da variável em permi-tir comparações temporais.
Embora o objetivo principal seja ode criar indicadores adequados à realidadeda região estudada, um critério adicionalutilizado na escolha das variáveis e dos in-dicadores foi a possibilidade de cálculodos mesmos para outras localidades.
Sempre que possível, utilizamosindicadores consolidados ou já existen-tes, como o caso do IDH Renda comoindicador de renda, de uma combinaçãodo IDH Longevidade e do IDH Educa-ção com indicador de condições de vida,e do Índice de Qualidade da Água de au-toria de Barbosa (1997) como indicadorde qualidade da água. Utilizamos tambéma metodologia desenvolvida por Sawyer(2000) para calcular dois dos quatro indi-cadores de pressão agropecuária. A maiorparte das variáveis selecionadas foi cons-truída com base em dados disponíveisem fontes secundárias, mas algumas de-las demandaram pesquisa de campo paralevantamento de dados primários.
O Quadro 1 descreve a composi-ção dos indicadores utilizados nos índi-ces de qualidade de vida humana, pres-são antrópica e capacidade político-institucional. O índice de qualidade dosistema ambiental foi obtido através deuma média dos Índices de Qualidadeda Água nos períodos seca e chuva(Barbosa, 1997).
Tania Moreira Braga_Ana Paula Gonçalves de Freitas_Gabriela de Souza Duarte_Júlio Carepa-Sousa 19
nova Economia_Belo Horizonte_14 (3)_11-33_setembro-dezembro de 2004
6 Dentre os trabalhosconsultados, o de maiorsignificância foi ESI (2002).Também foram relevantes:Herculano (1998); Isla (1998);Taylor (1998); Ramieri e Cogo(1998); Sawyer (2000);Corrêa (2000); Belo Horizonte(2002); Fundação JoãoPinheiro (1996).
nova Economia_Belo Horizonte_14 (3)_11-33_setembro-dezembro de 2004
Índices de sustentabilidade municipal20
Quadro 1_ Índices temáticos e indicadores
Índices temáticos Indicadores Composição dos indicadores
Qualidade de vida humana
Qualidade da habitação Percentual de habitações subnormais
Condições de vidaÍndice de longevidade – IDH
Índice de educação – IDH
Renda Índice de renda – IDH
Saúde e segurança ambiental
Índice de mortos em acidentes de trânsitoÍndice de mortos por doenças respiratóriasÍndice de mortos por doenças parasitárias
Índice de mortos homicídios
Serviços sanitáriosÍndice de abastecimento de água
Índice de instalação sanitáriaÍndice de serviço de coleta de lixo
Pressão antrópica
Pressão urbana
Taxa de pressão populacionalDensidade habitacional por cômodo
Número de veículos per capitaConsumo energético urbano
Pressão industrial Intensidade energética industrial
Pressão agropecuária
Densidade de lavouras e pastagens no municípioTaxa de crescimento média de lavouras e pastagens nos 10 últimos
Intensidade energética ruralProporção da área ocupada por matas e florestas plantadas e área ocupada
por matas e florestas naturais nos estabelecimentos
Cobertura vegetal Cobertura vegetal
Capacidade institucional
Autonomia político-administrativaAutonomia fiscal
Endividamento públicoPeso eleitoral
Gestão pública municipal
Funcionários com nível superiorInformatização
Conselhos de política urbana e descentralizaçãoInstrumentos de gestão urbana
Gestão ambientalConselho de meio ambiente
Número de unidades de conservação municipal
Informação e participação
ONGs ambientalistasParticipação político-eleitoral
Imprensa escritaImprensa falada
Fonte: Elaboração própria.
No que se refere à metodologia decálculo, foram realizados quatro testesutilizando diferentes métodos de padro-nização e realizando experimentos de atri-buição de pesos às variáveis, valendo-sedo uso de técnicas de análise multivaria-da. A metodologia estatística aqui descri-ta é a final, a qual chegamos depois deavaliar prós e contras dos quatro testesmetodológicos.
A adequação das variáveis foi testa-da baseando-se na análise das correlaçõesentre elas. Aquelas que se mostraram re-dundantes ou pouco sensíveis foram reti-radas do índice nessa etapa. Optamos pormanter ambas as variáveis de alguns dospares que apresentaram altas correlações,em razão de a permanência delas ser útilpara estudos de causalidade realizados noâmbito da pesquisa.7
O passo seguinte foi identificar osvalores extremos (outliers) e substituí-lospelos valores correspondentes aos limi-tes superiores e inferiores dos percentis2,5 e 97,5%, respectivamente.
Após corrigidos os valores extre-mos, padronizamos as variáveis pelo mé-todo z-score, de modo a permitir suaagregação ao converter todas as variá-veis a uma escala numérica única e ame-nizar distorções causadas pelos valores
observados nos percentis mais extre-mos. Desta forma:
zx x m
�
�
�
Para algumas variáveis que apre-sentavam relação inversa ao que busca-mos – quanto maior seu valor, melhor oindicador –, a padronização foi feita combase na fórmula inversa.
A atribuição de pesos para as va-riáveis através do método de análise mul-tivariada foi descartada. Uma primeirarazão para tal procedimento é a ausênciade consenso científico sobre o peso es-pecífico das contribuições relativas decada variável para o fenômeno sustenta-bilidade, aconselhando cautela no uso daatribuição de pesos.8 Uma segunda razão,que confirmou empiricamente a cautelaexpressa na primeira razão, foi observar-mos nos testes que algumas variáveis ga-nharam peso de sentido inverso ao espe-rado – como o peso positivo atribuído àsvariáveis mortalidade por doenças parasi-tárias e habitações subnormais – os quaisrefletem a detecção empírica de padrõesnão sustentáveis na região, e não uma fa-lha na concepção teórica dos indicadores.
A análise multivariada de compo-nentes principais foi utilizada para testar
Tania Moreira Braga_Ana Paula Gonçalves de Freitas_Gabriela de Souza Duarte_Júlio Carepa-Sousa 21
nova Economia_Belo Horizonte_14 (3)_11-33_setembro-dezembro de 2004
7 São eles: informação/participação e gestãoambiental; educação esaneamento; educação eveículos per capita; pressãoresidencial e veículos per capita.8 O mesmo critério foiutilizado no EnvironmentalSustainability Index – ESI(2002) para descartara adoção de pesos.
a adequação da reunião das variáveis emindicadores específicos e para identificara existência de indicadores redundantes.Na análise da adequação das variáveis acada indicador, o valor acumulado parao primeiro e segundo componentes foisignificativo em todos os casos, mostran-do a adequação da escolha conceitual dasvariáveis pertinentes a cada indicador.Na avaliação de redundância dos indica-dores, não foram obtidos componentesprincipais sensíveis, revelando ausênciade redundância.
O indicador de qualidade da água,coletado pontualmente, foi espacializadoatribuindo-se aos municípios pontos decoleta representativos, uma vez que ospontos de coleta foram escolhidos porsua capacidade de sintetizar a qualidadeambiental de sua bacia de drenagem – is-to é, foi escolhido por ser o ponto de lei-tura do funil representado pela bacia hi-drográfica (Paula, 1997). Isso significaque a cada município foram atribuídos osvalores do ponto representativo da mi-crobacia no qual é possível ler o efeitodas principais atividades impactantes edos principais depuradores naturais.
Após os testes, uma segunda pa-dronização foi realizada, convertendo osindicadores em valores compreendidosentre zero e um, pelo método de máximos
e mínimos, de forma a tornar os resulta-dos mais compreensíveis para o públicoem geral. Os índices temáticos foram en-tão obtidos com base na média simplesdos seus respectivos indicadores.9
4_ Aplicação para os municípiosda bacia do Piracicaba (MG)
A bacia do rio Piracicaba apresenta nu-merosas possibilidades para a análise e oestudo de questões relacionadas à sus-tentabilidade, dada a riqueza de suas ca-racterísticas. Nela localiza-se uma impor-tante área preservada do bioma de mataatlântica, o Parque Estadual do Rio Do-ce. Submetida a um intenso e rápido pro-cesso de urbanização, possui importantecentros urbanos e uma região metropoli-tana, o Vale do Aço.
Dentre as atividades econômicasdesenvolvidas na bacia, destacam-se:
i. siderurgia – com o maior parquesiderúrgico do País composto pe-la Usiminas, Acesita e Cia. BelgoMineira;
ii. mineração de grande e pequenaescala – Vale do Rio Doce emItabira, garimpo de ouro em San-ta Bárbara;
iii. indústria de celulose – Cenibra;
nova Economia_Belo Horizonte_14 (3)_11-33_setembro-dezembro de 2004
Índices de sustentabilidade municipal22
9 Analogamente ao critériode adoção da média nãoponderada utilizadoEnvironmental SustainabilityIndex – ESI (2002).
iv. reflorestamento empresarial prin-cipalmente com a monoculturade eucaliptos;
v. forte presença da pecuária diver-sificada em pequenas e grandespropriedades e de complexosagroindustriais.
Assim, a bacia do rio Piracicaba (MG) éum verdadeiro mosaico de problemasambientais, uma vez que concentra, numaárea relativamente pequena, um conjun-to significativo de atividades econômi-cas altamente impactantes. Esse cenárioé ainda agravado pelo processo de urba-nização intensiva.
O Parque Estadual do Rio Doce,além de ser uma das maiores reservas demata atlântica do Brasil, abriga a maior flo-resta tropical de Minas em seus 35.976ha eapresenta alta diversidade biológica e pre-sença de espécies endêmicas (Paula, 1997).
A região de estudo é formada por26 municípios, quais sejam: Antônio Dias,Barão de Cocais, Bela Vista de Minas, Be-lo Oriente, Bom Jesus do Amparo, BomJesus do Galho, Caratinga, Coronel Fabri-ciano, Córrego Novo, Dionísio, EntreFolhas, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Itabira, Ja-guaraçu, João Monlevade, Marliéria, Mes-quita, Nova Era, Rio Piracicaba, SantaBárbara, Santana do Paraíso, São Domin-
gos do Prata, São Gonçalo do Rio Abaixoe Timóteo.
Foram construídos dois blocos deíndices, com datas-referência de 1991 e2000.10 Os índices de qualidade de vida hu-mana, pressão antrópica e qualidade do sis-tema ambiental foram construídos para osdois períodos (utilizando os mesmos indi-cadores e variáveis). O índice de capacida-de político institucional foi construído ape-nas para o período referência de 2000.
Os índices de qualidade de vidahumana, pressão ambiental e capacidadepolítico-institucional foram construídospara a totalidade dos municípios estuda-dos.11 O índice de qualidade do sistemaambiental foi construído para nove muni-cípios no período referência 1991 e qua-tro municípios para o período referência2000, em função de serem aqueles ondese localizaram os pontos de amostragemda água e biodiversidade aquática.
Os resultados obtidos no cálculodos índices são apresentados nas Tabelas1 e 2, agrupando os municípios atravésde análise de cluster.
O grupo 1 é o único com perfilbem definido, cuja composição perma-neceu praticamente inalterada nos doisperíodos analisados. Os demais grupossofreram mudanças significativas de per-fil e composição.
Tania Moreira Braga_Ana Paula Gonçalves de Freitas_Gabriela de Souza Duarte_Júlio Carepa-Sousa 23
nova Economia_Belo Horizonte_14 (3)_11-33_setembro-dezembro de 2004
10 Denominamos períodoreferência, pois algunsdados foram coletadosalguns anos antes ou apóso ano de referência.11 O município de Barão deCocais não teve o índice deimpacto antrópico calculadopara o ano de 1991, porproblemas de qualidade dosdados. Observe-se tambémque alguns municípios nãoforam considerados naconstrução do índice de 1991,por terem sido criados apósessa data.
nova Economia_Belo Horizonte_14 (3)_11-33_setembro-dezembro de 2004
Índices de sustentabilidade municipal24
Mapa 1_ Região de estudo
Fonte: Elaboração própria.
Tania Moreira Braga_Ana Paula Gonçalves de Freitas_Gabriela de Souza Duarte_Júlio Carepa-Sousa 25
nova Economia_Belo Horizonte_14 (3)_11-33_setembro-dezembro de 2004
Tabela 1_ Índices de Sustentabilidade Municipal – 1991
MunicípiosQualidade
de vida humanaPressão
antrópicaQualidadeambiental
Cluster
Coronel Fabriciano 0,69 0,39 0,88 1
Ipatinga 0,73 0,68 0,00 1
Itabira 0,64 0,48 0,66 1
João Monlevade 0,83 0,76 0,64 1
Timóteo 0,81 0,58 0,88 1
Antônio Dias 0,42 0,23 – 2
Barão de Cocais 0,66 – 0,09 2
Bela Vista de Minas 0,51 0,31 – 2
Belo Oriente 0,53 0,40 1,00 2
Dionísio 0,57 0,27 – 2
Jaguaraçu 0,54 0,29 – 2
Mesquita 0,39 0,18 – 2
Rio Piracicaba 0,62 0,23 – 2
Santa Bárbara 0,67 0,41 0,93 2
São Gonçalo do Rio Abaixo 0,50 0,35 – 2
Bom Jesus do Amparo 0,33 0,39 – 3
Bom Jesus do Galho 0,35 0,35 – 3
Caratinga 0,41 0,22 – 3
Córrego Novo 0,49 0,39 – 3
Iapu 0,44 0,23 – 3
Marliéria 0,39 0,31 – 3
Nova Era 0,49 0,62 0,66 3
São Domingos do Prata 0,53 0,23 – 3
Fonte: Elaboração própria.
nova Economia_Belo Horizonte_14 (3)_11-33_setembro-dezembro de 2004
Índices de sustentabilidade municipal26
Tabela 2_ Índices de Sustentabilidade Municipal – 2000
MunicípioQualidade
de vida humanaPressão
antrópicaQualidadeambiental
Capacidadepolítico-institucional
Cluster
Barão de Cocais 0,67 0,65 0,00 0,52 1
Ipatinga 0,64 0,66 0,22 0,87 1
Itabira 0,66 0,72 0,36 0,80 1
João Monlevade 0,85 0,65 – 0,72 1
Timóteo 0,68 0,67 – 0,80 1
Bela Vista de Minas 0,66 0,31 – 0,34 2
Caratinga 0,51 0,42 – 0,62 2
Coronel Fabriciano 0,67 0,35 – 0,53 2
Entre Folhas 0,53 0,44 – 0,43 2
Nova Era 0,76 0,53 – 0,47 2
Rio Piracicaba 0,66 0,46 – 0,37 2
Santa Bárbara 0,69 0,41 1,00 0,75 2
São Domingos do Prata 0,62 0,37 – 0,40 2
Bom Jesus do Amparo 0,44 0,45 – 0,38 3
Bom Jesus do Galho 0,36 0,33 – 0,32 3
Córrego Novo 0,45 0,24 – 0,26 3
Dionísio 0,44 0,42 – 0,34 3
Iapu 0,54 0,45 – 0,30 3
Ipaba 0,46 0,32 – 0,14 3
Jaguaraçu 0,48 0,44 – 0,27 3
Marliéria 0,60 0,51 – 0,31 3
Mesquita 0,37 0,32 – 0,16 3
Santana do Paraíso 0,50 0,64 – 0,19 3
São Gonçalo do Rio Abaixo 0,43 0,35 – 0,21 3
Antônio Dias 0,22 0,52 – 0,39 4
Belo Oriente 0,20 0,49 0,50 0,55 4
Fonte: Elaboração própria.
Caracterizado por alta qualidadede vida humana, alta pressão antrópica eboa capacidade político-institucional (pa-ra o período de 2000), o grupo 1 é com-posto pelos municípios industriais do se-tor minero-siderúrgico, que são também,com a exceção de Barão de Cocais, osmais populosos da região. A alteraçãoocorrida nesse grupo de 1991 para 2000foi a entrada de Barão de Cocais, e a saídade Coronel Fabriciano. A referida mu-dança tornou o grupo mais homogêneo,uma vez que Coronel Fabriciano possuiíndice de pressão ambiental significativa-mente inferior aos demais componentesdo grupo e não é sede de indústria do re-ferido setor.12
Alterações relevantes ocorreramnos demais grupos em relação ao perfildo grupo. Em 1991, o grupo 2 se caracte-riza por boa qualidade de vida e baixapressão ambiental, enquanto em 2000 ogrupo de mesma numeração se caracteri-za por boa qualidade de vida, pressãoambiental moderada e boa capacidadepolítico-institucional. Já o grupo 3 se ca-racteriza em 1991 por qualidade de vidabaixa ou razoável e pressão ambientalmoderada ou média, enquanto em 2000o grupo de mesma numeração se carac-teriza por qualidade de vida razoável,pressão ambiental moderada e baixa ca-
pacidade político-institucional. Ou seja, aqualidade de vida é o índice dominantena determinação dos grupos, mas a en-trada do índice de capacidade político-institucional altera significativamente acomposição dos grupos de 1991 para2000. O grupo 4, que aparece apenas pa-ra o período de 2000, caracteriza-se porbaixa qualidade de vida humana.
Portanto, a análise de cluster nospermite detectar com clareza e precisãoapenas um padrão de desenvolvimento naregião, aquele dos municípios que com-põem o grupo 1. Tal padrão apresenta ga-nhos econômicos e sociais obtidos à custade forte pressão sobre o ambiente lo-cal/regional, denotando visível insusten-tabilidade, a despeito de organização polí-tico-institucional considerável.
Para melhor caracterizar os pa-drões de desenvolvimento na região, ex-ploramos as relações entre as diversasdimensões da sustentabilidade com ba-se na construção de barômetro de sus-tentabilidade (Prescott-Allen, 1995). Obarômetro consiste na plotagem de ín-dices em dois eixos – o primeiro repre-senta o sistema humano, e o segundo,o sistema natural. No barômetro aquiconstruído, o índice de qualidade de vi-da humana compõe o eixo do sistemahumano, e o índice de pressão ambiental
Tania Moreira Braga_Ana Paula Gonçalves de Freitas_Gabriela de Souza Duarte_Júlio Carepa-Sousa 27
nova Economia_Belo Horizonte_14 (3)_11-33_setembro-dezembro de 2004
12 Cabe ressaltar que CoronelFabriciano, integrante donúcleo do aglomerado urbanodo Vale do Aço, embora nãoseja sede de indústria do setorsiderúrgico, possui integraçãofuncional muito forte comIpatinga e Timóteo, o quejustifica sua inclusão em 1991no mesmo grupo que o deseus vizinhos.
compõe o eixo do sistema natural (indi-cando o estresse ou pressão ao qual osistema natural encontra-se submetido).Optamos em utilizar o índice de pres-são em lugar do índice de qualidade do
sistema ambiental, por causa de o se-gundo ter sido construído apenas paranove e cinco municípios (em 1991 e2000, respectivamente), o que limita ariqueza das análises.
nova Economia_Belo Horizonte_14 (3)_11-33_setembro-dezembro de 2004
Índices de sustentabilidade municipal28
Quadro 2_ Barômetro de Sustentabilidade, qualidade vida humana/pressão antrópica – 1991
Pre
ssão
Ant
rópi
ca
Qualidade de vida humana
Baixa (0 – 0,42) Razoável (0,43 – 0,52) Boa (0,53 – 0,64) Alta (> 0,65)
Baixa (0 – 0,22) Caratinga, Mesquita
Moderada (0,23 – 0,34) Antônio Dias, Marliéria Bela Vista de Minas, IapuDionísio, Jaguaraçu,
Rio Piracicaba,São Domingos do Prata
Média (0,35 – 0,39)Bom Jesus do Amparo,Bom Jesus do Galho
Córrego Novo, SãoGonçalo do Rio Abaixo
Coronel Fabriciano
Alta (> 0,40) Nova Era Belo Oriente, ItabiraIpatinga, João Monlevade,Timóteo, Santa Bárbara
Fonte: Elaboração própria.
Quadro 3_ Barômetro de Sustentabilidade, qualidade vida humana/pressão antrópica – 2000
Pre
ssão
Ant
rópi
ca
Qualidade de vida humana
Baixa (0 – 0,43) Razoável (0,44 – 0,52) Boa (0,53 – 0,65) Alta (> 0,66)
Baixa (0 – 0,34)Bom Jesus do Galho,
MesquitaCórrego Novo, Ipaba Bela Vista de Minas
Moderada (0,35 – 0,44)São Gonçalo do Rio
AbaixoDionísio, Caratinga São Domingos do Prata
Coronel Fabriciano,Santa Bárbara
Média (0,44 – 0,52) Antônio Dias, Belo OrienteBom Jesus do Amparo,
JaguaraçuEntre Folhas, Iapu,
MarliériaRio Piracicaba
Alta (> 0,53) Santana do Paraíso IpatingaBarão de Cocais, Itabira,
João Monlevade,Nova Era, Timóteo
Fonte: Elaboração própria.
Salta aos olhos a insustentabilidadedo padrão de desenvolvimento da região;59% dos municípios em 1991, e 46% em2000, foram classificados como insusten-táveis. Como potencialmente insustentá-veis, foram classificados 23% dos muni-cípios em 1991, e 38% em 2000. A somados municípios classificados como susten-táveis e potencialmente sustentáveis nãoultrapassa 18% dos municípios em 1991, e16% em 2000.
Dentre os municípios que apre-sentaram melhoras de 1991 para 2000,destacam-se Santa Bárbara, que passoude insustentável para potencialmente sus-tentável; Coronel Fabriciano, que passoude potencialmente insustentável para po-tencialmente sustentável; e Bela Vista deMinas, que passou de potencialmente in-sustentável para sustentável. Bela Vista éum município pequeno, com baixa expres-são econômica; Santa Bárbara é um muni-cípio pequeno com expressão econômicamais que proporcional ao seu porte; Coro-nel Fabriciano é o terceiro maior em popu-lação da região, com expressão econômicamenos que proporcional a seu porte.13
Isso indica que o potencial de me-lhora em relação à sustentabilidade na re-gião não se encontra associada a um perfilmunicipal específico. Pesquisas de camporealizadas na região sugerem que, no caso
de Santa Bárbara, os avanços podem serexplicados por forte mobilização da so-ciedade civil em prol de questões socio-ambientais. No que diz respeito a CoronelFabriciano, os avanços observados po-dem ser explicados pela diversificação dosetor terciário local e conseqüente estabe-lecimento de relações funcionais de mãodupla com os municípios industriais vizi-nhos, através das quais Fabriciano deixade ser município “dormitório” do Vale doAço para adquirir papel mais positivo nadinâmica econômica local.
Dentre os municípios que apresen-taram pioras de 1991 para 2000, desta-cam-se Rio Piracicaba e Jaguaraçu. O pri-meiro deles, município de pequeno porte(com aproximadamente 15 mil habitan-tes) e expressão econômica mais que pro-porcional,14 obteve pequena melhora naqualidade de vida humana a custa de gran-de incremento na pressão antrópica. O se-gundo, município rural com populaçãoque mal se aproxima dos três mil habitan-tes, amargou pequena queda na qualidadede vida humana associada ao expressivoaumento na pressão antrópica.
Cabe realizar uma comparação en-tre os resultados percebidos via índices depressão antrópica e qualidade do sistemaambiental, os quais representam, respecti-vamente, uma leitura indireta e uma leitu-
Tania Moreira Braga_Ana Paula Gonçalves de Freitas_Gabriela de Souza Duarte_Júlio Carepa-Sousa 29
nova Economia_Belo Horizonte_14 (3)_11-33_setembro-dezembro de 2004
13 Aproximando-se dos 25 milhabitantes (7ª maiorpopulação da região), SantaBárbara ocupa a 4ª posição emrelação ao PIB municipal e a6ª posição em relação à rendaper capta na região. Compopulação se aproximandodos 100 mil habitantes(3ª maior da região),Coronel Fabriciano ocupaa 8ª posição em relação aoPIB municipal e a 4ª emrelação à renda per capta.14 Com aproximadamente15 mil habitantes, RioPiracicaba ocupa a 6ªcolocação regional em relaçãoao PIB municipal e a 7ª emrelação à renda per capta.
ra direta da qualidade do ambiente. O pri-meiro índice é uma proxy do impacto, lidacom base na intensidade da pressão exer-cida por atividades humanas em determi-nado ambiente. O segundo é uma leituradireta da qualidade ambiental efetiva naágua do rio, considerando não apenas a lei-tura estática (através de indicadores físi-co-químicos), mas também uma leituradinâmica (por meio dos indicadores bio-lógicos). Observe-se que, quanto maior oíndice de pressão antrópica, pior a quali-dade do ambiente em questão.
Podemos observar que em 1991,para os municípios de Santa Bárbara, BeloOriente, João Monlevade e Timóteo, ocor-
re melhora relativa de posição, quando secompara o resultado do índice de pressãoantrópica com o resultado do índice dequalidade do sistema ambiental, indicandoque, ao medir a qualidade do sistema ambi-ental no rio, o impacto ambiental é menorque o esperado em função do índice depressão antrópica. Já os municípios de Co-ronel Fabriciano, Ipatinga e Itabira acusampiora relativa de posição em 1991, indican-do que, ao medir a qualidade do sistemaambiental no rio, o impacto ambiental émaior que o esperado em função do índiceda pressão antrópica. Para 2000, Barão deCocais registra piora relativa de posição, aocontrário de Itabira.
nova Economia_Belo Horizonte_14 (3)_11-33_setembro-dezembro de 2004
Índices de sustentabilidade municipal30
Tabela 3_ Comparação índices de pressão antrópica e qualidade do sistema ambiental
Municípios
Pressãoantrópica 1991
Qualidadeambiental 1991
Pressãoantrópica 2001
Qualidadeambiental 2000
índice ordem índice ordem índice ordem índice ordem
Coronel Fabriciano 0,39 1 0,88 3 0,35 –
Ipatinga 0,68 7 0,00 8 0,66 4 0,22 4
Itabira 0,48 4 0,66 5 0,72 5 0,36 3
João Monlevade 0,76 8 0,64 7 0,65 –
Timóteo 0,58 5 0,88 4 0,67 –
Barão de Cocais – – 0,09 0,65 3 0,00 5
Belo Oriente 0,40 2 1,00 1 0,49 2 0,50 2
Santa Bárbara 0,41 3 0,93 2 0,41 1 1,00 1
Nova Era 0,62 6 0,66 6 0,53 –
Fonte: Elaboração própria.
5_ Considerações finaisA construção dos índices de sustentabili-dade municipal para a bacia do rio Piraci-caba nos permite afirmar que nenhumdos municípios estudados apresenta pa-drão de desenvolvimento verdadeiramen-te sustentável, uma vez que todos eles de-monstram desempenho inferior à médiapara alguns indicadores. Além disso, aexistência de um trade-off entre desenvolvi-mento e qualidade ambiental é evidente.Por outro lado, a análise, com base no ba-rômetro de sustentabilidade demonstraque alguns municípios estão obtendo su-cesso em promover uma relação maisequilibrada entre o desenvolvimento eco-nômico e a qualidade ambiental, o que su-gere ser possível enfrentar e superar o re-ferido trade-off e construir um padrão dedesenvolvimento mais sustentável.
O sistema de Índices de Sustenta-bilidade Municipal mostrou-se uma fer-ramenta útil na avaliação ambiental dospadrões de desenvolvimento e na compa-ração entre municípios. Indicou ser tam-bém factível a construção de um sistemacoerente e coeso partindo de dados pro-duzidos em diferentes escalas, coletadosem diferentes períodos e diversos em co-bertura e atualização.
No que se refere às possibilidadesde generalização de sua aplicação, pesqui-
sas em desenvolvimento no Cedeplar, coma aplicação de um sistema semelhante deíndices para o contexto específico de re-giões metropolitanas, e um piloto desen-volvido em conjunto pela equipe do Ce-deplar e pesquisadores da Universidade deColumbia (EUA) para a aplicação dessesistema à região metropolitana de NovaIorque, indicam ser possível sua aplicação arealidades distintas com pequenas modifi-cações nas variáveis utilizadas.
Com o objetivo de subsidiar fu-turas discussões metodológicas sobre aconstrução de índices de sustentabilida-de no nível local ou regional, apresenta-mos agora uma avaliação dos indicadoresaqui utilizados, tomando por base os trêsprimeiros critérios descritos na página 19e inspirada na metodologia de avaliaçãoutilizada em ESI (2002).
A relevância e a aderência localdos indicadores foram avaliadas em or-dem crescente. Foram consideradas va-riáveis de relevância e aderência local altaaquelas que refletem perfeitamente o fe-nômeno avaliado naquela determinadalocalização (município). As variáveis queapresentam relevância e aderência localmédia são aquelas que não refletem o fe-nômeno e a área analisada perfeitamente,e que talvez possam ser substituídas poroutras variáveis ou ser mantidas pela im-
Tania Moreira Braga_Ana Paula Gonçalves de Freitas_Gabriela de Souza Duarte_Júlio Carepa-Sousa 31
nova Economia_Belo Horizonte_14 (3)_11-33_setembro-dezembro de 2004
possibilidade de substituí-las por outrasmais eficientes. As variáveis de baixa re-levância e aderência local devem ter suainclusão no indicador discutida e substi-tuída por variáveis com maior poder deexplicação. Quanto aos dados, eles foramavaliados segundo sua disponibilidade,cobertura e atualidade. Os dados consi-derados ricos são aqueles de fácil obten-
ção e periodicidade contínua e ampla. Osconsiderados suficientes são aqueles queembora não disponíveis com periodicidadeconstante, podem ser produzidos com ba-se em outros dados de periodicidade maisadequada. Os dados considerados pobressão aqueles cuja obtenção é de extrema di-ficuldade, sendo necessária muitas vezes arealização de pesquisas de campo.
nova Economia_Belo Horizonte_14 (3)_11-33_setembro-dezembro de 2004
Índices de sustentabilidade municipal32
Quadro 4_ Avaliação dos Indicadores
Indicador Relevância Aderência local Dados
Qualidade da água alta média pobre
Qualidade da habitação alta alta rico
Condições de vida alta alta rico
Renda alta alta rico
Saúde e segurança ambiental média média suficiente
Serviços sanitários alta alta rico
Pressão urbana alta média suficiente
Pressão industrial alta média suficiente
Pressão agropecuária alta alta suficiente
Cobertura vegetal alta média suficiente
Autonomia político-administrativa média alta rico
Gestão pública municipal média alta pobre
Gestão ambiental alta alta pobre
Informação e participação média média pobre
Fonte: Elaboração própria.
ACSERALD, H. Discursos dasustentabilidade urbana. RevistaBrasileira de Estudos Urbanose Regionais. Campinas, n. 1,maio 1999.
BARBOSA, F. (Coord.).Impactos antrópicos ebiodiversidade aquática. In:PAULA, João A. et al. Biodiversidade,população e economia: uma região demata atlântica. Belo Horizonte:UFMG/Cedeplar; ECMXC;PADCT/CIAMB, 1997.
BELO HORIZONTE. PrefeituraMunicipal de Belo Horizonte.IQVU: Índice de Qualidade de VidaUrbana. Disponível em:<http://www.pbh.gov.br/smpl/iqvu/iqvu.htm>. Acesso em:9 jan. 2002.
CORRÊA Antônio José L. et al.Estrutura espacial intra-urbana equalidade de vida na regiãometropolitana de Belém. Belém; 2000.Mimeografado.
ESI, 2002. 2002 EnvironmentalSustainability Index – an initiativeof the global leaders of tomorrowenvironmental task force. (Incollaboration with: Yale Centerfor Environmental Law andPolicy Yale University and Centerfor International Earth ScienceInformation Network ColumbiaUniversity). Disponível em:<http://www.ciesin.columbia.edu>.
ESTY, D.; PORTER, M. NationalEnvironmental Performance:measurements and determinants.In: ESTY, D.; CORNELIUS, P.Environmental PerformanceMeasurement: the global report2001-2002. Oxford Press, 2002.
FUNDAÇÃO JOÃOPINHEIRO. Condições de vida nosmunicípios de Minas Gerais: 1970,1980 e 1991. Belo Horizonte:FJP, 1996.
HERCULANO, S. A qualidade devida e seus indicadores. Ambiente& Sociedade, v. 1, n. 2, 1. sem. 1998.
ÍNDICE PAULISTA deResponsabilidade Social. SãoPaulo: Fundação Seade, 2002.
ISLA, Mar. A review of the urbanindicators experience and a proposal toovercome current situation. Theapplication to the municipalitiesof the Barcelona province. (Paperto World Congress ofEnvironmental and ResourceEconomists). Isola de SanGiorgio, Venice, Italy:June 25-27, 1998.
MCGRANAHAN, G.;SATTERTHWAITE, D. Theenvironmental dimensions ofsustainable development forcities. Geography, v. 87, n. 3, 2002.
MILLER, R. B.; SMALL, C. Citiesfrom space: potential applicationsof remote sensing in urbanenvironmental research andpolicy. Environmental Science &
Policy, v. 6, 2003.
PAULA, João A. et al.Biodiversidade, população e economia:uma região de mata atlântica. BeloHorizonte: UFMG/Cedeplar;ECMXC; PADCT/CIAMB, 1997.
PRESCOTT-ALLEN, R.Barometer of sustainability: a methodof assessing progress towardsustainable societies. Victoria:Padata, 1995.
RAMIERI, Emiliano; COGO,Valentina. Indicators of sustainabledevelopment for the city and the lagoonof Venice. (Paper to WorldCongress of Environmental andResource Economists). Isola deSan Giorgio, Venice, Italy: June25-27, 1998.
SAWYER, Donald. Índice dePressão Antrópica (IPA) –Atualização Metodológica.Brasília, 2000. Mimeografado.
TAYLOR, Derek. Usingsustainability indicators to implementlocal Agenda 21. (Paper to WorldCongress of Environmental andResource Economists). Isola deSan Giorgio, Venice, Italy: June25-27, 1998.
URBAN WORLD FORUM, 2002.Reports on dialogues II - sustainableurbanization. Disponível em:<http://www.unchs.org/uf/aii.html>. Acesso em: 13 jun. 2002.
Tania Moreira Braga_Ana Paula Gonçalves de Freitas_Gabriela de Souza Duarte_Júlio Carepa-Sousa 33
nova Economia_Belo Horizonte_14 (3)_11-33_setembro-dezembro de 2004
Referências bibliográficas
As pesquisas que resultaram naredação deste artigo são apoiadaspela FAPEMIG e peloprograma PIE/PELD-CNPq.
E-mail de contato dos autores: