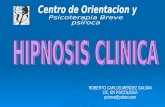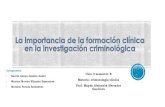e-sample-Kanski-Clinica
-
Upload
elsevier-saude -
Category
Documents
-
view
244 -
download
8
description
Transcript of e-sample-Kanski-Clinica


7ª EDIÇÃO
Oftalmologia Clínica UMA ABORDAGEM SISTEMÁTICA
Jack J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth Honorary Consultant Ophthalmic Surgeon Prince Charles Eye Unit King Edward VII Hospital Windsor, UK
Colaboração de
Ken Nischal FRCOphth Consultant Ophthalmic Surgeon Great Ormond Street Hospital for Sick Childr en London, UK
Andrew Pearson MRCP, FRCOphth Consultant Ophthalmic Surgeon Prince Charles Eye Unit, Windsor, and Royal Berkshire Hospital Reading, UK
Brad Bowling FRCSEd(Ophth), FRCOphth Consultant Ophthalmic Surgeon Blackpool Victoria Hospital Blackpool, UK
C0120.indd iC0120.indd i 5/24/12 8:44:33 AM5/24/12 8:44:33 AM

© 2012 Elsevier Editora Ltda. Tradução autorizada do idioma inglês da edição publicada por Saunders - um selo editorial Elsevier Inc. Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610 de 19/02/1998. Nenhuma parte deste livro, sem autorização prévia por escrito da editora, poderá ser r eprodu-zida ou transmitida sejam quais for em os meios empregados: eletrônicos, mecânicos, fotográfi -cos, gravação ou quaisquer outr os. ISBN: 978-85-352-4555-4
Copyright © 2011, 2007, 2003, 1999, 1994, 1989, 1984, by Saunders, an imprint of Elsevier Inc. This edition of Clinical Ophthalmology: a systematic appr oach by Jack J Kanski and Brad Bowling is published by arrangement with Elsevier Inc. ISBN: 978-0-7020-4093-1
Capa Interface/Sergio Liuzzi
Editoração Eletrônica Thomson Digital
Elsevier Editora Ltda. Conhecimento sem Fronteiras
Rua Sete de Setembro, n° 111 – 16° andar 20050-006 – Centro – Rio de Janeir o – RJ
Rua Quintana, n° 753 – 8° andar 04569-011 – Brooklin – São Paulo – SP
Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 026 53 40 [email protected]
Nota Como as novas pesquisas e a experiência ampliam o nosso conhecimento, pode haver neces-sidade de alteração dos métodos de pesquisa, das práticas pr ofi ssionais ou do tratamento médico. Tanto médicos quanto pesquisador es devem sempre basear-se em sua própria expe-riência e conhecimento para avaliar e empr egar quaisquer informações, métodos, substâncias ou experimentos descritos neste texto. Ao utilizar qualquer informação ou método, devem ser criteriosos com relação a sua própria segurança ou a segurança de outras pessoas, incluindo aquelas sobre as quais tenham r esponsabilidade profi ssional.
Com relação a qualquer fármaco ou pr oduto farmacêutico especifi cado, aconselha-se o leitor a cercar-se da mais atual informação fornecida (i) a respeito dos procedimentos descritos, ou (ii) pelo fabricante de cada pr oduto a ser administrado, de modo a certifi car-se sobre a dose recomendada ou a fórmula, o método e a duração da administração, e as contraindicações. É responsabilidade do médico, com base em sua experiência pessoal e no conhecimento de seus pacientes, determinar as posologias e o melhor tratamento para cada paciente individual-mente, e adotar todas as pr ecauções de segurança apropriadas.
Para todos os efeitos legais, nem a Editora, nem autores, nem editores, nem tradutores, nem revisores ou colaboradores, assumem qualquer r esponsabilidade por qualquer efeito danoso e/ou malefício a pessoas ou pr opriedades envolvendo responsabilidade, negligência etc. de produtos, ou advindos de qualquer uso ou empr ego de quaisquer métodos, pr odutos, instru-ções ou ideias contidos no material aqui publicado.
O Editor
CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ
K24o Kanski, Jack J. Oftalmologia clínica : uma abor dagem sistemática / Jack J. Kanski e Brad Bowling ; [tradução de Alcir Costa Fernandes...et al.]. - Rio de Janeir o : Elsevier, 2012. 920p. : il. ; 28 cm Tradução de: Clinical ophthalmology : a systematic appr oach, (7th ed.) Inclui índice ISBN 978-85-352-4555-4 1. Oftalmologia. I. Bowling, Brad. I. Título. 11-7902. CDD: 617.7
CDU: 617.7
C0125.indd iiC0125.indd ii 5/24/12 8:50:07 AM5/24/12 8:50:07 AM

iii
SUPERVISÃO DA REVISÃO CIENTÍFICA
Ricardo Lima de Almeida Neves Professor Assistente de Oftalmologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeir o
(UERJ) Coordenador da disciplina de Oftalmologia da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ Mestre em Oftalmologia pela Universidade Federal do Rio de Janeir o (UFRJ) Preceptor do Programa de Residência Médica em Oftalmologia da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ
REVISÃO CIENTÍFICA João Gabriel Costa ( Caps. 3, 18 e 19 ) Professor Adjunto de Oftalmologia da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ Livre-docente em Oftalmologia pela UERJ Doutor e Mestre em Oftalmologia pela UFRJ
Luiz Paulo da Veiga Monteiro Lázaro Júnior ( Caps. 7 a 10, 17, 20, 21 e Índice) Médico do Hospital Universitário Pedr o Ernesto (HUPE-UERJ) Especialista em Oftalmologia pelo Conselho Brasileir o de Oftalmologia (CBO) Especialista em Oftalmologia pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO) Diretor Médico da Oftalmoclínica Copacabana, RJ
Marcelo Jarczun Kac ( Caps. 4 a 6 ) Médico do Setor de Glaucoma da UERJ Médico do Setor de Glaucoma da Universidade Federal Fluminense (UFF) Mestre em Ciências Médicas pela UFF
Marcia Brazuna de Castro ( Caps. 13 a 16 ) Médica do Departamento de Retina e Vítr eo do HUPE-UERJ Mestranda pela UFF
Maria Tereza Silveira ( Caps. 11 e 12 ) Médica Coordenadora do Serviço de Uveítes e Aids da Oftalmologia do HUPE-UERJ Ex- Fellow em Doenças Infl amatórias Intraoculares e Oncologia Ocular do Health Center , Mc Gill University, Montreal,
Canadá
Paula Carolina de Morais Ferreira ( Caps. 1 e 2 ) Coordenadora do Setor de Plástica Ocular e V ias Lacrimais no HUPE-UERJ Pós-graduada em Oftalmologia pela UFRJ Fellow no Setor de Plástica Ocular e V ias Lacrimais no Hospital Universitário Antônio Pedro da UFF
TRADUÇÃO
Aberlardo S. Couto Jr. Chefe do Setor de Plástica Ocular , Vias Lacrimais e Órbita do Instituto Benjamin Constant e do Hospital Piedade, RJ Membro Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões Mestre e Doutor em Medicina (Oftalmologia)
Aderbal de Albuquerque Alves Jr . Mestre e Doutor em Oftalmologia pela UFRJ Chefe de Clínica da Oftalmologia do Hospital dos Servidor es do Estado (HSE) RJ Preceptor da Residência em Oftalmologia do HSE, RJ
Alcir Costa Fernandes Filho Detentor do Certifi cate of Profi ciency in English pela University of Michigan, Estados Unidos Tradutor de Inglês/Português pela Universidade Estácio de Sá (Unesa), especializado em textos de Medicina, RJ
Revisão Científi ca e Tradução
C0130.indd iiiC0130.indd iii 5/24/12 8:08:19 PM5/24/12 8:08:19 PM

iv Revisão Científi ca e Tradução
Alexandre Maceri Midão Professor da disciplina de Clínica Cirúr gica da Faculdade de Medicina de Petrópolis, RJ Médico Cirurgião Vascular do Hospital Municipal Souza Aguiar, RJ
Ana Julia Perrotti-Garcia Cirurgiã-dentista pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (USP ) Tradutora Intérprete pelo UniFMU, SP Especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial pela Metodista (Rudge Ramos, SP) Especialista em Tradução pela USP Mestre em Linguística Aplicada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) Doutoranda em Língua Inglesa pela USP
Andrea Delcorso Tradutora pela PUC-SP, especializada em Oftalmologia
Beatriz Alves Simões Corrêa Responsável pelo Setor de Estrabismo do HSE, RJ Doutora em Oftalmologia pela USP-Ribeirão Pr eto Mestra em Oftalmologia pela UFRJ
Caroline Amaral Ferraz Médica Especialista em Oftalmologia pelo CBO Doutoranda do Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo
(EPM-UNIFESP)
Frederico V. de Souza Pena Doutorando do Departamento de Oftalmologia da EPM-UNIFESP
Jacqueline Coblentz Médica Oftalmologista do Hospital Universitário Gaf frée e Guinle da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeir o
(UNIRIO) Mestre em Ciências Médicas pela UFF
Maria Inês Corrêa Nascimento Tradutora bilíngue pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeir o (PUC-Rio)
Mário Martins dos Santos Motta Professor Titular de Oftalmologia da Faculdade de Medicina de T eresópolis, RJ Professor Adjunto de Oftalmologia da UNIRIO Responsável pelo Setor de Retina e Vítr eo do HSE, RJ Doutor pela EPM-UNIFESP
Michael McDougall Bethlem Clinical Fellow em Glaucoma da Universidade da California, Irvine, EUA
Patricia Dias Fernandes Professora Associada de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da UFRJ Pós-doutorado em Imunologia pelo Departamento de Imunologia da USP Mestre e Doutora em Química Biológica pelo Departamento de Bioquímica Médica da UFRJ Biomédica pela UNIRIO
Rafael Rodrigues Torres Biólogo pelo Instituto de Biociências da USP Graduando em Medicina pela USP
Sansão Isaac Kac Chefe do Serviço de Oftalmologia do Hospital Municipal Miguel Couto, RJ Responsável pelo Setor de Oftalmopediatria do HSE, RJ
Sérgio Jesus-Garcia Médico pela Santa Casa de Misericór dia de São Paulo (FCMSCSP) Medical Writer
C0130.indd ivC0130.indd iv 5/24/12 8:08:19 PM5/24/12 8:08:19 PM

v
O objetivo da 7ª edição de Oftalmologia Clínica , assim como das anteriores, é apr esentar os aspectos básicos da prática oftalmológica clínica de forma sistemática e sucinta, para que sirvam como ponto de partida para estudos apr ofundados de tópicos individuais. Tentamos ser abrangentes na inclusão dos avanços fundamentais, com considerável atualização e revisão do texto. A maioria das ilustrações nesta edição é nova e fornece uma visualização mais clara e nítida de muitas condições oculares. Em resposta às solicitações dos estudan-tes em treinamento, a edição atual também traz grande ênfase ao manejo prático, levando em consideração as diversas dire-trizes publicadas e outras fontes abalizadas. O livro é voltado principalmente para o oftalmologista atuante e em tr eina-mento, no entanto, as edições anterior es também foram amplamente utilizadas por outr os profi ssionais de ár eas relacionadas, principalmente os optometristas.
As edições mais r ecentes foram muito benefi ciadas em razão da revisão realizada em cada capítulo por especialistas dos campos r elevantes, mas esta é a primeira na qual um coautor se une a Jack Kanski, de modo a assumir, juntamente com ele, a r esponsabilidade global no livr o. Brad Bowling tem vasta experiência no ensino e no tr einamento de oftal-mologistas, e oferece uma perspectiva nova e valiosa, bem como muita energia ao texto expresso nestas páginas.
Somos extremamente gratos pelas informações e pelos conselhos recebidos de diversos colegas especializados, prin-cipalmente de Andy Pearson, pela r evisão meticulosa das seções sobre doenças anexiais, e de Ken Nischal, pelas suges-tões detalhadas sobre tópicos pediátricos. Também aprecia-mos muito a contribuição de Irina Gout, por sua experiência em fotografi a médica, sem a qual muitas das imagens deste livro não teriam sido viabilizadas. A benevolência de outros colegas e dos departamentos de fotografi a oftalmológica, principalmente de Steven Farley, Tim Cole e Lorraine Rimmer, do Blackpool V ictoria Hospital, em ceder gentilmente o direito de utilização das fotografi as de suas coleções foi muito bem-vinda, e agradecemos a cada um nos créditos individuais. Por fi m, gostaríamos de agradecer o apoio e o comprometimento do staff da Elsevier Science, principal-mente de Russell Gabbedy.
Os autores têm nítida consciência do privilégio do com-prometimento da educação oftalmológica contemporânea. Tentamos envolver o livro - e contagiar o leitor - com nosso entusiasmo pela especialidade.
JJK e BB 2011
Apresentação da 7 ª edição
C0135.indd vC0135.indd v 5/24/12 8:13:32 PM5/24/12 8:13:32 PM

Dedicatória A nossas esposas: Val e Suzanne
C0140.indd viC0140.indd vi 5/24/12 8:54:17 AM5/24/12 8:54:17 AM

vii
Sumário
Apresentação da 7ª edição. . . . . . . . . . v
1 Pálpebras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Introdução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Nódulos e cistos benignos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Tumores epidérmicos benignos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Lesões pigmentadas benignas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Tumores anexiais benignos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Tumores benignos diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Tumores malignos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Alterações dos cílios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Distúrbios alérgicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Infecções bacterianas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Infecções virais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Blefarite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Ptose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Ectrópio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Entrópio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Alterações adquiridas diversas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Cirurgia cosmética palpebral e periocular . . . . . . . . . . 55Malformações congênitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2 Sistema de Drenagem Lacrimal . . . . 65Anatomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Fisiologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Causas de lacrimejamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Avaliação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Obstrução adquirida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Obstrução congênita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Cirurgia lacrimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Canaliculite crônica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Dacriocistite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3 Órbita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Introdução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Doença ocular tireoidiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Infecções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89Doenças infl amatórias não infecciosas . . . . . . . . . . . . 91Malformações vasculares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94Fístula carotideocavernosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95Lesões císticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Tumores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Cavidade anoftálmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Craniossinostoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4 Distúrbios do Olho Seco . . . . . . . . 121Defi nições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Fisiologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Classifi cação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Síndrome de Sjögren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Aspectos clínicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Investigações especiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Tratamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5 Conjuntiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131Introdução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Conjuntivite bacteriana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Conjuntivite viral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142Conjuntivite alérgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144Conjuntivite em doença mucocutânea
bolhosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152Miscelânea de conjuntivites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158Degenerações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
6 Córnea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167Introdução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168Ceratite bacteriana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Ceratite fúngica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180Ceratite por herpes simples. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183Herpes-zóster oftálmico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187Ceratite intersticial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191Ceratite por protozoário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194Doença corneana mediada pela hipersensibilidade
bacteriana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196Rosácea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197Ulceração corneana periférica severa . . . . . . . . . . . . . 199Ceratopatia neurotrófi ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203Ceratopatia por exposição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204Miscelânea de ceratopatias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206Ectasias corneanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210Distrofi as corneanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212Degenerações corneanas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224Ceratopatias metabólicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228Lentes de contato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232Anormalidades congênitas da córnea
e do globo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
7 Cirurgia da Córnea e Refrativa. . . . 239Ceratoplastia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240Ceratopróteses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245Procedimentos refrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
8 Episclera e Esclera . . . . . . . . . . . . 251Anatomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252Episclerite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252Esclerite imunomediada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253Esclerite infecciosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261Alterações na coloração da esclera . . . . . . . . . . . . . . 261Esclera azul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262Condições variadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
9 Cristalino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269Catarata adquirida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270Conduta na catarata relacionada com a idade . . . . . 273Catarata congênita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298Ectopia lentis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304Anormalidades do formato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
C0145.indd viiC0145.indd vii 5/24/12 10:45:37 PM5/24/12 10:45:37 PM

viii Sumário
10 Glaucoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311Introdução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312Tonometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313Gonioscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316Avaliação da cabeça do nervo óptico . . . . . . . . . . . . 323Exames de imagem no glaucoma . . . . . . . . . . . . . . . 327Perimetria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331Hipertensão ocular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338Glaucoma primário de ângulo aberto. . . . . . . . . . . . . 340Glaucoma de pressão normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346Glaucoma primário de ângulo fechado . . . . . . . . . . . 348Classifi cação de glaucoma secundário . . . . . . . . . . . 353Pseudoesfoliação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355Dispersão pigmentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357Glaucoma neovascular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359Rubeose iridis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360Glaucoma infl amatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361Glaucoma associado ao cristalino . . . . . . . . . . . . . . . 364Glaucoma traumático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367Síndrome endotelial iridocorneana . . . . . . . . . . . . . . 368Glaucoma nos tumores intraoculares . . . . . . . . . . . . . 369Glaucoma no crescimento epitelial . . . . . . . . . . . . . . 371Glaucoma na iridosquise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371Glaucoma congênito primário . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372Disgenesia iridocorneana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376Glaucoma em facomatoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382Medicamentos para glaucoma. . . . . . . . . . . . . . . . . . 383Terapia a laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387Trabeculectomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391Cirurgia não penetrante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396Antimetabólitos na cirurgia de drenagem. . . . . . . . . . 397Shunts de drenagem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
11 Uveíte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402Características clínicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402Investigações especiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406Princípios de tratamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410Uveíte intermediária . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413Uveíte nas espondiloartropatias. . . . . . . . . . . . . . . . . 415Uveíte na artrite juvenil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416Uveíte nas enteropatias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420Uveíte na doença renal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422Sarcoidose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422Síndrome de Behçet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426Toxoplasmose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429Toxocaríase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433Outras uveítes parasíticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436Uveíte pela síndrome da imunodefi ciência humana . . . 441Outras uveítes virais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445Uveítes fúngicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447Uveítes bacterianas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450Síndromes dos pontos brancos . . . . . . . . . . . . . . . . . 457Coroidite estromal primária . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464Outras uveítes anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469Outras uveítes posteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
12 Tumores Oculares . . . . . . . . . . . . . 475Tumores epibulbares benignos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 476Tumores epibulbares malignos e pré-malignos . . . . . . 481Tumores da íris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486Cistos da íris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
Tumores do corpo ciliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492Tumores da coroide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496Tumores da retina neural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510Tumores vasculares retinianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520Linfoma intraocular primário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525Tumores do epitélio pigmentar da retina . . . . . . . . . . 527Síndromes paraneoplásicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
13 Doença Vascular da Retina . . . . . . 533Circulação retiniana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534Retinopatia diabética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534Doença oclusiva venosa retiniana . . . . . . . . . . . . . . . 551Doença oclusiva arterial retiniana . . . . . . . . . . . . . . . 559Síndrome ocular isquêmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566Doença hipertensiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567Retinopatia falciforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569Retinopatia da prematuridade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573Macroaneurisma arterial retiniano . . . . . . . . . . . . . . . 576Telangiectasia retiniana primária . . . . . . . . . . . . . . . . 580Doença de Eales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583Retinopatia por radiação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586Retinopatia de Purtscher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586Retinopatia hemorrágica idiopática benigna . . . . . . . 586Retinopatia de Valsalva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588Lipaemia retinalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588Retinopatia em distúrbios sanguíneos . . . . . . . . . . . . 589Anormalidades vasculares congênitas . . . . . . . . . . . . 591
14 Distúrbios Maculares Adquiridos . . . 593Introdução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594Avaliação clínica da doença macular. . . . . . . . . . . . . 595Angiografi a fl uoresceínica de fundo de olho. . . . . . . . 601Angiografi a com indocianina verde . . . . . . . . . . . . . . 608Tomografi a de coerência óptica . . . . . . . . . . . . . . . . . 611Degeneração macular relacionada à idade . . . . . . . . 611Vasculopatia polipoidal da coroide . . . . . . . . . . . . . . 628Buraco macular relacionado à idade . . . . . . . . . . . . . 629Microburaco macular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631Coriorretinopatia serosa central . . . . . . . . . . . . . . . . . 632Edema macular cistoide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633Membrana epimacular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635Miopia degenerativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637Estrias angioides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641Dobras da coroide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643Maculopatia hipotônica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644Síndrome da tração vitreomacular . . . . . . . . . . . . . . . 645Neovascularização da coroide idiopática . . . . . . . . . . 645Retinopatia solar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645
15 Distrofi as Hereditárias de Fundo . . . 647Introdução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648Investigação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648Distrofi as generalizadas de fotorreceptores . . . . . . . . 651Distrofi as maculares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665Distrofi as generalizadas da coroide . . . . . . . . . . . . . . 670Distrofi as vitreorretinianas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674Albinismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681Mancha vermelho-cereja na mácula . . . . . . . . . . . . . 683
16 Descolamento de Retina . . . . . . . . 687Introdução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688Descolamento de retina regmatogênico . . . . . . . . . . . 698
C0145.indd viiiC0145.indd viii 5/24/12 10:45:37 PM5/24/12 10:45:37 PM

Sumário ix
Descolamento de retina tracional . . . . . . . . . . . . . . . 721Descolamento de retina exsudativo . . . . . . . . . . . . . . 722Vitrectomia via pars plana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723
17 Opacidades Vítreas . . . . . . . . . . . . 729Introdução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730Moscas volantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730Hemorragia vítrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730Hialose asteroide (doença de Benson) . . . . . . . . . . . 730Sínquise cintilante (cholesterolosis bulbi) . . . . . . . . . 730Amiloidose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730Cisto vítreo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733
18 Estrabismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735Introdução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736Ambliopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745Avaliação clínica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746Heteroforia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765Anormalidades da vergência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765Esotropia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765Exotropia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771Síndromes especiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772Padrões alfabéticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774Cirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778
19 Neuroftalmologia . . . . . . . . . . . . . . 783Neuroimagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784Nervo óptico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789
Refl exos pupilares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812Quiasma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816Vias retroquiasmáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827Nervos motores oculares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830Alterações supranucleares da motilidade ocular . . . . 838Nistagmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841Estenose de carótida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846Aneurismas intracranianos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847Miopatias oculares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849Neurofi bromatose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854Enxaqueca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855Espasmo facial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859
20 Efeitos Colaterais Oculares de Medicações Sistêmicas. . . . . . . . . 861Córnea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862Cristalino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863Uveíte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863Retina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864Nervo óptico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868
21 Trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871Trauma das pálpebras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872Fraturas orbitárias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873Trauma do globo ocular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877Lesões químicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891
Índice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897
C0145.indd ixC0145.indd ix 5/24/12 10:45:37 PM5/24/12 10:45:37 PM

C0145.indd xC0145.indd x 5/24/12 10:45:37 PM5/24/12 10:45:37 PM

Capítulo
INTRODUÇÃO 132 Anatomia 132 Histologia 132 Achados clínicos e infl amação da
conjuntiva 132
CONJUNTIVITE BACTERIANA 135 Conjuntivite bacteriana aguda 135 Conjuntivite por clamídia em adulto 137 Tracoma 139 Conjuntivite neonatal 139
CONJUNTIVITE VIRAL 142 Conjuntivite por adenovírus 142 Conjuntivite por molusco contagioso 143
CONJUNTIVITE ALÉRGICA 144 Conjuntivite alérgica aguda 144 Conjuntivite alérgica sazonal e
perene 144 Ceratoconjuntivite vernal 145 Ceratoconjuntivite atópica 147 Tratamento de CCV e CCA 150 Conjuntivite papilar gigante (induzida
mecanicamente) 151
CONJUNTIVITE EM DOENÇA MUCOCUTÂNEA BOLHOSA 152 Membrana mucosa penfi goide 152 Síndrome de Stevens-Johnson/necrólise
epidérmica tóxica (Síndrome de Lyell) 154
MISCELÂNEA DE CONJUNTIVITES 158 Ceratoconjuntivite limbar superior 158 Conjuntivite lenhosa 160 Síndrome oculoglandular de
Parinaud 162 Conjuntivite fi ctícia 162
DEGENERAÇÕES 162 Pinguécula 162 Pterígio 163 Litíases 163 Conjuntivocálase 165 Cisto de retenção (inclusão
epitelial) 165
Conjuntiva 5
C0025.indd 131C0025.indd 131 5/16/12 5:07:44 PM5/16/12 5:07:44 PM

132Oftalmologia Clínica
INTRODUÇÃO
Anatomia
A conjuntiva é uma membrana mucosa transpar ente que recobre a superfície interna das pálpebras e a superfície do globo até o limbo. É ricamente vascularizada, suprida pelas artérias ciliar anterior e palpebral. Há uma densa r ede linfá-tica, com drenagem para os nódulos pré-auricular e subman-dibular, que corr espondem àqueles das pálpebras. T em papel-chave de proteção, mediando tanto a imunidade ativa quanto a passiva. Anatomicamente, é subdividida da seguinte maneira:
1. A conjuntiva palpebral começa na junção mucocutânea das margens palpebrais e está fi rmemente aderida às placas tarsais posteriores. Observam-se os vasos sanguí-neos tarsais subjacentes, passando verticalmente a partir da margem palpebral e do fórnice.
2. A conjuntiva forniceal é frouxa e redundante, podendo ser formada em dobras.
3. A conjuntiva bulbar cobre a esclera anterior e é contínua com o epitélio corneano no limbo. Sulcos radiais no limbo formam as paliçadas de Vogt. O estroma está frouxamente aderido à cápsula de Tenon subjacente, exceto no limbo, onde as duas camadas se fundem. Uma pr ega semilunar (dobra semilunar) está pr esente nasalmente, à qual se encontra medialmente um nódulo grande (carúncula), que consiste em um tecido cutâneo modifi cado contendo folículos pilosos, glândulas lacrimais acessórias, glându-las sudoríparas e sebáceas.
Histologia
1. O epitélio é não queratinizado e apr esenta uma profundi-dade de cer ca de cinco camadas de células ( Fig. 5.1 ). As células basais cuboides evoluem para células poliedrais acha-tadas antes de ser em projetadas da superfície. As células caliciformes estão localizadas no epitélio e são mais densas inferonasalmente e nos fórnices.
2. O estroma (substância própria) consiste em tecido conec-tivo frouxo ricamente vascularizado. A camada adenoide superfi cial não se desenvolve até apr oximadamente três
meses após o nascimento, daí a incapacidade do recém-nascido em produzir reação conjuntival folicular. As camadas fi brosas profundas se fundem com as placas tarsais. As glândulas lacrimais acessórias de Krause e Wolfring estão localizadas profundamente no estroma. O muco das células caliciformes e as secr eções das glându-las lacrimais acessórias são componentes essenciais do fi lme lacrimal.
3. Conjuntiva associada a tecido linfoide (CALT) é uma condição crítica no início e na r egulação das r espostas imunológicas da superfície ocular . Consiste em linfóci-tos nas camadas epiteliais, em linfáticos e vasos sanguí-neos associados, com um componente estr omal difuso de linfócitos e células plasmáticas, incluindo agr egados foliculares.
Achados clínicos e infl amação da conjuntiva
Sintomas Os sintomas não específi cos incluem lacrimejamento, sensa-ção de areia, pontada e queimação. Prurido é a marca carac-terística de doença alér gica, apesar de poder ocorr er em menor escala na blefarite e no olho seco. Dor signifi cativa, fotofobia ou uma sensação acentuada de corpo estranho sugerem envolvimento corneano.
Secreção 1. Secreção aquosa é composta de exsudato ser oso e lágri-
mas; ocorre em conjuntivites virais ou alér gicas agudas. 2. Secreção mucoide é típica da conjuntivite alérgica crônica
e olho seco. 3. Secreção mucopurulenta ocorre tipicamente na infecção
bacteriana aguda ou por clamídia ( Fig. 5.4C ). 4. Secreção moderadamente purulenta ocorre na conjunti-
vite bacteriana aguda. 5. Secreção purulenta grave é típica da infecção gonocócica
( Fig. 5.4D ).
Reação conjuntival 1. Hiperemia (“injeção”), que é difusa, vermelha como
carne e, quando mais intensa e afastada do limbo, é típica de infecção bacteriana ( Fig. 5.2A ).
2. Hemorragias ( Fig. 5.2B ) podem ocorrer com conjuntivite viral e, ocasionalmente, bacteriana.
3. Quemose (edema conjuntival) pode ocorr er quando a infl amação intensa produz edema translúcido ( Figs. 5.2C e 5.11 ), que, se grave, pode ser pr ojetado através das pálpebras fechadas. A quemose aguda usualmente indica uma r esposta de hipersensibilidade, enquanto edema crônico sugere constrição do fl uxo de drenagem orbital.
4. Membranas a. Pseudomembranas consistem em exsudato coagulado
aderente ao epitélio conjuntival infl amado ( Fig. 5.2D ). Elas podem ser “descascadas” facilmente, deixando o epitélio subjacente intacto ( Fig. 5.23B ).
b. Membranas verdadeiras envolvem as camadas super-fi ciais do epitélio conjuntival, de modo que a remoção leva ao rompimento ou lacrimejamento.
Fig. 5.1 Histologia da conjuntiva (Cortesia de J Harry)
C0025.indd 132C0025.indd 132 5/16/12 5:07:45 PM5/16/12 5:07:45 PM

133Conjuntiva 5C A P Í T U L O
B
D
F
A
C
E
Fig. 5.2 Sinais de infl amação conjuntival. (A) Injeção; (B) hemorragias; (C) quemoses; (D) pseudomembrana; (E) infi ltração; (F) cicatriz subconjuntival (Cortesia de P Saine — fi g. A; S Tuft — fi g. B; M Jager — Fig. F).
C0025.indd 133C0025.indd 133 5/16/12 5:07:46 PM5/16/12 5:07:46 PM

134Oftalmologia Clínica
c. Causas • Conjuntivite adenoviral grave. • Conjuntivite gonocócica. • Conjuntivite lenhosa. • Síndrome de Stevens-Johnson aguda. • Infecção bacteriana ( Streptococcus spp. , Corynebac-
terium diphtheriae ). A distinção entre uma membrana verdadeira e uma pseu-
domembrana é raramente útil clinicamente, e ambas podem levar à formação de cicatriz após a r esolução.
5. A infi ltração representa recrutamento celular para o local da infl amação crônica e, tipicamente, acompanha uma resposta papilar. É reconhecida pela perda do detalhe dos vasos conjuntivais tarsais normais, especialmente sobre a pálpebra superior ( Fig. 5.2E ).
6. Cicatrização subconjuntival ( Fig. 5.2F ) pode ocorrer no tracoma e em outros tipos de conjuntivite cicatrizante. A formação de cicatriz acentuada está associada à perda de células caliciformes e glândulas lacrimais acessórias, podendo levar a entrópio cicatricial.
7. Folículos a. Sinais. Múltiplas lesões discr etas, levemente eleva-
das, semelhantes a grãos de arr oz translúcidos, mais proeminentes nos fórnices ( Fig. 5.3A ). Os vasos san-guíneos correm ao redor ou sobre as lesões, e não no interior delas.
b. A histologia mostra um centr o germinal linfoide subepitelial com linfócitos imaturos centrais e células maduras perifericamente ( Fig. 5.3B ).
c. As causas incluem conjuntivite viral e por clamídia, síndrome oculoglandular de Parinaud e hipersensibi-lidade a medicamentos tópicos. Pequenos folículos são normalmente encontrados na infância (foliculose),
assim folículos estão nos fórnices e na mar gem da placa tarsal superior em adultos.
8. Papilas podem se desenvolver somente na conjuntiva palpebral e na conjuntiva bulbar do limbo, onde estão aderidas à camada fi brosa mais profunda. a. Sinais
• Em contraste com os folículos, um núcleo vascular está presente.
• Micropapilas formam um padrão como mosaico de pontos vermelhos elevados, r esultantes do canal vascular central (ver Fig. 5.12A ).
• Macropapilas ( < 1 mm — Fig. 5.3C ) e papilas gigan-tes ( > 1 mm) se desenvolvem com infl amação prolongada.
• Coloração apical com fl uoresceína ou a pr esença de muco entre papilas gigantes ( Fig. 5.12C ) indica doença ativa.
• Papilas limbares têm aparência gelatinosa ( Fig. 5.13 ). b. Histologia mostra dobras de epitélio conjuntival
hiperplásico com um núcleo fi brovascular e infi ltra-ção estromal subepitelial com células infl amatórias ( Fig. 5.3D ). Alterações tardias incluem hialinização estromal superfi cial, cicatrização e a formação de criptas contendo células caliciformes.
c. Causas incluem conjuntivite bacteriana, conjuntivite alérgica, blefarite marginal crônica, uso de lentes de contato, ceratoconjuntivite limbar superior e sín-drome de pálpebra superior fl ácida.
Linfadenopatia A causa mais comum de linfadenopatia associada a conjun-tivite é infecção viral. Também pode ocorrer na conjuntivite
B
D
A
C
Fig. 5.3 (A) Folículos conjuntivais; (B) histologia de um folículo mostra dois centros subepiteliais germinativos com linfócitos imaturos centralmente e células maduras perifericamente; (C) macropapilas conjuntivais; (D) histologia de uma papila mostra dobras do epitélio conjuntival hiperplásico com um núcleo fi brovascular e infi ltração estromal subepitelial com células infl amatórias (Cortesia de S Tuft — fi gs. A e C; J Harry — fi gs. B e D).
C0025.indd 134C0025.indd 134 5/16/12 5:08:07 PM5/16/12 5:08:07 PM

135Conjuntiva 5C A P Í T U L O
por clamídia, conjuntivite bacteriana grave (especialmente gonocócica) e síndr ome oculoglandular de Parinaud. A cadeia pré-auricular é, frequentemente, afetada.
CONJUNTIVITE BACTERIANA
Conjuntivite bacteriana aguda
A conjuntivite bacteriana aguda é uma condição comum e, em geral, autolimitada, causada pelo contato dir eto do olho com secreções infectadas. As bactérias mais comuns isoladas são S. pneumoniae, S. aur eus, H. infl uenzae e Moraxella catar-rhalis . Uma minoria de casos, usualmente grave, é causada pelo organismo sexualmente transmissível, Neisseria gonorr-hoeae , que pode pr ontamente invadir o epitélio corneano intacto. Conjuntivite meningocócica ( Neisseria meningitidis ) é rara e, geralmente, acomete crianças.
Diagnóstico 1. Sintomas
• Início agudo de vermelhidão, sensação de areia, quei-mação e secreção.
• Envolvimento é em geral bilateral, apesar de um olho poder ser afetado 1-2 dias antes do outr o.
• Ao despertar, as pálpebras estão frequentemente ade-ridas, e pode ser difícil abri-las.
• Sintomas sistêmicos podem ocorrer em pacientes com conjuntivite grave associada a gonococcus, meningococcus, Chlamydia e H. infl uenzae .
2. Sinais são variáveis e dependem da gravidade da infecção. • Edema e eritema palpebral podem ocorrer na infecção
grave, particularmente gonocócica ( Fig. 5.4A ). • Injeção conjuntival conforme previamente descrito
( Figs. 5.4B e 5.2A ). • A secreção pode inicialmente ser aquosa, mimeti-
zando conjuntivite viral; porém, rapidamente torna-se mucopurulenta ( Fig. 5.4C ).
• Secreção mucopurulenta hiperaguda pode signifi car conjuntivite gonocócica ou meningocócica ( Fig. 5.4D ).
• Erosões epiteliais puntiformes corneanas superfi ciais são comuns.
• Ulceração corneana periférica pode ocorrer na infec-ção gonocócica e meningocócica ( Fig. 5.4E ), podendo progredir, rapidamente, para perfuração.
• Linfadenopatia está usualmente ausente, exceto em infecções gonocócica e meningocócica graves.
3. Investigações não são realizadas rotineiramente; porém, podem estar indicadas nas seguintes situações • Nos casos graves, os swabs conjuntivais bilaterais e os
raspados devem ser enviados com ur gência para coloração de Gram, particularmente para excluir infecção gonocócica e meningocócica (diplococos intracelulares em forma de rim, gram-negativos — Fig. 5.4F ).
• Cultura em meio enriquecido como ágar-chocolate ou Thayer-Martin para N. gonorrhoeae.
• Reação em cadeia da polimerase (PCR) pode ser necessária para casos menos graves que não respondam ao tratamento, particularmente para
descartar a possibilidade de infecção viral ou por clamídia.
Tratamento Cerca de 60% dos casos solucionam-se em cinco dias, sem tratamento.
1. Antibióticos tópicos (quatro vezes ao dia por até uma semana) são frequentemente administrados para acelerar a recuperação e pr evenir reinfecção e transmissão. Não há evidência de que qualquer antibiótico em particular seja mais efetivo. Pomada e gel pr oporcionam uma concentra-ção mais elevada por períodos mais longos do que colírios; porém, o uso durante o dia é limitado em razão da visão borrada. Os seguintes antibióticos estão disponíveis: • Cloranfenicol, aminoglicosídeos (gentamicina e neo-
micina), quinolonas (cipr ofl oxacina, ofl oxacina, levo-fl oxacina, lomefl oxacina, gatifl oxacina e moxifl oxacina), polimixina B, ácido fusídico e bacitracina.
• Alguns médicos acreditam que o cloranfenicol não deve ser utilizado para tratamento de rotina em razão da possível ligação com anemia aplásica.
• Conjuntivites gonocócica e meningocócica devem ser tratadas com quinolona, gentamicina, cloranfenicol ou bacitracina a cada 1-2 horas e também com terapia sistêmica (ver a seguir).
2. Antibióticos sistêmicos são necessários nas seguintes situações: a. Infecção gonocócica é usualmente tratada com uma
cefalosporina de ter ceira geração, como ceftriaxone; quinolonas e alguns macr olídeos são as alternativas. É aconselhável solicitar a opinião de um micr obiolo-gista e/ou especialista genitourinário.
b. Infecção por H. infl uenzae , particularmente em crian-ças, é tratada com amoxicilina com ácido clavulânico oral em função de haver 25% de risco de desenvolvi-mento de otite e outr os problemas sistêmicos.
c. Conjuntivite meningocócica , particularmente em crianças nas quais a profi laxia sistêmica precoce pode salvar vidas, já que mais de 30% desenvolvem doença sistêmica invasiva. As opiniões de um pediatra e de um infectologista devem ser ouvidas, porém, em caso de dúvida, o tratamento com benzilpenicilina, cef-triaxone ou cefotaxima intramuscular ou cipr ofl oxa-cina oral não deve ser r etardado.
d. Celulite pré-septal ou orbitária ( Cap. 3 ). 3. Esteroides tópicos podem reduzir a cicatrização na con-
juntivite membranosa e pseudomembranosa, apesar de a evidência de seu uso não estar esclar ecida.
4. Irrigação para remover secreção excessiva pode ser útil em casos hiperpurulentos.
5. Uso de lentes de contato deve ser suspenso até pelo menos 48 horas após a resolução completa dos sintomas. As lentes de contato não devem ser utilizadas durante o tratamento com antibiótico tópico.
6. Risco de transmissão deve ser reduzido pela lavagem das mãos e evitando-se compartilhar toalhas.
7. A revisão é desnecessária para a maioria dos casos leves/moderados em adultos, embora os pacientes devam ser aconselhados a pr ocurar nova avaliação caso ocorra piora.
8. Notifi cação obrigatória às autoridades de saúde pública pode ser necessária na r egião em alguns casos.
C0025.indd 135C0025.indd 135 5/16/12 5:08:14 PM5/16/12 5:08:14 PM

136Oftalmologia Clínica
B
D
A
C
FE
Fig. 5.4 Conjuntivite bacteriana. (A) Edema palpebral e eritema na infecção grave; (B) injeção conjuntival difusa envolvendo conjuntiva tarsal e forniceal; (C) secreção mucopurulenta; (D) secreção purulenta profusa; (E) ulceração corneana superior; (F) coloração de Gram mostra diplococos em forma de rim (Cortesia de S Tuft — fi g. E; S Lewellen — fi g. F)
C0025.indd 136C0025.indd 136 5/16/12 5:08:14 PM5/16/12 5:08:14 PM

Capítulo
INTRODUÇÃO 648
INVESTIGAÇÃO 648 Eletrorretinograma 648 Eletro-oculograma 649 Adaptação ao escuro 650 Testes de visão de cores 650
DISTROFIAS GENERALIZADAS DE FOTORRECEPTORES 651 Retinite pigmentosa típica 651 Retinite pigmentosa atípica 654 Associações sistêmicas importantes 654 Distrofi a progressiva de cones 656 Amaurose congênita de Leber 656 Doença de Stargardt e fundus
fl avimaculatus 657 Distrofi a corneorretiniana cristalina
de Bietti 660 Síndrome de Alport 661 Retina manchada familiar benigna 661 Atrofi a coriorretiniana paravenosa
pigmentada 661 Cegueira noturna estacionária
congênita 662 Monocromatismo congênito
(acromatopsia) 664
DISTROFIAS MACULARES 665 Distrofi a macular juvenil de Best 665 Lesões viteliformes multifocais sem
doença de Best 665
Distrofi a padrão 665 Distrofi a macular da Carolina
do Norte 667 Drusas familiares dominantes 668 Distrofi a pseudoinfl amatória de
Sorsby 669 Distrofi a macular anular concêntrica
benigna 669 Distrofi a areolar central de coroide 670 Edema macular cistoide dominante 670 Síndrome de Sjögren-Larsson 670 Distrofi a familiar da membrana limitante
interna 670
DISTROFIAS GENERALIZADAS DA COROIDE 670 Coroideremia 670 Atrofi a girata 671 Distrofi a generalizada da coroide 674 Atrofi a coriorretiniana bifocal
progressiva 674
DISTROFIAS VITREORRETINIANAS 674 Retinosquise juvenil ligada ao X 674 Síndrome de Stickler 675 Síndrome de Wagner 676 Vitreorretinopatia exsudativa familiar 678
Síndrome do cone-S aumentado e síndrome de Goldman-Favre 678
Degeneração vitreorretiniana em fl ocos de neve 679
Vitreorretinopatia infl amatória neovascular dominante 679
Vitreorretinocoroidopatia dominante 681 Displasia de Kniest 681
ALBINISMO 681 Introdução 681 Albinismo oculocutâneo tirosinase-
-negativo 682 Albinismo oculocutâneo tirosinase-
-positivo 683 Albinismo ocular 683
MANCHA VERMELHO-CEREJA NA MÁCULA 683 Patogênese 683 Gangliosidose GM1 (generalizada) 684 Mucolipidose tipo I (sialidose) 684 Gangliosidose GM2 684 Doença de Niemann-Pick 684 Doença de Farber 685
Distrofi as Hereditárias de Fundo 15
C0075.indd 647C0075.indd 647 5/22/12 10:53:23 AM5/22/12 10:53:23 AM

648Oftalmologia Clínica
INTRODUÇÃO
Anatomia aplicada As distrofi as hereditárias de fundo são um gr upo de desor-dens raras, porém importantes, que envolvem primariamente a retina externa (complexo fotorr eceptor-EPR) e seu supri-mento sanguíneo (coriocapilar). Não é comum a r etina interna ou os vasos retinianos serem o alvo primário. Existem dois tipos de células fotorr eceptoras:
1. Os bastonetes são os mais numerosos (120 milhões) e sua maior concentração está na média periferia da retina. São mais sensíveis na penumbra e são responsáveis pela visão periférica e noturna. Se a disfunção de bastonetes ocorr e mais precocemente ou é mais grave que a disfunção de cones, o resultado será baixa visão noturna (nictalopia) e perda de campo periférico, sendo que o primeir o geral-mente acontece antes.
2. Os cones são menos numer osos (6 milhões) e sua maior concentração é na fóvea. São mais sensíveis à luz bri-lhante e são r esponsáveis pela visão diurna, visão de cores e acuidade visual central. Logo, a disfunção de cones resulta em baixa visual central, compr ometimento da visão de cores (discromatopsia) e ocasionalmente pro-blemas na visão diurna (hemeralopia).
Herança 1. As distrofi as autossômicas dominantes (AD) têm expres-
são variável, se manifestam tar diamente e apr esentam curso mais brando que as desor dens recessivas.
2. As distrofi as recessivas podem ser autossômicas (AR) ou ligadas ao X (XL). Apresentam-se mais pr ecocemente e de forma mais grave que as distr ofi as AD. Em alguns casos, mulheres portadoras de condições XL apresentam achados característicos à fundoscopia (ver a seguir).
3. As condições dominantes ligadas ao X são extremamente raras e tipicamente letais em meninos (p. ex., síndr ome de Aicardi).
Classifi cação As distrofias podem ser subdivididas em dois gr upos principais: (a) generalizadas quando acometem todo o fundo e (b) localizadas , quando só a mácula é acometida. A subclassificação de cada uma se baseia no local pr esu-mido de acometimento primário (p. ex., fotorr eceptores, EPR ou coroide).
INVESTIGAÇÃO
Eletrorretinograma
Princípios O eletrorretinograma (ERG) é o r egistro de um potencial de ação produzido pela retina, quando esta é estimulada por luz de intensidade adequada. O registro é feito entre um eletrodo ativo em contato com a córnea ou um eletr odo na pele colo-cado logo abaixo da mar gem palpebral inferior, e um ele-trodo de r eferência colocado na testa. O potencial entr e os
dois eletrodos é então amplifi cado e registrado ( Fig. 15.1 ). O ERG normal é bifásico ( Fig. 15.2 ).
1. A onda a é a defl exão negativa inicial, rápida, gerada pelos fotorreceptores.
2. A onda b é a defl exão seguinte, lenta, positiva de grande amplitude. Apesar de ser gerada pelo fl uxo de íons potássio no interior e ao redor das células de Müller, depende dire-tamente de fotorreceptores funcionais e sua magnitude é uma forma conveniente de medir a integridade dos fotor -receptores. A amplitude da onda b é medida da depr essão
Amplificador
Onda b
Eletrodo de referência
Onda a
Eletrodo ativo
Fig. 15.1 Princípios do eletrorretinograma
Receptores Células bipolares
Onda bOnda a
Células de Müller
Fig. 15.2 Componentes e origens do eletrorretinograma
C0075.indd 648C0075.indd 648 5/22/12 10:53:24 AM5/22/12 10:53:24 AM

649Distrofi as Hereditárias de Fundo 15C A P Í T U L O
da onda a ao pico da onda b, e aumenta tanto com a adap-tação ao escuro quanto com estímulo luminoso de maior intensidade. A onda b consiste em subcomponentes b-1 e b-2; o primeiro provavelmente representa tanto a atividade de cones quanto de bastonetes, e o segundo principalmente a atividade de cones. Através de técnicas especiais, é possí-vel separar as respostas de cones e bastonetes.
ERG padrão O ERG normal consiste em cinco registros ( Fig. 15.3 ). Os três primeiros são obtidos após 30 minutos de adaptação ao escuro (escotópica) e os dois últimos após dez minutos de adaptação à iluminação difusa intensa (fotópica). Pode ser difícil fazer a adaptação ao escur o por 30 minutos em crian-ças e, portanto, podem ser utilizadas condições de penumbra (mesópicas) para evocar pr edominantemente as r espostas mediadas por bastonetes ao estímulo de luz azul ou branca de baixa intensidade.
1. ERG escotópico a. A resposta dos bastonetes pode ser obtida com um
fl ash de luz azul ou branca de baixa intensidade, resultando em onda b grande e onda a pequena ou não registrável.
b. A resposta combinada de cones e bastonetes é obtida com um fl ash de luz branca de grande intensidade, resultando em ondas a e b pr oeminentes.
c. Os potenciais oscilatórios são obtidos usando-se um fl ash de luz forte e mudando-se os parâmetr os de registro. As pequenas ondas oscilatórias ocorr em no limbo ascendente da onda b e são geradas por células na retina interna.
2. ERG fotópico a. A resposta dos cones é obtida com um único fl ash de
luz intensa, r esultando em onda a e onda b com pequenas oscilações.
b. O fl icker de cones é usado para isolar os cones, utili-zando estímulo luminoso piscando na fr equência de 30 Hz, à qual os bastonetes não r espondem. Fornece medida da amplitude e o tempo implícito da onda b dos cones. A resposta dos cones em olhos normais pode ser obtida com até 50 Hz, sendo que acima desta frequência as r espostas individuais não são mais registráveis (fusão crítica do fl icker ).
ERG multifocal O ERG multifocal é o método que pr oduz mapas topográfi -cos da função r etiniana ( Fig. 15.4 ). O estímulo é r epresen-tado em escala considerando a variação na densidade de fotorreceptores através da r etina. Na fóvea, onde a densi-dade dos receptores é alta, usa-se estímulo mais baixo que na periferia, onde a densidade dos r eceptores é menor . Assim como no ERG convencional, podem-se fazer vários tipos de medidas. T anto a amplitude quanto o tempo dos picos e depr essões podem ser medidos e r egistrados, e a informação pode ser sintetizada na forma de um gráfi co tridimensional que lembra a ilha de visão. Esta técnica pode ser utilizada em praticamente todos os distúrbios que afetam a função da retina.
Eletro-oculograma
1. Princípios. O eletro-oculograma (EOG) mede o potencial de repouso entre a córnea, eletricamente positiva, e a parte posterior do globo ocular , eletricamente negativa ( Fig. 15.5 ). Refl ete a atividade do EPR e dos fotorrecepto-res. Isto signifi ca que olhos cegos por lesões pr oximais aos fotorreceptores apresentarão EOG normal. Geral-mente, é necessária doença difusa ou extensa do EPR para que a resposta seja afetada de forma signifi cativa.
2. Interpretação. Como existe grande variação na amplitude do EOG em indivíduos normais, o r esultado é calculado dividindo-se a altura máxima do potencial na luz ( light peak ) pela altura mínima do potencial no escur o ( dark trough ). Este valor se expr essa como índice (índice de Arden) ou percentagem. O valor normal é acima de 1,85 ou 185%.
0
25 250 deg
2 4 6 8 10 1260 ms
1µV
nV/deg2
Fig. 15.4 Eletrorretinograma multifocal
Bastonetes
Combinado
Oscilatório
Cones
Flicker decones
5ms/div
Fig. 15.3 Registros normais do eletrorretinograma
C0075.indd 649C0075.indd 649 5/22/12 10:53:29 AM5/22/12 10:53:29 AM

650Oftalmologia Clínica
Adaptação ao escuro
1. Princípios. A adaptação ao escuro (AE) é o fenômeno através do qual o sistema visual (pupila, r etina e córtex occipital) se adapta à diminuição da intensidade da luz. Este teste é par -ticularmente útil na investigação de nictalopia. A retina é exposta à luz intensa por tempo sufi ciente para ativar 25% ou mais da r odopsina na retina. Após este tempo, os bas-tonetes normais fi cam insensíveis à luz e os cones só r es-pondem a estímulos luminosos de grande intensidade. A recuperação subsequente da sensibilidade à luz pode ser monitorada colocando-se o indivíduo no escur o e, periodi-camente, mostrando pontos de luz no campo visual de intensidade variável e perguntando se estes são percebidos.
2. Técnica de adaptometria de Goldmann-Weekes a. O paciente é exposto à luz intensa que sensibiliza os
fotorreceptores, e então colocado subitamente no escuro.
b. O limiar no qual a pessoa começa a per ceber a luz é registrado.
c. Os fl ashes são r epetidos em intervalos r egulares; a sensibilidade do olho à luz aumenta gradualmente.
3. A curva de sensibilidade é a r epresentação em um gráfi co da intensidade luminosa de um ponto minima-mente perceptível versus tempo e é dividida em duas partes ( Fig. 15.6 ). a. A fase da curva r elacionada aos cones representa os
5-10 minutos iniciais no escur o, durante os quais ocorre a melhora rápida da sensibilidade dos cones. Os bastonetes também estão se r ecuperando nesta fase, porém mais lentamente.
b. A divisão cone-bastonete normalmente acontece após 7-10 minutos, quando os cones atingem a sensibili-dade máxima, e os bastonetes se tornam per ceptivel-mente mais sensíveis que os cones.
c. A fase da curva r elacionada aos bastonetes é mais lenta e representa a continuação da melhora da sensi-bilidade dos bastonetes. Após 15-30 minutos, os basto-netes estão totalmente adaptados ao escuro e permitem ao indivíduo per ceber um ponto de luz 100 vezes menos intenso do que seria capaz apenas com os cones. Se os fl ashes são focados na fovéola (onde os bastone-tes estão ausentes), apenas um rápido segmento cor -respondente à adaptação dos cones é r egistrado.
Teste de visão de cores
O teste de visão de cores (VC) é geralmente útil na avaliação clínica das distrofi as hereditárias de fundo, onde a discroma-topsia pode estar presente antes da diminuição da acuidade visual e perda de campo visual.
Princípios A VC é a função de três populações de cones da r etina, cada uma com sensibilidade específi ca; azul (tritano) entr e 414-424 nm; verde (deuterano) entre 522-539 nm e vermelha (protano) entre 549-570 nm.
• Um indivíduo normal r equer estas três cor es primárias para equiparar com as cor es do espectro. Qualquer um dos pigmentos dos cones pode estar defi ciente (p. ex., protanomalia — defi ciência para o vermelho) ou total-mente ausente (p. ex., protanopia — cegueira para o ver-melho). Tricomatas possuem todos os três tipos de cones (embora possam não funcionar perfeitamente), enquanto que a ausência de um ou dois tipos de cones torna o indivíduo dicromata ou monocromata, respectivamente.
• Em sua maioria, os indivíduos com defeitos congênitos na visão de cor es são tricomatas anômalos e usam pr o-porções anormais das três cor es primárias para corr es-ponder às do espectro luminoso.
• Os que apresentam defi ciência verde-vermelho causada por anomalias nos cones sensíveis ao vermelho são pr o-tanômalos, enquanto que os que apresentam anormalida-des nos cones sensíveis ao ver de são deuteranômalos e os que apr esentam defi ciência azul-verde causada por anomalias nos cones sensíveis ao azul são tritanômalos.
Escuro Claro
Deflexão de escuro Pico de luz
x 100 = 185%Pico de luz
Deflexão deescuro
+
–
Fig. 15.5 Princípios do eletro-oculograma (Cortesia de M Parluekar)
-7
-6
-5
-4
-3
10 20 30
Lum
inância
lim
iar
(unid
ad
e lo
g)
Minutos no escuro
Visão mesópica
Visão escotópica
Sem percepção visual
Tempo de
recuperação
bastonetes-cones
Recuperação da sensibilidade de cones/visão
fotópica
Recuperação da sensibilidade de
bastonetes
Fig. 15.6 Curva de adaptação ao escuro
C0075.indd 650C0075.indd 650 5/22/12 10:53:30 AM5/22/12 10:53:30 AM

651Distrofi as Hereditárias de Fundo 15C A P Í T U L O
Doenças maculares adquiridas tendem a pr oduzir defei-tos azul-amarelo e as lesões no nervo óptico pr oduzem defeitos verde-vermelho.
Testes de visão de cores 1. O teste de Ishihara é usado principalmente na triagem de
defeitos congênitos pr otanos e deuteranos. Consiste em uma placa teste seguida de 16 outras placas, cada uma com uma matriz de pontos organizados de modo a formar uma imagem ou númer o no centro, que o paciente deve identifi car ( Fig. 15.7A ). Um indivíduo com defi ciência de cores só será capaz de identifi car algumas fi guras. A inca-pacidade de identifi car a placa teste (desde que a acuidade visual seja sufi ciente) indica perda visual não orgânica.
2. O teste de Hardy-Rand-Rittle é semelhante ao de Ishi-hara, porém mais sensível, uma vez que detecta os três defeitos de cores congênitos ( Fig. 15.7B ).
3. O teste City University consiste em dez placas, cada uma contendo uma cor central e quatr o cores periféricas ( Fig. 15.7C ). O indivíduo seleciona as cor es periféricas que mais se assemelham à cor central.
4. O teste de Farnsworth-Munsell de 100 matizes é o mais sensível para defeitos de cor es congênitos e adquiridos, porém é raramente usado na prática clínica. Apesar do nome, consiste em 85 peças com matizes divididas em quatro fi leiras separadas, em cada uma das quais duas peças das extr emidades são fi xas enquanto as outras estão soltas, de forma que o examinador pode arrumá-las aleatoriamente ( Fig. 15.7 ). a. Pede-se ao indivíduo para reagrupar as peças aleató-
rias “na sua ordem natural” em uma caixa. b. A caixa então é fechada, virada ao contrário e depois
reaberta, de modo que as mar cas no lado interno das peças tornem-se visíveis.
c. Os achados são r egistrados de maneira simples e cumulativa em um gráfi co circular.
d. Cada uma das três formas de discr omatismo é carac-terizada por uma falha em um meridiano específi co do quadro ( Fig. 15.8 ).
5. O teste de discriminação de matizes Farnsworth D15 é similar ao teste de Farnsworth-Munsell de 100 matizes, mas utiliza apenas 15 peças.
DISTROFIAS GENERALIZADAS DE FOTORRECEPTORES
Retinite pigmentosa típica
A retinite pigmentosa (RP) defi ne um grupo clínica e geneti-camente diverso de distrofi as retinianas difusas, que inicial-mente afetam pr edominantemente os bastonetes com subsequente degeneração dos cones (distr ofi a bastonetes- cones). É a distr ofi a hereditária de fundo mais comumente encontrada, com prevalência de aproximadamente 1:5.000.
Herança A idade de apar ecimento, a velocidade de pr ogressão, a perda visual eventual e características ocular es associadas estão frequentemente relacionadas ao modo de herança. A RP pode ocorr er como uma doença esporádica isolada, ou ser herdada como AD, AR ou XL. Muitos casos decorrem de mutação no gene da r odopsina. A forma XL é a menos
comum, porém mais grave, e pode resultar em cegueira total na 3ª ou 4ª décadas de vida. As mulheres portadoras podem apresentar fundo normal ou mostrar um r efl exo dou-rado-metálico na mácula ( Fig. 15.9A ) e/ou pequena pigmen-tação periférica em espículas ósseas ( Fig. 15.9B ). A RP, geralmente atípica, pode estar também associada a doenças sistêmicas que são predominantemente AR (ver a seguir).
A
B
C
D
Fig. 15.7 Testes de visão de cores. (A) Ishihara; (B) Hardy-Rand-Rittler; (C) City University; (D) Teste das 100 matizes de Farnsworth-Munsell (Cortesia de T Waggoner — fi g. B)
C0075.indd 651C0075.indd 651 5/22/12 10:53:31 AM5/22/12 10:53:31 AM

652Oftalmologia Clínica
Diagnóstico Os critérios diagnósticos para RP compreendem acometi-mento bilateral, com per da de visão periférica e noturna. A tríade clássica da RP é: (a) atenuação arteriolar , (b) pigmentação retiniana em espículas ósseas e (c) palidez de disco óptico .
1. A apresentação é com nictalopia, geralmente entr e as 2ª e 3ª décadas, mas pode ser mais pr ecoce ou mais tar dia dependendo da linhagem.
2. Sinais em ordem cronológica: • Atrofi a de EPR sutil na média periferia associada a
discreto estreitamento arteriolar, além de alterações pigmentárias (espículas ósseas) intrarr etinianas peri-vasculares na média periferia ( Fig. 15.10A ).
590
585
580
575
570
565
555550
545540
530520
510505
500595 490
485
430
475
470
460445
14131211109876
5
43
610 633600
2
R
22
4 4688
88010
1214
1618
202224262830
3234
3638
303224 34
RP70
68
6466
6260
5858
545250
16741210
BG
B
PB
6 48
G
GY
YB
590
585
580
575
570
565
555550
545540
530520
510505
500595 490
485
430
475
470
460
445
14131211109876
5
43
610 633600
2
R
22
4 4688
88010
1214
1618
2022242628303234
3638
303224 34
RP70
68
6466
6260
5858
5452
50
16741210
BG
B
PB
6 48
G
GY
YB
590
585
580
575
570
565
555550
545540
530520
510505
500595 490
485
430
475
470
460445
14131211109876
5
43
610 633600
2
R
22
4 4688
88010
1214
1618
2022242628303234
3638
3032 24 34
RP70
68
6466
6260
5858
545250
16741210
BG
B
PB
6 48
G
GY
YB
A
B
C
Fig. 15.8 Resultados das defi ciências de cores do teste de Farnsworth-Munsell. (A) Protano; (B) deuterano; (C) tritano
A
B
Fig. 15.9 Achados em portadores de retinite pigmentosa XL. (A) Refl exo “tapetal”na mácula; (B) alterações pigmentárias na média periferia (Cortesia de D Taylor e CS Hoyt, de Pediatric Ophthalmology and Strabismus,
Elsevier, Saunders, 2005 — fi g. A)
C0075.indd 652C0075.indd 652 5/22/12 10:53:38 AM5/22/12 10:53:38 AM

653Distrofi as Hereditárias de Fundo 15C A P Í T U L O
• Aumento gradual na densidade das alterações pig-mentárias, com disseminação anterior e posterior ( Fig. 15.10B ).
• Fundo de olho com aparência em mosaico, devido à atrofi a do EPR com exposição dos grandes vasos da coroide ( Fig. 15.10C ).
• Estreitamento arteriolar importante e palidez dos discos ópticos ( Fig. 15.10D ).
• A mácula pode apresentar atrofi a, formação de mem-brana epirretiniana e edema macular cistoide; este último pode responder à acetazolamida sistêmica.
3. Nos estágios precoces da RP, o ERG mostra diminuição das respostas combinadas e escotópicas dos bastonetes ( Fig. 15.11 ); mais tarde as respostas fotópicas diminuem e eventualmente o ERG pode se tornar extinto.
4. O EOG é subnormal, com ausência da elevação pela luz.
5. A adaptação ao escuro ( AE ) é pr olongada e este teste pode ser útil em casos iniciais onde o diagnóstico é incerto.
6. A perimetria demonstra inicialmente pequenos escoto-mas na média periferia que coalescem gradualmente para formar o clássico escotoma anular, que se expande central e perifericamente. Com a evolução, r esta apenas uma pequena ilha de visão central que pode eventualmente ser extinta. A perimetria é útil no monitoramento da pro-gressão da doença.
7. O prognóstico é variável e tende a estar associado ao modo de herança: • A doença ligada ao X tem o pior pr ognóstico, com
perda visual grave por volta da 4ª década. • A doença AR e casos esporádicos têm prognóstico
mais favorável, com visão central pr eservada até a 5ª ou 6ª décadas ou mais.
BA
C D
Fig. 15.10 Progressão da retinite pigmentosa. (A) Alterações precoces; (B) alterações avançadas; (C) desmascaramento dos vasos da coroide; (D) estágio fi nal da doença (Cortesia de P Saine — fi g. A)
C0075.indd 653C0075.indd 653 5/22/12 10:53:44 AM5/22/12 10:53:44 AM

688Oftalmologia Clínica
INTRODUÇÃO
Anatomia da retina periférica
Pars plana O corpo ciliar começa a 1 mm do limbo e se estende poste-riormente por cerca de 6 mm. Os primeiros 2 mm consistem na pars plicata e os 4 mm restantes compreendem a pars plana aplanada. Para não colocar em risco o cristalino ou a r etina, a localização ideal de uma incisão cirúr gica na pars plana é a 4 mm do limbo em olhos fácicos e a 3,5 mm do limbo em olhos pseudofácicos.
Ora serrata A ora serrata é a junção entr e a retina e o corpo ciliar , carac-terizada pelos seguintes fatores ( Fig. 16.1 ):
1. Os processos denteados são extensões em forma de dente da retina sobre a pars plana; eles são mais evidentes na região nasal do que na temporal, e podem apr esentar variação extrema no contorno.
2. Baías da ora são as bordas onduladas do epitélio da pars plana entre os processos denteados.
3. A prega meridional é uma pequena dobra radial de tecido retiniano espessado alinhado com um pr ocesso denteado, geralmente localizada no quadrante nasal superior ( Fig. 16.2A ). A prega pode, ocasionalmente, exibir um pequeno buraco r etiniano no seu ápice. Um complexo meridional é uma confi guração em que um
processo denteado, geralmente com uma pr ega meridio-nal, é alinhado com um pr ocesso ciliar.
4. A baía da ora inclusa é uma pequena ilha de pars plana circundada por r etina como r esultado do encontr o de dois processos denteados adjacentes ( Fig. 16.2B ). Ela não deve ser confundida com buraco retiniano, pois está loca-lizada anteriormente à ora serrata.
5. Tecido granular caracterizado por múltiplas opacida-des brancas e pequenas dentr o da base vítrea, pode, às vezes, ser confundido com pequenos opér culos periféri-cos ( Fig. 16.2C ).
Na ora, a fusão da retina sensorial com o epitélio pigmen-tar da retina (EPR) e a cor oide limita a extensão adiante do líquido sub-retiniano. Entretanto, como não há uma adesão equivalente entre a cor oide e a esclera, descolamentos de coroide podem progredir em direção anterior para envolver o corpo ciliar (descolamento ciliocoróideo).
Base do vítreo A base do vítreo é uma zona de 3-4 mm de largura, costeando a ora serrata ( Fig. 16.3 ). Uma incisão através da parte média da pars plana geralmente irá localizar -se em região anterior à base do vítr eo. O vítreo cortical está fortemente aderido à base do vítreo, de modo que, após um descolamento poste-rior do vítreo (DPV) agudo, a superfície hialoide posterior permanece aderida à bor da posterior da base do vítr eo. Buracos retinianos preexistentes dentro da base do vítreo não levam ao descolamento de r etina (DR). Um trauma contuso grave pode causar avulsão da base do vítr eo, com ruptura do epitélio não pigmentado da pars plana ao longo da sua borda anterior e da r etina ao longo da sua bor da posterior.
Ora serratanasal
Artéria
ciliar longa
Veia
vorticosaNervos ciliares
curtos
Degeneração
microcistoide
Mácula
Nervos ciliares
curtos
Ora serratatemporal
Ampola
verticosa
Nervo ciliar
longo
Artérias
ciliares curtas
Fig. 16.1 A ora serrata e os marcos anatômicos normais
C0080.indd 688C0080.indd 688 5/22/12 11:48:41 AM5/22/12 11:48:41 AM

689Descolamento de Retina 16C A P Í T U L O
Degenerações inócuas periféricas da retina
A retina periférica se estende do equador até a ora serrata e pode mostrar as seguintes lesões inócuas:
1. A degeneração microcistoide consiste em mínimas vesí-culas com limites impr ecisos em um fundo branco-acin-zentado, que faz a r etina parecer espessada e menos transparente ( Fig. 16.4A ). A degeneração sempre se inicia adjacente à ora serrata e se estende cir cunferencial e pos-teriormente, com uma borda posterior ondulada e lisa. A degeneração microcistoide está pr esente em todos os olhos adultos, aumentando em gravidade com a idade, e não tem, por si própria, r elação de causa com o DR, embora possa originar a r etinosquise.
2. A degeneração em pedra de calçamento é caracterizada por discretas placas de atr ofi a coriorretiniana focal branco-amareladas, que estão pr esentes em algum grau em 25% dos olhos normais ( Fig. 16.4B ).
3. A degeneração em favo de mel (reticular) é uma altera-ção relacionada com a idade, caracterizada por uma fi na rede de pigmentação perivascular, que pode estender -se posteriormente ao equador ( Fig. 16.4C ).
4. Drusas periféricas são caracterizadas por aglomerados de pequenas lesões pálidas, que podem ter bor das hiperpigmentadas ( Fig. 16.4D ). São semelhantes às drusas no polo posterior e geralmente ocorrem em indi-víduos idosos.
Defi nições
Descolamento de retina O descolamento de retina (DR) descreve a separação entre a retina neurossensorial (RNS) e o epitélio pigmentar da retina (EPR). Isso r esulta em acúmulo de líquido sub-r etiniano (LSR) no espaço potencial entre a RNS e o EPR. Os principais tipos de DR são:
1. Regmatogênico ( rhegma — ruptura), que ocorre de modo secundário a um defeito de toda a espessura da r etina sensorial, o qual possibilita que líquido derivado do gel vítreo sinquítico (liquefeito) ganhe acesso ao espaço sub-retiniano.
2. Tracional , no qual a RNS é puxada do EPR pela contração de membranas vitr eorretinianas na ausência de uma ruptura retiniana.
3. Exsudativo (seroso, secundário), que não é pr ovocado por ruptura nem por tração; o LSR é derivado do fl uido dos vasos da RNS ou da cor oide, ou de ambos.
4. Tracional-regmatogênico combinado , que, como o nome indica, é o resultado de uma combinação de uma ruptura retiniana e tração na r etina. A ruptura na retina é provo-cada por tração de uma ár ea adjacente de pr oliferação fi brovascular e é mais comumente observada na r etino-patia diabética proliferativa avançada.
Adesões vítreas 1. Normal. O vítreo cortical periférico está aderido fr ouxa-
mente à membrana limitante interna (MLI) da r etina sensorial. Adesões mais fortes ocorr em nos seguintes locais: • Na base do vítreo, na qual são muito fortes (ver ante-
riormente). • Em torno da cabeça do nervo óptico, em que são
razoavelmente fortes. • Em volta da fóvea, em que são razoavelmente fracas,
exceto em olhos com tração vitreomacular e formação de buraco macular.
• Ao longo dos vasos retinianos periféricos, em que são geralmente fracas.
2. Adesões anormais nos seguintes locais podem estar asso-ciadas à formação de rupturas retinianas como resultado de tração vitreorretiniana dinâmica em olhos com DPV agudo. • Borda posterior de ilhas de degeneração em paliçada
(lattice) . • Acúmulos de pigmento retiniano. • Condensações paravasculares periféricas. • Anomalias da base vítr ea, como extensões em forma
de língua e ilhas posterior es. • “Branco com pr essão” e “branco sem pr essão” (ver
adiante).
A B C
Fig. 16.2 Variantes normais da ora serrata. (A) Prega meridional com um pequeno buraco retiniano em sua base; (B) baía da ora inclusa; (C) tecido granular
Parsplicata
Parsplana
Base
vítrea
Fig. 16.3 A base vítrea
C0080.indd 689C0080.indd 689 5/22/12 11:48:47 AM5/22/12 11:48:47 AM

690Oftalmologia Clínica
Tração vitreorretiniana A tração vitreorretiniana é a força exercida sobre a retina por estruturas originadas no vítreo, e pode ser dinâmica ou está-tica. A diferença entre as duas é cr ucial para a compreensão da patogênese dos vários tipos de descolamento de r etina.
1. A tração dinâmica é induzida pelos movimentos oculares e exerce uma força centrípeta em dir eção à cavidade vítrea. Ela tem um importante papel na patogênese das rupturas retinianas e do DR r egmatogênico.
2. A tração estática é independente dos movimentos ocula-res. Tem um papel-chave na patogênese do DR tracional e da vitreorretinopatia proliferativa.
Descolamento posterior do vítreo O descolamento posterior do vítr eo (DPV) é uma separação do vítreo cortical da membrana limitante interna (MLI) da RNS posterior até a base do vítr eo. O DPV pode ser classifi -cado de acordo com as seguintes características:
A B
C D
Fig. 16.4 Degenerações inócuas periféricas da retina. (A) Microcistoide visualizada na indentação escleral; (B) pedra de calçamento; (C) favo de mel (reticular) (D) drusas (Cortesia de U Rutnin, CL Schepens, de American Journal of Ophthalmology 1967; 64: 1042 — fi g. A)
C0080.indd 690C0080.indd 690 5/22/12 11:48:49 AM5/22/12 11:48:49 AM

691Descolamento de Retina 16C A P Í T U L O
1. Início. O DPV agudo é, de longe, o mais comum. Desen-volve-se subitamente e, em geral, torna-se completo br e-vemente após o início. O DPV crônico ocorre gradualmente e pode levar semanas ou meses para tornar -se completo.
2. Extensão. a. DPV completo , no qual todo o córtex do vítr eo se
descola até a margem posterior da base do vítr eo. b. DPV incompleto , no qual ligações vitr eorretinianas
residuais permanecem posteriores à base do vítr eo.
O DR r egmatogênico é, geralmente, associado ao DPV agudo; o DR tracional é associado ao DPV incompleto crônico; o DR exsudativo não é r elacionado com a presença de DPV.
Rupturas retinianas Uma ruptura retiniana é um defeito de toda a espessura da retina sensorial. Rupturas podem ser classifi cadas de acordo com: (a) patogênese , (b) morfologia e (c) localização .
1. Patogênese a. Rupturas são provocadas por tração vitr eorretiniana
dinâmica; ocorrem, mais fr equentemente, no fundo de olho superior (mais temporal do que nasal).
b. Buracos são provocados por atrofi a crônica da r etina sensorial e podem ser r edondos ou ovais. Ocorr em, mais frequentemente, na metade do fundo de olho temporal (mais superior do que inferior).
2. Morfologia a. Rupturas em U (em ferradura, aba ou ponta de fl echa)
consistem em uma aba, cujo ápice é puxado anterior -mente pelo vítreo, com a base permanecendo aderida à retina ( Fig. 16.5A ). A ruptura propriamente dita consiste nas duas extensões anterior es (cornos) que vêm do ápice.
b. Rupturas em U incompletas , que podem ser linear es ( Fig. 16.5B ), em forma de L ( Fig. 16.5C ) ou em forma de J, são frequentemente paravasculares.
c. Rupturas operculadas, nas quais a aba está completa-mente desprendida da retina pelo gel vítreo descolado ( Fig. 16.5D ).
d. Diálises são rupturas circunferenciais ao longo da ora serrata , com gel vítreo aderido às suas margens poste-riores ( Fig. 16.5E ).
e. Rupturas gigantes envolvem 90° ou mais da cir cunfe-rência do globo. Elas são localizadas mais fr equente-mente na r etina pós-oral ( Fig. 16.6A ) ou, menos comumente, no equador. As rupturas gigantes são uma
variante das rupturas em forma de U, com o gel vítreo aderido à margem anterior da ruptura ( Fig. 16.6B ).
3. Localização a. Rupturas orais estão localizadas dentr o da base do
vítreo. b. Rupturas pós-orais estão localizadas entr e a bor da
posterior da base do vítr eo e o equador. c. Rupturas equatoriais estão no equador ou perto
dele. d. Rupturas pós-equatoriais estão atrás do equador. e. Rupturas maculares (invariavelmente buracos) estão
na fóvea.
A
B
C
D
E
Fig. 16.5 Rupturas retinianas. (A) Em forma de U completo; (B) linear; (C) em forma de L; (D) operculada; (E) diálise
A
B
Fig. 16.6 (A) Ruptura gigante retiniana envolvendo a retina imediatamente pós-oral; (B) o córtex vítreo está aderido à margem anterior da ruptura (Cortesia de C L Schepens, M E Hartnett e T Hirose, de Schepens’ Retinal Detachment and Allied Diseases, Butterworth-Heinemann, 2000)
C0080.indd 691C0080.indd 691 5/22/12 11:49:03 AM5/22/12 11:49:03 AM

692Oftalmologia Clínica
Exame clínico
Oftalmoscopia indireta com fi xação na cabeça 1. Princípios. A oftalmoscopia indir eta fornece uma visão
estereoscópica do fundo do olho. A luz emitida pelo ins-trumento é transmitida para o fundo de olho através de uma lente condensadora mantida no ponto focal do olho, propor-cionando uma imagem invertida e lateralmente r eversa do fundo de olho ( Fig. 16.7A ). Esta imagem é observada por meio de um sistema especial de visualização no oftalmos-cópio. À medida que a potência da lente condensadora diminui, a distância de trabalho e a ampliação aumentam, mas o campo de visão é r eduzido, e vice-versa.
2. Lentes condensadoras de diversas potências e diâmetros variados estão disponíveis para oftalmoscopia indir eta ( Fig. 16.7B ). • 20 D (ampliação 3 × ; campo de apr oximadamente
45°) é a mais comumente utilizada para o exame geral do fundo de olho.
• 25 D (ampliação 2,5 × ; campo de apr oximadamente 50°).
• 30 D (ampliação 2 × ; campo de 60°) tem uma distân-cia de trabalho mais curta e é útil para exame de pacientes com pupilas pequenas.
• 40 D (ampliação 1,5 × ; campo de apr oximadamente 65°), principalmente utilizada para exame de crianças pequenas.
• Panretinal 2,2 (ampliação 3 × ; campo de aproximada-mente 55°).
3. Técnica a. Ambas as pupilas são dilatadas com tropicamida a 1%
e, se necessário, fenilefrina a 2,5%, para evitar que elas
se contraiam quando expostas à luz brilhante durante o exame.
b. O paciente deve estar em decúbito dorsal, sobr e um tra-vesseiro ( Fig. 16.8 ), em uma cama ( Fig. 16.8 ), cadeira reclinável ou sofá, e não sentado, er eto, em uma cadeira.
c. A sala de exame é escur ecida. d. As oculares são ajustadas à correta distância interpu-
pilar e o feixe luminoso é alinhado de tal modo que se localize no centro do campo de visão.
e. O paciente é instr uído a manter ambos os olhos abertos o tempo todo.
A
B
Fig. 16.7 (A) Princípios de oftalmoscopia indireta; (B) lentes condensadoras
Fig. 16.8 Posição do paciente durante a oftalmoscopia indireta
C0080.indd 692C0080.indd 692 5/22/12 11:49:07 AM5/22/12 11:49:07 AM